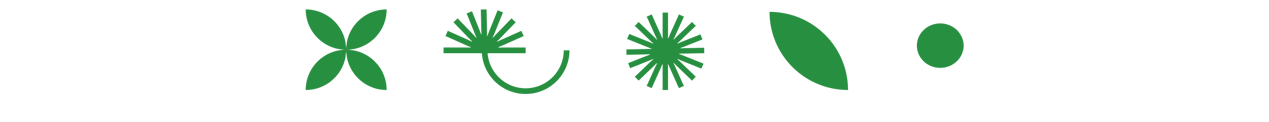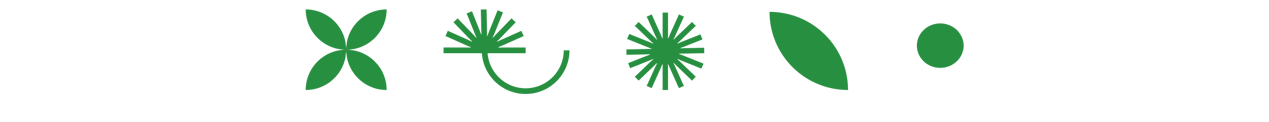Programa - Comunicação Oral - CO3.3 - Enfrentando os Impactos de Agrotóxicos e Desastres Hidrológicos no Brasil
02 DE DEZEMBRO | TERÇA-FEIRA
15:00 - 16:30
OS IMPACTOS DO USO DE 2,4-D NA SAÚDE DA POPULAÇÃO
Comunicação Oral
1 UFFS
Período de Realização
Dia 26/05/25 no campus Erechim da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS)
Objeto da experiência
Debate da Assembleia Legislativa sobre o uso de herbicidas com 2,4-D nas lavouras do Rio Grande do Sul
Objetivos
Retomar o Parecer Técnico apresentado à ANVISA sobre os riscos para a saúde associados ao uso de 2,4-D. Documento elaborado pelo Grupo de Estudos em Agrobiodiversidade do Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário, com apoio do CEBES e da ABRASCO.
Descrição da experiência
A Saúde Coletiva da UFFS se posicionou na defesa da saúde, da vida e da democracia. Os perigos à saúde da população estão associados à alta toxicidade do 2,4-D, cujos efeitos diretos ocorrem na dimensão individual e coletiva (social/ambiental/laboral). Essa manifestação elucidou os riscos à Saúde em um fórum que estava tratando exclusivamente da questão agrícola e mercadológica, desconsiderando os efeitos no organismo humano, nos trabalhadores (as) do campo e na contaminação do solo, ar e águas.
Resultados
A apresentação de dados científicos do uso de 2,4-D que impactam diretamente na saúde da população foi relevante para sensibilizar os legisladores diante da realidade social que a questão carrega, como os efeitos carcinogênicos, neurotóxicos, hepatotóxicos, teratogênicos, genotóxicos, mutagênicos, além dos riscos coletivos gerados pela inalação de partículas aéreas pelos trabalhadores e exposição à pulverização através do aumento de doenças crônicas causadas por intoxicações e transtornos mentais.
Aprendizado e análise crítica
A ciência mundial comprova largamente os riscos deste produto químico para a população, bem como para o meio ambiente, e é uma questão de direitos humanos e justiça climática. O debate realizado nesta Audiência Pública evidenciou a necessidade de proibir esse agrotóxico por ser altamente tóxico, causar danos à saúde humana e à natureza, sendo que existem outras tecnologias não tóxicas para o manejo da produção agrícola de alimentos na perspectiva agroecológica e sustentável.
Conclusões e/ou Recomendações
As dimensões individual e coletiva são dois aspectos do mesmo fenômeno que precisam ser analisados em conjunto das questões agrícolas e mercadológicas referentes aos produtos provenientes das lavouras do Rio Grande do Sul. As pesquisas científicas nacionais e internacionais sugerem a proibição do 2,4-D. É preciso atender o Princípio da Precaução da ciência e considerar os riscos à saúde e à vida.
POLUIÇÃO POR AGROTÓXICOS EM ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM MUNICÍPIO DE MATO GROSSO
Comunicação Oral
1 UFMT
2 Ministério da Saúde
Apresentação/Introdução
A atividade produtiva do agronegócio no território mato-grossense gera, entre outros impactos, a contaminação ambiental, alimentar e humana por resíduos químicos de agrotóxicos. A presença de resíduos de agrotóxicos em água para consumo representa um processo crítico à saúde humana devido a exposição e intoxicação crônica silenciosa, necessitando pesquisas e monitoramento participativo.
Objetivos
Identificar resíduos de agrotóxicos presentes na água para consumo humano em territórios com atividades produtivas do agronegócio no estado de Mato Grosso
Metodologia
O estudo faz parte no projeto “Promoção de Territórios Saudáveis e Sustentáveis em Mato Grosso”. Foram eleitos como territórios para coleta de água municípios de quatro regiões econômicas mato-grossenses: Campo Novo do Parecis, Rondonópolis, Querência, e Chapada dos Guimarães. Definiu-se pontos amostrais em regiões urbanas, rurais e industriais. As coletas foram realizadas entre de julho e agosto de 2024, nas saídas mais próximas da bomba de cada poço ou tanque de armazenamento, em vidro âmbar de 1l e tubos Falcon de 50 ml, sendo enviadas ao Laboratório de Análise de Resíduos de Pesticidas da Universidade Federal de Santa Maria para a análise multirresíduo de agrotóxicos e de glifosato/AMPA.
Resultados
Das 10 amostras coletadas, 9 apresentaram resíduos de agrotóxicos, sendo 12 ingredientes ativos (IA) detectados, entre eles 8 foram quantificados. Considerando a Portaria GM/MS Nº 888/2021, a quantidade e a concentração de 2,4-D e Tiametoxam detectados estão dentro do volume máximo permitido (VMP), sendo que os demais IAs não são regulados. Ao utilizar a legislação da União Europeia (UE) como referência todas as amostras estão em desacordo com a legislação, pois os IAs imazapique, imidacloprido, fipronil, mefosfolan, saflufenacil e tiametoxam estão proibidos na região.
Conclusões/Considerações
A coleta e análise de resíduos de agrotóxicos em água realizadas apontam para um processo de contaminação sistêmica do ambiente, vulnerabilizando a população e os(as) trabalhadores(as) aos danos provocados pelos agrotóxicos utilizados nos processos produtivos nos territórios estudados. Recomenda-se políticas públicas que eliminem e reduzam a exposição aos agrotóxicos e alterem os processos produtivos do agronegócio.
A REDE DE HORTOS AGROFLORESTAIS MEDICINAIS BIODINÂMICOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (DF) COMO INOVAÇÃO NO ÂMBITO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SAÚDE.
Comunicação Oral
1 Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal
2 Fundação Oswaldo Cruz
Período de Realização
A experiência teve início no primeiro semestre de 2018 e segue em desenvolvimento até hoje.
Objeto da experiência
O objeto é a institucionalização da Rede de Hortos Agroflorestais Medicinais Biodinâmicos (RHAMB) da Secretaria de Estado de Saúde do DF (SES/DF).
Objetivos
Objetivo Geral: Relatar o processo de criação/institucionalização dos Hortos Agroflorestais Medicinais Biodinâmicos (HAMB). Específicos: 1) Relatar os ciclos de implementação dos HAMB; 2) Analisar o HAMB como equipamento público de saúde que atua como dispositivo técnico assistencial para o cuidado.
Metodologia
A RHAMB promove cultivos comunitários sob os princípios da agroecologia, dos sistemas agroflorestais sucessionais e da biodinâmica. São voltados à pesquisa, inovação, educação em saúde, nutricional e ambiental, em prol do fortalecimento do vínculo comunidade com os serviços e entre as pessoas. Há prestação de vários serviços ambientais, e cultivo de plantas medicinais, alimentícias convencionais e não convencionais, adubadeiras, paisagísticas madeireiras e nativas no Sistema Único de Saúde.
Resultados
O ciclo da RHAMB envolve gestores e trabalhadores dos níveis central, regional e local, nas 7 regiões de saúde do DF. Desde 2021 foram implantados mais 30 HAMB com o apoio da Fiocruz, por meio de educação permanente, para qualificar profissionais, principalmente da SESDF. Atualmente há 28 HAMB em serviços públicos, 3 em iniciativas comunitárias e 12.000m2 foram recuperados. Por ano, em média, 12 novos HAMB são implantados e cerca de 40 profissionais são capacitados na tecnologia para o cuidado.
Análise Crítica
Os HAMB promovem cultivos comunitários sob os princípios da agroecologia, dos sistemas agroflorestais sucessionais e da biodinâmica. São voltado à pesquisa, inovação, educação em saúde, nutricional e ambiental, em prol do fortalecimento do vínculo comunidade com os serviços e entre as pessoas. Há prestação de vários serviços ambientais, e cultivo de plantas medicinais, alimentícias convencionais e não convencionais, adubadeiras, paisagísticas madeireiras e nativas no Sistema Único de Saúde.
Conclusões e/ou Recomendações
O HAMB é um equipamento de saúde que atua enquanto tecnologia social eficiente para promover educação em saúde e ambiental nas comunidades. Promove autonomia a partir de uma perspectiva de cuidado emancipador em prol de que as pesoas possam desenvolver a capacidade de cultivar alimentos frescos e saudáveis em integração com o ambiente. Porém, fortalecer a realização de atividades coletivas pelos servidores da SES/DF ainda é um grande desafio.
PROMOÇÃO EMANCIPATÓRIA EM SAÚDE E JUSTIÇA AMBIENTAL: MAPEAMENTO DE FAMÍLIAS ATINGIDAS POR UMA GRANDE OBRA HÍDRICA EM UM TERRITÓRIO RURAL NO CEARÁ
Comunicação Oral
1 FIOCRUZ - CE
2 Fiocruz-CE
3 URCA
4 Casa de Farinha Mestre José Gomes
Período de Realização
Outubro de 2024 a maio de 2025, com ações contínuas no território do Baixio das Palmeiras, Crato -CE
Objeto da experiência
Mapeamento participativo e georreferenciado de famílias atingidas pela obra do Cinturão das Águas, em comunidade rural vulnerabilizada no Ceará.
Objetivos
mapear e acompanhar famílias afetadas por injustiça ambiental provocada por grande obra hídrica no interior do Ceará, articulando ações de promoção da saúde emancipatória e mobilização comunitária entre a Estratégia de Saúde da Família (ESF), universidades, movimentos sociais e lideranças locais.
Metodologia
A experiência consistiu no mapeamento participativo de famílias atingidas pela obra do Cinturão das Águas do Cariri (CAC) no território do Baixio das Palmeiras. Realizado por profissionais da ESF e residentes do Programa Multiprofissional em Saúde Coletiva da Universidade Regional do Cariri, (PRMSC URCA),utilizou ferramentas de georreferenciamento construídas a partir do diálogo com lideranças, fortalecendo estratégias de cuidado e resistência comunitária frente às injustiças socioambientais.
Resultados
Foram mapeadas 25 famílias diretamente impactadas, com relatos de adoecimento mental, alcoolismo, deslocamentos forçados, desterritorialização e ruptura de contato com serviços de saúde da ESF. A experiência fortaleceu vínculos e vigilância popular em saúde, entre comunidade, equipe de saúde e universidade, incentivando práticas integradas de escuta, planejamento coletivo, cuidado territorial e mobilização social frente aos danos ambientais e às omissões estatais.
Análise Crítica
Evidenciou-se que a ESF, fortalecida com a educação popular, integração ensino-serviço-comunidade e processos participativos em diálogo com as necessidades emergentes das comunidades, pode promover cuidado emancipatório em territórios de injustiça ambiental. Ainda há fragilidades no entendimento e envolvimento de alguns profissionais da ESF, na valorização dos saberes do território e na superação do modelo biomédico centrado na prescrição, fragmentação da atenção e processos enrijecidos.
Conclusões e/ou Recomendações
É urgente articular políticas públicas intersetoriais que reconheçam conflitos e injustiças socioambientais na determinação social da saúde, orientadas pela promoção emancipatória em saúde. Reivindica-se a sensibilização do Estado aos modos de vida comunitários, a defesa de direitos territoriais e o fortalecimento da vigilância popular. À ESF, cabe a análise crítica que resulte em práticas sensíveis e resolutivas às demandas locais.
PLANO DE CONTINGÊNCIA E MAPEAMENTO DE RISCO DE DESASTRE HIDROLÓGICO EM UNIDADES DE SAÚDE PRIORITÁRIAS DO RIO ACARI – ÁREA PROGRAMÁTICA (AP) 3.3, RIO DE JANEIRO.
Comunicação Oral
1 Secretaria Municipal de Saúde - RJ
Período de Realização
Janeiro de 2024 a Maio de 2025, com etapas de planejamento, execução e sistematização de dados.
Objeto da experiência
Mapeamento de risco hidrológico e elaboração de plano de contingência na CF Marcos Valadão e CMS Fazenda Botafogo.
Objetivos
Identificar áreas de risco de desastre hidrológico em unidades prioritárias ao longo do Rio Acari e elaborar um plano de contingência participativo, visando a redução de danos, a proteção da população vulnerável e a integração das equipes técnicas de vigilância e gestão territorial.
Metodologia
A experiência consistiu em ações da Unidade de Resposta Rápida (URR) e da equipe de Risco Não Biológico da AP 3.3 para o mapeamento técnico e comunitário das áreas sob risco hidrológico nas unidades prioritárias do Rio Acari. Foram feitas visitas técnicas, levantamento geográfico e social, reuniões com lideranças e construção de plano de contingência, incluindo alertas, pontos de apoio e definição de responsabilidades institucionais.
Resultados
Houve mapeamento dos pontos com alto risco hidrológico, caracterização da população vulnerável e definição de pontos de apoio. O plano de contingência foi construído com participação do conselho distrital. Criou-se um grupo de WhatsApp com líderes comunitários, agentes de saúde e Defesa Civil para alertas em dias de chuva. A experiência fortaleceu o vínculo entre vigilância e território e ampliou a percepção de risco nas comunidades.
Análise Crítica
A experiência demonstrou que a construção coletiva é essencial à efetividade dos planos de contingência. A escuta ativa da comunidade e o reconhecimento do saber local foram fundamentais. Houve desafios em áreas com histórico de negligência institucional. Identificou-se a necessidade de trocar pontos de apoio devido ao risco de alagamento. A integração intersetorial mostrou-se necessária, mas demanda institucionalização. A atuação técnica das equipes da atenção primária foi um ponto forte.
Conclusões e/ou Recomendações
Recomenda-se a ampliação da estratégia para outras áreas de risco da AP 3.3, com priorização da metodologia participativa. É essencial garantir formação contínua das equipes e articulação entre saúde, defesa civil e assistência social. A valorização do conhecimento territorial da população e a presença constante do poder público são fundamentais para consolidar uma resposta efetiva a desastres.
DESIGUALDADES EM SAÚDE FRENTE A DESASTRES HIDROLÓGICOS: EVIDÊNCIAS PARA A JUSTIÇA AMBIENTAL NO BRASIL
Comunicação Oral
1 CIDACS
2 UFBA
3 LSHTM
Apresentação/Introdução
As mudanças climáticas intensificam desastres hidrológicos, afetando a saúde e a infraestrutura urbana. No Brasil, eventos como enchentes e inundações têm causado mortes e grandes perdas. Este estudo propõe um índice ex-post para quantificar perdas humanas e em saúde com base em registros oficiais.
Objetivos
Quantificar e classificar perdas humanas e em infraestrutura de saúde causadas por desastres hidrológicos no Brasil, por meio de índices e análise espaço-temporal das tendências e severidade municipal.
Metodologia
Os dados foram obtidos no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID), que reúne decretos de emergência e calamidade em municípios brasileiros entre 1991 e 2023. Para análise, aplicamos a normalização Min-Max e um método de ponderação híbrido, combinando o Processo de Hierarquia Analítica (AHP) e o método de entropia. Desenvolvemos três índices compostos: Índice de Perda Humana, de Perda em Infraestrutura de Saúde e um Índice Geral de Severidade. A classificação dos municípios foi feita por níveis de severidade, permitindo análises espaço-temporais e subsidiando políticas públicas de resposta, reconstrução e adaptação aos desastres hidrológicos.
Resultados
O estudo revela que as perdas imediatas causadas por desastres hidrológicos no Brasil estão profundamente associadas às desigualdades sociais e à fragilidade institucional, com maior impacto em municípios pequenos e vulneráveis. As regiões com maior perda humana concentram populações historicamente excluídas, como povos indígenas e comunidades em situação de extrema pobreza. Assim, é essencial que políticas públicas integradas considerem a adaptação climática, o planejamento territorial e o fortalecimento do SUS, a fim de reduzir impactos futuros, ampliar a resiliência e promover a justiça socioambiental no país.
Conclusões/Considerações
A análise revela que as perdas imediatas dos desastres hidrológicos no Brasil estão profundamente ligadas às desigualdades sociais e à fragilidade institucional, especialmente em municípios vulneráveis. Políticas públicas integradas, que considerem adaptação climática e fortalecimento do sistema de saúde, são essenciais para reduzir impactos futuros e promover justiça socioambiental.