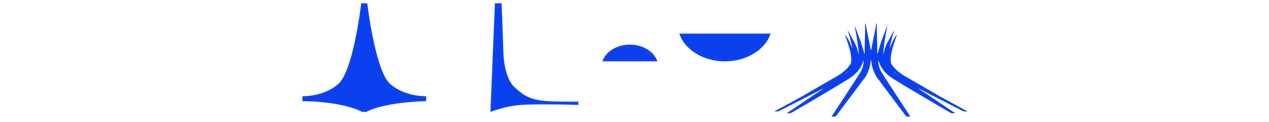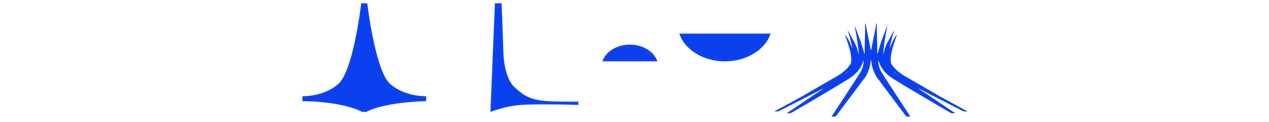Programa - Comunicação Oral - CO18.3 - Saúde Física, Nutrição e Mortalidade Infantil/Juvenil
02 DE DEZEMBRO | TERÇA-FEIRA
15:00 - 16:30
FATORES ASSOCIADOS AO ÓBITO FETAL EM SÃO PAULO, BRASIL: FETRISKS - ESTUDO DE CASO-CONTROLE MULTIDISCIPLINAR
Comunicação Oral
1 Departamento de Epidemiologia, Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo (FSP-USP), São Paulo, Brasil
2 Departamento de Medicina Preventiva, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil. Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil
3 Laboratório de Anatomia Patológica, Hospital das Clínicas HCFMUSP, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil
4 Departamento de Obstetrícia e Ginecologia, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo (FMUSP), São Paulo, Brasil.
5 Departamento de Medicina Preventiva, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil
Apresentação/Introdução
O óbito fetal representa um desafio significativo para a saúde pública, afetando mais de 2 milhões de gestações em todo o mundo a cada ano, especialmente em países de baixa e média renda. Compreender os múltiplos mecanismos causais e integrar fatores socioeconômicos, comportamentais, assistenciais e biológicos são fundamentais para reduzir a mortalidade fetal.
Objetivos
Este estudo teve como objetivo investigar os fatores de risco para o óbito fetal em São Paulo.
Metodologia
Estudo de caso-controle de base populacional que incluiu óbitos fetais (casos) e nascidos vivos (controles) de 14 hospitais públicos do município de São Paulo, entre dez/2019 e dez/2023. Os dados foram obtidos em entrevistas com as mães após o parto, cartões de pré-natal, prontuários hospitalares, fontes secundárias sobre poluição do ar, amostras de placentas e de sangue materno e do cordão umbilical para análise de biomarcadores de infecção. As razões de chances (OR) com intervalos de confiança de 95% (IC95%) foram estimadas por meio do modelo de regressão logística em três blocos de variáveis (distal, intermediário e proximal).
Resultados
O estudo incluiu 401 óbitos fetais e 419 nascidos vivos. Entre os óbitos fetais, 348 (86,8%) foram anteparto e 53 (13,2%) intraparto. O modelo final, que inclui as variáveis dos três blocos, identificou fatores de risco significantes para óbito fetal, como a ausência de parceiro (OR = 1,76; IC 95%: 1,15-2,68), tabagismo durante a gestação (OR = 1,94; IC 95%: 1,10-3,47), acesso inadequado ao pré-natal (OR = 2,15; IC 95%: 1,38-3,39), hiperglicemia (OR = 1,91; IC 95%: 1,21-3,03) e fatores proximais, como a presença de lesões placentárias (OR = 3,15; IC 95%: 2,20-4,52), restrição de crescimento fetal (OR = 6,16; IC 95%: 3,76-10,4) e malformações congênitas (OR = 4,25; IC 95%: 2,42-7,67).
Conclusões/Considerações
Este estudo identificou fatores maternos e fetais associados ao risco de óbito fetal. Estratégias programáticas devem priorizar o apoio a gestantes sem parceiro, ampliar o acesso ao pré-natal para a detecção precoce de condições como hiperglicemia, desencorajar comportamentos de risco, como tabagismo, e assegurar o monitoramento de alterações placentárias e do crescimento fetal.
MORTALIDADE DAS CRIANÇAS MENORES DE CINCO ANOS NA GUINÉ-BISSAU, 1990 E 2021
Comunicação Oral
1 UFJF
Apresentação/Introdução
Guiné-Bissau, localizado na África Ocidental, enfrenta desafios socioeconômicos e limitações nos serviços de saúde. A avaliação da taxa de mortalidade de menores de 5 anos (TMM5) neste país é fundamental, pois reflete condições de vida, qualidade de atenção e monitoramento de políticas públicas sociais e de saúde, contribuindo para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Objetivos
O estudo tem como objetivo avaliar a mortalidade das crianças menores de cinco anos, geral e por causas específicas, em Guiné-Bissau entre 1990 e 2021.
Metodologia
Análise baseada em dados do estudo Carga Global de Doenças 2021 (GBD 2021) na Guiné-Bissau, no período de 1990 a 2021. A população de estudo incluiu crianças menores de cinco anos, e as variáveis analisadas foram o Índice Sociodemográfico (SDI) como variável independente, refletindo as condições sociais e demográficas, e a taxa de mortalidade de menores de cinco anos (TMM5) como variável dependente. Foram descritos as estimativas de SDI e TMM5 para os anos de 1990 e 2021, com intervalo de incerteza de 95% (II95%) e sua variação percentual no período. A análise foi realizada utilizando o programa R versão 4.4.1.
Resultados
A TMM5 teve uma redução de 69,5% (II95%: 67,9%; 71,2%), de 198,9 óbitos por mil nascidos vivos em 1990 para 60,6 em 2021, enquanto o SDI teve aumento de 66,6%. A redução foi maior na faixa de 1 a 4 anos (-80,3%; II95%: 79,3%; 81,2%) do que na de menores de 1 ano (-59,4%; II95%: 57,4%; 61,4%). A TMM5 teve maior redução no grupo de doenças transmissíveis, maternas, neonatais e nutricionais e de ferimentos do que no grupo de doenças não transmissíveis. A TMM5 por enterite infecciosa reduziu 87,0% (II95%: 85,9%; 88,6%), por infecções respiratórias e tuberculose reduziu 83,7% (II95%: 83,1%; 84,4%), mas por HIV/Aids e DSTs aumentou 132,6% (II95%: 38,7%; 113,7%).
Conclusões/Considerações
Apesar dos desafios estruturais e epidemiológicos, é possível obter progressos significativos na saúde das crianças menores de cinco anos com políticas públicas adequadas, investimentos em atenção primária e vigilância em saúde. Guiné-Bissau é um exemplo de que avanços substanciais na redução da mortalidade infantil podem ser alcançados mesmo em contextos de grande vulnerabilidade social.
MORTALIDADE EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM SÍNDROME DE DOWN: UM ESTUDO DE BASE POPULACIONAL NO BRASIL
Comunicação Oral
1 Instituto Gonçalo Moniz - FIOCRUZ/CIDACS
2 Faculdade de Medicina da Bahia - UFBA
3 Instituto de Saúde Coletiva - UFBA
4 London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, UK
Apresentação/Introdução
Com a mudança global dos perfis etários maternos, espera-se um aumento na proporção de nascimentos com Síndrome de Down. Embora estudos tenham documentado melhora na sobrevida ao longo do tempo, a maioria das evidências vem de países de alta renda. Em contextos de média e baixa renda, marcados por desigualdades, há uma lacuna de dados, destacando a necessidade de estudos sobre essa população.
Objetivos
Analisar o risco de mortalidade entre nascidos vivos com Síndrome de Down no Brasil, em geral e por década de nascimento.
Metodologia
Este estudo de coorte de base populacional utilizou dados de nascimentos e óbitos vinculados do Brasil, incluindo nascidos vivos de janeiro de 2001 a dezembro de 2019. A exposição foi definida como nascidos vivos com Síndrome de Down; o grupo de comparação foi composto por nascimentos sem anomalias congênitas. As razões de risco (RR) foram estimadas usando modelos de risco proporcional de Cox. Também calculamos a probabilidade de óbito usando a análise de Kaplan-Meier, estratificada por década de nascimento.
Resultados
Mais de 50 milhões de nascidos vivos foram incluídos, com 16.270 crianças registradas com Síndrome de Down. Entre elas, 52,4% nasceram de mães com 35 anos ou mais e 23,8% de mães com alto nível de escolaridade. Crianças com Síndrome de Down apresentaram um risco dez vezes maior de morte (IC 95%: 9,1-10,1) nos primeiros 15 anos de vida em comparação com aquelas sem anomalias. A mortalidade foi mais alta durante os primeiros cinco anos, especialmente entre 1 e 4 anos (RR = 26,7; IC 95%: 24,3-29,4). A probabilidade de morte não diferiu significativamente por década de nascimento.
Conclusões/Considerações
Crianças e adolescentes com Síndrome de Down no Brasil apresentaram mortalidade substancialmente maior do que seus pares sem anomalias congênitas. Além disso, os padrões de mortalidade permaneceram estáveis ao longo de duas décadas, indicando melhora limitada nos resultados de saúde para essa população e destacando lacunas persistentes no atendimento pediátrico e na equidade.
FATORES ASSOCIADOS AO USO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES ENTRE ADOLESCENTES DA COORTE RPS, SÃO LUÍS – MARANHÃO
Comunicação Oral
1 UFMA
2 Centro Universitário UNDB
Apresentação/Introdução
A busca por suplementos alimentares, produtos para a complementação nutricional de indivíduos saudáveis, é crescente no Brasil. O uso excessivo e inadequado pode levar a vários efeitos adversos. Os adolescentes são vulneráveis a esse consumo, frequentemente sem conhecimento. A escassez de estudos abrangentes focados nesta faixa etária justifica a relevância desta pesquisa.
Objetivos
Analisar os fatores associados ao uso de suplementos alimentares entre adolescentes da coorte RPS, São Luís, Maranhão.
Metodologia
Estudo transversal com 2.170 adolescentes de 18 e 19 anos da terceira fase da coorte de nascimento RPS, São Luís, Maranhão. O uso de suplementos alimentares foi o desfecho. As variáveis independentes demográficas e socioeconômicas, hábitos de vida e antropométricas e composição corporal foram organizadas em um modelo teórico hierarquizado de quatro níveis (distal, intermediário 1, intermediário 2 e proximal). Utilizou-se a regressão de Poisson com variância robusta (RP e IC95%) para análise dos fatores associados. A nível de significância adotado foi definida de 5%.
Resultados
A prevalência de uso de suplementos alimentares por adolescentes foi de 5,1%. Após a análise ajustada permaneceram associados ao uso de suplementos alimentares a prática de dieta para ganho de peso (RP=6,34; IC 95%: 3,86-10,42; p<0,001) e para perda de peso (RP=3,52; IC 95%: 1,86-6,64; p<0,001); a prática de musculação (RP=4,02; IC 95%: 2,38-6,77; p<0,001) e ter índice de massa corporal adequado (RP=2,27; IC 95%:1,24-4,13; p=0,007).
Conclusões/Considerações
O uso de suplementos em adolescentes de São Luís, Maranhão, associou-se à dieta, índice de massa corporal e musculação. Os achados reforçam a necessidade de educação em saúde sobre uso racional e seguro de suplementos alimentares, especialmente para adolescentes engajados em dietas e atividades físicas específicas, visando escolhas saudáveis e desmistificação de promessas irreais.
RELAÇÃO ENTRE INDICADORES DE ADIPOSIDADE CENTRAL E INSATISFAÇÃO COM A IMAGEM CORPORAL EM ADOLESCENTES: ESTUDO PASE
Comunicação Oral
1 Universidade Federal de Viçosa
Apresentação/Introdução
A adolescência é marcada por transformações psicossociais que podem gerar insatisfação da imagem corporal (IC). A adiposidade central, por ser mais visível e estigmatizada, pode intensificar essa insatisfação, levando adolescentes a adotarem práticas não saudáveis para a perda de peso. Diante disso, avaliar essa relação é essencial para ações preventivas contra agravos da saúde física e mental.
Objetivos
Avaliar a relação entre indicadores de adiposidade central e a insatisfação da imagem corporal em adolescentes.
Metodologia
Estudo transversal com 274 adolescentes (15-18 anos), participantes da coorte prospectiva “Pesquisa de Avaliação da Saúde do Escolar” (Viçosa-MG). Foram avaliados os perímetros da cintura (PC) e do pescoço (PP) como indicadores de adiposidade central excessiva (>percentil 90). A insatisfação corporal foi medida pela escala de silhuetas de Kakeshita, considerando o desejo de aumentar (>1) ou reduzir peso (<-1), pela diferença entre IMC “desejado” e “atual”. Utilizou-se a regressão logística multinomial, ajustada por sexo, idade, renda familiar per capita, tempo de tela e maturação sexual. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (4.982.479/2021).
Resultados
Os participantes apresentaram média de idade de 16,3 ± 0,8 anos, sendo 52,2% (n=143) do sexo feminino, com médias de PC e PP de 75,1 ± 11,7 cm e 33,4 ± 3,1 cm, respectivamente. A maioria apresentava insatisfação com a IC (76,7%), dos quais 36,5% apresentavam o desejo de aumentar, enquanto 40,2% desejavam diminuir o peso. O aumento de uma unidade do PC (OR: 1,16; IC95%: 1,10; 1,22) e do PP (OR: 1,84; IC95%: 1,47; 2,29) estiveram associados ao aumento da chance de insatisfação corporal com desejo de reduzir o peso.
Conclusões/Considerações
Os adolescentes com maior adiposidade central apresentaram maiores chances de insatisfação corporal com desejo de redução do peso. Esses resultados reforçam a importância de investir em ações de educação em saúde, com foco no bem-estar físico e mental, a curto e longo prazos.
ESPAÇO DE BRINCADEIRAS NA UPA DO GHC: PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL E O BEM-ESTAR DURANTE A ESPERA POR ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE
Comunicação Oral
1 Grupo Hospitalar Conceição
Período de Realização
Iniciada no período pós-pandemia, com implantação a partir de novembro de 2024
Objeto da experiência
Implantamos um espaço lúdico na UPA/GHC para acolher crianças, estimulando o desenvolvimento e reduzindo o estresse durante a espera.
Objetivos
Oferecemos um ambiente acolhedor e seguro onde crianças possam brincar durante a espera com seus responsáveis, promovendo bem-estar, estímulo emocional e social, além de minimizar os impactos negativos do ambiente hospitalar sobre a infância.
Descrição da experiência
Criamos um espaço de brincadeiras na recepção da UPA/GHC, com mesas, cadeiras infantis, livros, jogos educativos e materiais para desenho. A iniciativa respeita os direitos das crianças previstos no ECA, garantindo um ambiente seguro e estimulante, onde elas possam se expressar livremente, interagir e desenvolver habilidades enquanto aguardam atendimento com seus responsáveis.
Resultados
O espaço reduziu o estresse e a ansiedade das crianças, melhorou o clima da recepção e promoveu vínculos positivos. Observamos maior acolhimento e tranquilidade entre acompanhantes e usuários. A proposta fortaleceu o cuidado humanizado e pode ser replicada em outras unidades, consolidando o brincar como estratégia de atenção à saúde infantil.
Aprendizado e análise crítica
Reconhecemos o brincar como direito essencial da criança em qualquer ambiente. A experiência mostra que ações simples, como esse espaço descontraído, geram impactos positivos. Enfrentamos desafios como a manutenção dos materiais e a capacitação de profissionais para acompanhar as atividades. A proposta revelou a importância de integrar práticas de espaço lúdico ao cuidado em saúde
Conclusões e/ou Recomendações
Mantemos o espaço como ação permanente e recomendamos sua ampliação com apoio institucional e parcerias. Investimos na formação da equipe para conduzir atividades lúdicas e avaliamos os efeitos da proposta. Reforçamos que o brincar precisa ser incorporado como parte do cuidado infantil, mesmo em serviços de urgência e emergência.