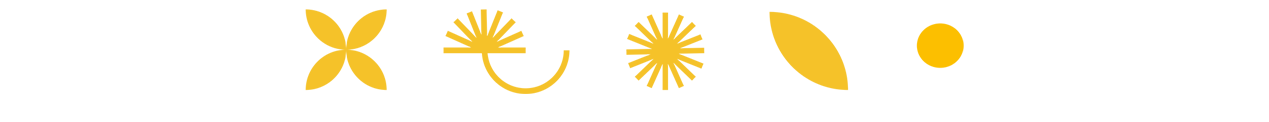
Programa - Comunicação Oral - CO28.3 - INTEGRAÇÃO E GOVERNANÇA REGIONAL : ESTRATÉGIAS E POSSIBILIDADES NO SUS
02 DE DEZEMBRO | TERÇA-FEIRA
15:00 - 16:30
15:00 - 16:30
CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE COMO ESTRATÉGIA DE ORGANIZAÇÃO REGIONAL NO SUS: EVOLUÇÃO, DESAFIOS E POSSIBILIDADES
Comunicação Oral
1 UEL
2 ENSP/Fiocruz
Apresentação/Introdução
Os consórcios de saúde emergiram no Brasil durante a redemocratização, como instrumentos para a implementação de políticas públicas de saúde. Desde sua criação, atuam na organização regional, promovendo articulação entre entes federativos e populações. Entretanto, sua atuação enfrenta desafios relacionados à gestão compartilhada e limites de institucionalidade, impactando na regionalização do SUS.
Objetivos
Analisar a evolução dos consórcios públicos de saúde no contexto do SUS, identificando seus avanços, limites e o papel na organização regional, com foco na implementação da regionalização.
Metodologia
Trata de um estudo de abordagem quantitativa e qualitativa, composto por um mapeamento nacional, além de revisão bibliográfica e documental, incluindo análise de legislações, portarias e dados primários coletados por meio de websurvey e secundários, a partir de bases como IBGE, Receita Federal, Ministério da Saúde e Confederação Nacional de Municípios. Foram realizadas entrevistas com atores-chave do cenário nacional e local, além de oficinas e rodas de conversa. Os dados foram analisados criticamente à luz da literatura de Saúde Coletiva, com ênfase na produção acadêmica recente e foram atendidos todos os critérios éticos para pesquisas envolvendo seres humanos.
Resultados
A pesquisa evidencia que, apesar do histórico de avanços normativos, os consórcios enfrentam tensões de gestão comuns em processos federativos, como disputas políticas e diferenças de composição administrativa. A Lei dos Consórcios Públicos de 2005 e a Portaria GM/MS nº 2.905/2022 vêm consolidando sua atuação, especialmente na implementação de ações comuns, como atenção à saúde, compras e educação em saúde, de forma diversa nos 297 consórcios públicos identificados no estudo. Contudo, sua inserção nos processos de planejamento regional ainda é insuficiente para promover uma organização territorial mais efetiva e seu papel no processo de regionalização do SUS se mostra pouco definido.
Conclusões/Considerações
Os consórcios públicos de saúde representam uma ferramenta potencial para o fortalecimento da regionalização do SUS, demandando superação aos desafios relacionados à gestão compartilhada. Sua atuação integrada, apoiada por marco regulatório adequado e participação efetiva dos diversos atores, pode contribuir para aprimorar a coordenação regional e a equidade na atenção à saúde.
CONSÓRCIOS PÚBLICOS E A REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE: ANÁLISE DA IMPLANTAÇÃO NA BAHIA
Comunicação Oral
1 ISC/UFBA
2 UNEB
Apresentação/Introdução
Frente ao desafio da fragmentação na prestação de serviços e de construir desenhos regionais que visem a garantia de acesso, tem sido adotada uma estratégia específica de cooperação federativa: a formação de consórcios públicos. Esses arranjos se revelam como um instrumento de inovação da gestão do SUS para provimento de serviços em nível regional, pois permite a otimização de recursos escassos.
Objetivos
Analisar a implantação dos consórcios verticais de saúde em três regiões de saúde no estado da Bahia.
Metodologia
Trata-se de uma pesquisa avaliativa, do tipo análise de implantação com estudo de casos múltiplos, envolvendo três regiões de saúde do estado da Bahia, correspondentes aos primeiros consórcios verticais de saúde constituídos para gestão das Policlínicas Regionais de saúde. Quanto a produção de dados e procedimentos de coleta elaborou-se uma Matriz de Avaliação do Grau de Implantação dos consórcios verticais de saúde, contendo os componentes da intervenção, a pontuação e as fontes de verificação, foi realizada pesquisa documental e também entrevistas com roteiro semiestruturado como informantes-chave dos consórcios públicos e das Policlínicas Regionais de saúde das regiões selecionadas.
Resultados
Os três consórcios de saúde analisados estão implantados com percentuais que variaram entre 69,4% e 88,8%. Quanto aos efeitos da implantação sobre a conformação das redes regionalizadas de saúde, os achados sinalizam que as policlínicas geridas pelos consórcios analisados impactaram positivamente em todas as regiões, com destaque para maior oferta de serviços de apoio diagnóstico e terapêutico de alta complexidade, e oferta de transporte sanitário. Quanto ao contexto de implantação e sua influência sobre os resultados observados, houve o protagonismo da gestão estadual na condução da implantação dos consórcios tornando o contexto político-institucional favorável à adesão dos municípios.
Conclusões/Considerações
Os consórcios verticais de saúde da Bahia analisados estão implantados e ampliaram o acesso à atenção especializada, sobretudo aos exames diagnósticos. A liderança política do governador foi fundamental para a adesão dos prefeitos. Mostra-se como desafio a articulação do consórcio com demais instâncias do SUS, e o fortalecimento do Conselho Consultivo, a sustentabilidade a longo prazo pode ser obtida com o financiamento tripartite.
REGIONALIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS) NO BRASIL: DESAFIOS, AVANÇOS E BARREIRAS NA ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL
Comunicação Oral
1 UEFS
Apresentação/Introdução
A regionalização da saúde, especialmente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), visa ampliar o acesso e a integralidade do cuidado em saúde mental no Brasil. Desde 2011, a RAPS busca integrar serviços para superar a fragmentação, no entanto, enfrenta desafios como a má distribuição dos serviços e a insuficiência de recursos, exigindo a análise da organização regional e suas barreiras.
Objetivos
Este estudo visa analisar a produção científica sobre a regionalização da RAPS entre 2011 e 2025, assim como, identificar avanços, desafios e barreiras na organização regional da atenção à saúde mental.
Metodologia
Trata-se de uma revisão integrativa que seguiu as etapas: pergunta norteadora; busca da produção científica (2011–2025); coleta e análise crítica; discussão e apresentação dos achados. As buscas ocorreram nas bases de dados Scielo, Biblioteca Virtual em Saúde e bancos da BDTD e da CAPES, utilizando-se os descritores (“regionalização” AND “serviço de saúde mental”, “gestão em saúde” AND “rede de atenção psicossocial”). Excluíram-se documentos duplicados, indisponíveis na íntegra, focados em apenas um nível de atenção ou o âmbito municipal. 11 documentos compuseram a amostra final. Utilizou-se o Rayyan para manejo das referências e o MAXQDA para análise, com base na Análise Temática Reflexiva.
Resultados
A análise evidenciou limitações na regionalização da RAPS, como escassez e má distribuição dos serviços, frágil articulação entre os níveis de atenção, falhas no planejamento e manutenção de práticas alinhadas ao modelo manicomial. As barreiras da organização regional incluem desigualdades socioeconômicas, diversidade territorial, distância entre municípios, disputas políticas, subfinanciamento, dependência do setor privado e falta de capacidade técnica. Observa-se a necessidade de fortalecer a gestão regional, aprimorar os mecanismos de pactuação e consolidar o paradigma psicossocial como eixo estruturante da RAPS.
Conclusões/Considerações
No Sistema Único de Saúde, a RAPS mantêm o paradigma manicomial devido a falta de consolidação da regionalização que é crucial para fortalecer a mudança do modelo de cuidado e superar vazios assistenciais, dificuldade de articulação e entraves políticos e técnicos. Evidenciou-se a escassez de estudos sobre a regionalização e os aspectos logísticos, farmacêuticos e de governança, indicando necessidade de pesquisas mais aprofundadas.
DINÂMICA DOS TRANSPORTES SANITÁRIOS E FLUXOS DE PACIENTES NO AMAZONAS: DESAFIOS PARA A REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE NA AMAZÔNIA BRASILEIRA
Comunicação Oral
1 ILMD/Fiocruz Amazônia
Apresentação/Introdução
A regionalização da saúde no Amazonas enfrenta desafios relacionados à vastidão territorial, limitações logísticas e desigualdades no acesso aos serviços. O presente estudo investiga aspectos da infraestrutura de transporte sanitário e os fluxos assistenciais interestaduais, evidenciando os obstáculos enfrentados por gestores municipais na operacionalização das regiões de saúde.
Objetivos
Compreender, a partir da perspectiva dos gestores municipais, como as condições de transporte e o fluxo interestadual de pacientes impactam a efetividade da regionalização da saúde no estado do Amazonas.
Metodologia
Estudo transversal, de caráter descritivo-analítico e abordagem quantitativa, com secretários de saúde de 60 municípios do Amazonas. Foram aplicadas entrevistas estruturadas abordando transporte sanitário, conhecimento sobre municípios polo, casas de apoio em Manaus e fluxos interestaduais. A análise dos dados, com exclusão da capital e dos polos regionais, foi feita no software Jamovi, utilizando testes Qui-quadrado e Exato de Fisher. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e integra uma dissertação financiada pela FAPEAM.
Resultados
Observou-se uso variado de transporte, com municípios mais distantes da capital empregando até três modais distintos. O conhecimento sobre a estrutura dos polos é mais presente nas regiões do Médio Amazonas e Triângulo. No Baixo Amazonas, 80% dos municípios não dispõem de casas de apoio em Manaus, ao passo que no Purus todos afirmaram ter. Já os fluxos interestaduais mostraram que 26,7% dos municípios encaminham pacientes para fora do estado e 73,3% recebem usuários de outras localidades, evidenciando fragilidades nas redes regionais.
Conclusões/Considerações
As desigualdades logísticas e a diversidade nos arranjos de transporte dificultam a regionalização eficaz no Amazonas. A ausência de estrutura padronizada e o fluxo de pacientes para outros estados evidenciam fragilidades no sistema. É necessário investir na infraestrutura local e fortalecer a articulação regional para garantir o acesso equitativo à saúde.
A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA EM MATO GROSSO: ANÁLISE DO PROCESSO E DOS INDICADORES DE SAÚDE ENTRE 2012 E 2022
Comunicação Oral
1 UFMT
Apresentação/Introdução
A Rede Cegonha foi instituída como estratégia para garantir atenção integral e humanizada à saúde materno-infantil. Em Mato Grosso, sua implementação se deu em um contexto de desigualdades regionais, desafios na organização da RAS e limitações estruturais. A pesquisa analisa o percurso dessa política pública no estado, em diálogo com seus indicadores.
Objetivos
Descrever o processo de implementação da Rede Cegonha em Mato Grosso entre 2012 e 2022, analisando políticas institucionais e a evolução dos indicadores de saúde materno-infantil nas regiões de saúde do estado.
Metodologia
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva e documental, baseada em dados secundários oriundos dos sistemas SIM, SINASC, CNES e documentos normativos federais e estaduais. A análise envolveu a classificação de atos normativos conforme as fases de implantação da Rede Cegonha e a mensuração de indicadores de morbimortalidade, assistência e capacidade instalada em todas as regiões de saúde de Mato Grosso, entre 2012 e 2022. Os dados foram organizados em planilhas, categorizados e analisados conforme diretrizes metodológicas da análise documental e da análise qualitativa em saúde coletiva.
Resultados
Apenas 54 municípios aderiram formalmente à Rede Cegonha. Observou-se baixa cobertura de UTIs neonatais (presentes em apenas 18,75% das regiões), elevada taxa de cesárea em determinadas regiões (superior a 85%), e desigualdades no acesso aos serviços e na oferta de cuidados. A mortalidade materna e infantil apresentou tendência de redução em algumas regiões, mas ainda permanece elevada em relação às metas da portaria federal. A análise revela que a estruturação regional da rede segue fragilizada, comprometendo a integralidade e a equidade do cuidado materno-infantil.
Conclusões/Considerações
A pesquisa evidenciou avanços parciais na implementação da Rede Cegonha em Mato Grosso, com melhorias pontuais em indicadores de saúde. Contudo, persistem barreiras estruturais e regionais que dificultam a consolidação da Rede como política efetiva. São necessários investimentos, fortalecimento da regionalização e articulação entre níveis de gestão para garantir o acesso equânime, oportuno e humanizado à saúde materno-infantil no estado.
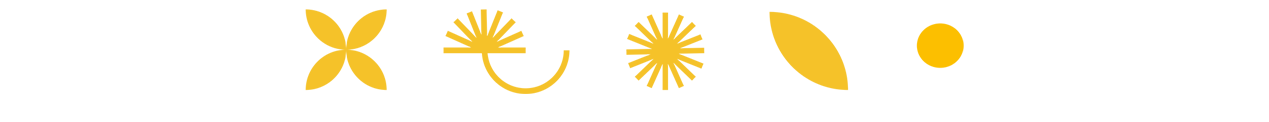
Realização:


Patrocínio:




Apoio:






