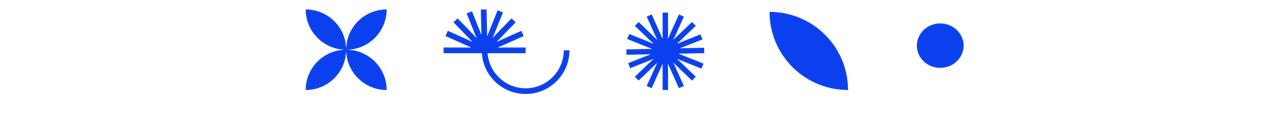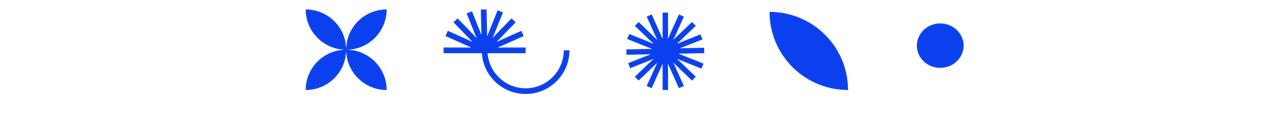Programa - Comunicação Oral Curta - COC5.9 - Experiências de cuidado integral na APS
03 DE DEZEMBRO | QUARTA-FEIRA
08:30 - 10:00
A TERRITORIALIZAÇÃO E A CONSTRUÇÃO DO CUIDADO INTEGRAL EM ESPAÇOS INFORMAIS DA SAÚDE
Comunicação Oral Curta
1 UFF
Apresentação/Introdução
Na realização do trabalho de campo, onde desenvolvemos a pesquisa, durante a pausa para um café, na copa, profissionais de diferentes formações, refletiam sobre o cuidado de um caso em comum, quando uma auxiliar de limpeza -moradora do território - revelou dimensões sociais do adoecimento. Esse espaço informal evidenciou a importância da territorialização, que permite desafiar o modelo biomédico.
Objetivos
Compreender como as práticas cotidianas em uma Unidade de Médico de Família evidenciam a potência da territorialização, destacando a contribuição de saberes diversos no enfrentamento das lógicas biomédicas ainda predominantes.
Metodologia
Este trabalho é parte de uma dissertação de mestrado em Saúde Coletiva, desenvolvida no Instituto de Saúde Coletiva da UFF em uma Unidade de Médico de Família do município de Niterói/RJ. Trata-se de uma pesquisa qualitativa na qual uma das técnicas metodológicas utilizadas foi a observação participante. As vivências foram registradas em diário de campo, com atenção às interações cotidianas entre os trabalhadores da unidade. A análise foi orientada pela Análise de conteúdo e por referenciais da Saúde Coletiva, buscando compreender a potência da territorialização para as práxis de cuidado integral na saúde, bem como os tensionamentos com o modelo biomédico hegemônico.
Resultados
A observação participante evidenciou a potência da equipe multiprofissional e sua abertura ao diálogo, demonstrando que o planejamento do cuidado territorializado pode emergir na dinamicidade do trabalho em saúde. O episódio revelou como a escuta qualificada e a articulação de saberes não hegemônicos favorecem a construção de uma clínica integral e o reconhecimento da determinação social da saúde na produção do cuidado. Também, expressa a participação da diversidade de trabalhadores que compõem a rede de cuidado, ressaltando a importância da horizontalização das relações sociais.
Conclusões/Considerações
Na equipe pesquisada, observamos práticas potentes de promoção da saúde, com esforços para incorporar a territorialização. No entanto, também observamos o desafio de articular saberes sociais e biológicos na construção da práxis. Permitir que momentos como esse apresentado sejam, também, espaços de escuta, diálogo e reflexão crítica sobre saúde, cuidado e território qualifica a prática, assim como o investimento em educação permanente em saúde.
A FRAGILIZAÇÃO DAS PRÁTICAS COLETIVAS COMO EXPRESSÃO DA CRISE NA ATENÇÃO BÁSICA: RELATO EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO FEDERAL
Comunicação Oral Curta
1 FIOCRUZ BRASÍLIA
Período de Realização
Maio de 2024 a abril de 2025.
Objeto da experiência
A ausência e a dificuldade de retomada dos grupos na UBS 07 de Samambaia como expressão da crise na Atenção Básica (AB) do Distrito Federal.
Objetivos
Analisar, a partir da vivência como residentes de um programa de residência em Atenção Básica, os desafios para a retomada das práticas coletivas em uma UBS do DF.
Metodologia
A vivência deste relato foi experenciada em uma UBS, na região de saúde do Sudoeste do DF, por residentes do Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Básica da Fiocruz Brasília. A inserção no cenário de prática se deu em contexto pós-pandêmico, caracterizado pela resistência dos profissionais em retomar as práticas coletivas, associada à baixa adesão dos usuários e à sobrecarga assistencial, com priorização de demandas imediatas.
Resultados
Identificou-se a persistente ausência de grupos e ações coletivas, aumento da demanda espontânea e foco em procedimentos clínicos. A resistência de equipes em retomar as práticas coletivas, muitas vezes atribuída como herança da pandemia, contribui para a manutenção desse cenário.
Análise Crítica
A experiência evidenciou que a resistência dos profissionais em retomar grupos e a baixa adesão dos usuários fragilizam a dimensão comunitária da Atenção Básica. É preciso flexibilizar agendas, valorizar ações coletivas e promover formações que motivem as equipes. A gestão e os residentes configuram-se como importantes aliados na sensibilização e na implementação de estratégias participativas que fortaleçam o vínculo com a comunidade.
Conclusões e/ou Recomendações
Recomenda-se o fortalecimento das ações coletivas por meio da sensibilização e formação das equipes, superando resistências institucionais. É fundamental promover o engajamento profissional e comunitário, garantindo que as práticas coletivas sejam novamente reconhecidas como centrais na Atenção Básica.
CAMINHOS DE SENSIBILIZAÇÃO: RECEBENDO MIGRANTES NO SUS
Comunicação Oral Curta
1 UFPR
Apresentação/Introdução
O Brasil tem registrado aumento do número de migrantes em seu território, e a falta de políticas para o acolhimento desta população contribui para a sua vulnerabilidade. No marco dos princípios do SUS, a universalidade lhes garante o direito à saúde, que tem na APS as potencialidades para romper as barreiras de acesso.
Objetivos
O objetivo geral da pesquisa foi construir ações formativas de sensibilização da equipe de saúde da família de um território para o acolhimento da população migrante.
Metodologia
Trata-se de uma pesquisa-ação qualitativa, envolvendo trabalhadores da equipe de saúde da família e usuários migrantes. A pesquisa ocorreu no período de 2023-2024 em uma UBS do sul do país que registrou aumento expressivo de migrantes em seu território. Foram realizadas etapas cíclicas e repetidas com ações de aproximação e sensibilização da equipe: Visita domiciliar à população migrante, Apresentação da temática na reunião de equipe, Atividade coletiva com os migrantes na UBS, Reunião de equipe ampliada reunindo usuários e trabalhadores. A coleta dos dados se deu por diário de campo e grupo focal com as Agentes Comunitárias de Saúde.
Resultados
Abrir espaço para que os migrantes contassem suas histórias permitiu a criação do vínculo e o acolhimento desta população. Permitiu reflexões para os preconceitos que as equipes de saúde da família têm com relação às populações migrantes. Tais preconceitos são alimentados pela desconexão que as pessoas possuem enquanto comunidade de um certo território. A metodologia democrática favoreceu a co-construção de soluções sustentáveis, alinhadas às necessidades reais dos participantes. Revelou a importância de reconhecer os migrantes como sujeitos ativos na produção de sua própria saúde, em um processo de cogestão, garantindo a integralidade na atenção à saúde para este grupo populacional.
Conclusões/Considerações
Mais que o desenvolvimento de uma competência cultural racionalizada, é preciso promover espaços de diálogo e convivência, que permitam a criação de vínculos e rompam com o preconceito. Desta forma, e com destaque sobretudo à figura do ACS enquanto profissional essencial para a Equipe de Saúde da Família, é possível aplicar políticas de acolhimento a populações vulneráveis no território de saúde.
CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO INTERDISCIPLINAR PARA A ATENÇÃO À INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE USUÁRIAS DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM UBERABA-MG
Comunicação Oral Curta
1 UFTM
Período de Realização
O projeto foi idealizado e estruturado entre os meses de março e maio de 2025.
Objeto da experiência
Promover o cuidado integral de mulheres com incontinência urinária por meio da organização do fluxo de atendimentos em uma UBS de Uberaba-MG.
Objetivos
Apresentar a construção de um projeto interdisciplinar voltado à identificação e cuidado de mulheres com incontinência urinária em uma Unidade Básica de Saúde do município de Uberaba-MG.
Metodologia
Durante a atuação na Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso da UFTM, observou-se a necessidade de fortalecer o processo de identificação e cuidado das usuárias com incontinência urinária. A partir dessa demanda, elaboramos um projeto interdisciplinar envolvendo fisioterapia e enfermagem, com propostas de acolhimento, avaliação, atividades educativas e atendimento individual, priorizando um cuidado integral, humanizado e centrado na usuária.
Resultados
O projeto possibilitou a articulação entre os residentes da equipe multiprofissional e os profissionais da UBS, resultando na construção de uma rotina de acolhimento e encaminhamento das usuárias com queixas urinárias aos nossos atendimentos. As ações favoreceram o acesso ao cuidado, fortalecendo vínculos, promovendo educação em saúde e estimulando a busca ativa de novas usuárias com essa condição clínica.
Análise Crítica
A experiência reforçou a potência da elaboração de abordagens interdisciplinares, evidenciando a importância da inclusão de outras categorias, como nutrição e medicina, para um cuidado mais integral. Contribuiu significativamente para a formação dos residentes, ampliando competências práticas, e fortaleceu a estratégia de educação permanente da equipe, proporcionando trocas de saberes e qualificação do cuidado na atenção básica.
Conclusões e/ou Recomendações
A iniciativa demonstrou-se viável, relevante e passível de replicação em outras unidades. Recomenda-se sua ampliação, com inclusão do tema na educação permanente das equipes e em ações educativas voltadas às usuárias, a fim de incentivar o reconhecimento precoce da condição e assegurar a integralidade do cuidado.
CONTRIBUIÇÕES DO CONSULTÓRIO NA RUA PARA A PRODUÇÃO DO CUIDADO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO BRASIL
Comunicação Oral Curta
1 Universidade de Brasília (UnB), Faculdade de Ciências da Saúde, Departamento de Saúde Coletiva.
Apresentação/Introdução
A população em situação de rua enfrenta múltiplas vulnerabilidades e barreiras no acesso à saúde. O Consultório na Rua (eCR) é uma estratégia do SUS voltada à atenção integral dessa população. Este estudo analisa suas contribuições para o cuidado em saúde, com base na literatura científica publicada entre 2011 e 2023.
Objetivos
Analisar as contribuições das ações das equipes do Consultório na Rua para a produção do cuidado da população em situação de rua no Brasil, considerando aspectos como vínculos, acesso, acolhimento, integralidade e redução de danos.
Metodologia
Trata-se de uma revisão de literatura com técnica de síntese de evidências, conforme protocolo do Ministério da Saúde. A busca foi realizada nas bases Web of Science, SciELO e BVS em fevereiro de 2024, utilizando a estratégia PCC e a palavra chave Consultório na Rua. Foram incluídos artigos completos, de acesso aberto, nos idiomas português, inglês e espanhol, publicados entre 2011 e 2023. Após seleção por duas revisoras independentes, com análise por título, resumo e texto completo, foram incluídos 23 estudos. Os dados foram organizados em planilha para identificação de benefícios, desafios, estratégias e impactos das ações do eCR sobre o cuidado em saúde da população em situação de rua.
Resultados
O eCR contribui significativamente para o cuidado integral e equitativo, destacando-se ações como acolhimento, construção de vínculos, trabalho intersetorial e redução de danos. Os estudos apontam melhoria no acesso, escuta qualificada, formação de profissionais e estratégias educativas. Dificuldades como exigência de documentos, estigma, falta de recursos e fragmentação da rede limitam a efetividade das ações. A prática de cuidado ampliado, com abordagem centrada no território e nas singularidades dos usuários, mostra-se eficaz na superação de barreiras históricas vividas por essa população.
Conclusões/Considerações
As ações do Consultório na Rua são fundamentais para promover acesso, inclusão e cuidado humanizado à população em situação de rua. A interdisciplinaridade e a redução de danos são centrais na abordagem do eCR. No entanto, a superação de barreiras como estigma, falta de recursos e exigência documental exige políticas públicas robustas e sustentáveis. O fortalecimento e expansão do eCR são essenciais para garantir equidade no SUS.
CUIDADO INTEGRAL NA ATENÇÃO BÁSICA E ADOLESCER: (DES)CAMINHOS TRAÇADOS E TRILHAS FUNDAMENTAIS ENTRE PROFISSIONAIS DE SAÚDE E ADOLESCENTES ANTE AS NECESSIDADES EM SAÚDE
Comunicação Oral Curta
1 FMUSP
Apresentação/Introdução
A produção do cuidado integral de adolescentes e jovens permanece como um desafio na Atenção Básica (AB), que segue desconsiderando-os como prioridade, requerendo a compreensão das intersecções entre os marcadores sociais, desigualdades e sofrimentos que os/as compõem. Soma-se a isto, o contexto gerencialista e parametrizador que desfavorece um trabalho mais coerente com o vivido nos territórios
Objetivos
Compreender as aproximações e os distanciamentos nos modos de ler-agir de trabalhadores/as e o que pensam/desejam/esperam adolescentes e jovens ante as necessidades de saúde no contexto dos caminhos de cuidado trilhados na atenção básica.
Metodologia
Estudo de base etnográfica, composto por métodos mistos, fundamentado pelo quadro da Vulnerabilidade e dos Direitos Humanos. O campo de pesquisa foi desenvolvido em 2023 com realização de 73 entrevistas semi-estruturadas de trabalhadoras/es de 6 UBS de São Paulo (4), Santos (1) e Sorocaba (1) e 34 adolescentes e jovens entre 18 e 24 anos destes serviços ou com experiência em outros serviços no território, além de observação de espaços na região (Associações e ONGs) com ações para jovens. A análise, de base compreensivo-interpretativa, seguiu os referenciais do Processo de Trabalho em Saúde e da Integralidade e seus eixos qualificadores – necessidades, articulações, finalidades e interações.
Resultados
Trabalhadores/as seguem pelos antigos percursos de inventariar as demandas de adolescentes como necessidades, destacando a busca por métodos contraceptivos e testes de gravidez pelas moças e exames/tratamentos para IST pelos rapazes, com pouco adensamento para as intersecções entre gênero/orientação sexual, desigualdades, violências, raça/etnia e modos de viver nos territórios. Os/as adolescentes apontam para outras trilhas: escuta por interlocutores/as que compreendam suas necessidades, apoio psicológico para lidarem com projetos de vida; direito de serem efetivamente cuidados/as desacompanhadas/os; maior rapidez nos agendamentos (consultas/exames) e um seguimento longitudinal.
Conclusões/Considerações
Perduram desencontros nos caminhos de trabalhadores/as e jovens ante as necessidades de saúde na AB. A delicada e contínua composição de outros caminhos, requer a superação de desafios que atravessam o trabalho, como o tecnicismo e o gerencialismo. Em contrapartida, destaca-se a importância da construção de encontros mais dialógicos e contextualizados, buscando superar o não-lugar dos/das jovens na definição das trilhas para seu cuidado integral.
CURSO MONITORASB COMO ESTRATÉGIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO MONITORAMENTO EM SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Comunicação Oral Curta
1 UFMG
Período de Realização
O curso teve duração de 40h entre os meses de agosto a dezembro de 2024.
Objeto da produção
Curso de capacitação para equipes e gestores em saúde bucal no contexto de uma pesquisa de implementação do monitoramento na Atenção Primária.
Objetivos
Capacitar equipes e gestores de saúde bucal para implementação do processo de monitoramento em saúde por meio da disponibilização de dispositivos tecnológicos e qualificação para uso de tais recursos auxiliares ao planejamento, monitoramento e avaliação em saúde.
Descrição da produção
Curso desenvolvido para pesquisa de implementação na atenção primária; a iniciativa "MonitoraSB". Participaram 13 municípios mineiros a partir de pactuação com as secretarias. Ofertado institucionalmente pela UFMG, o curso utilizou a plataforma Moodle como Ambiente Virtual de Aprendizagem. Foram disponibilizados recursos educacionais como bibliografias, vídeos, fóruns, situações-problema, discussões em grupo, atividades assíncronas e encontros síncronos virtuais. O curso foi mediado por tutores.
Resultados
O curso foi oferecido para 147 profissionais, dos quais 98 (66,7%) concluíram com êxito. O curso foi organizado em 4 módulos de aprendizagem. Módulo I apresentou os dispositivos tecnológicos e indicadores de saúde bucal; o módulo II discutiu conceitos básicos dos sistemas de informações com foco na atenção básica; o módulo III abordou os facilitadores e barreiras para implementação em saúde; o módulo IV realizou a autoavaliação da aprendizagem e contribuições para a reorganização do trabalho.
Análise crítica e impactos da produção
O curso foi embasado nos pressupostos da educação permanente em saúde, do ensino problematizador e da aprendizagem significativa. Buscou-se a implicação dos sujeitos na transformação das práticas de monitoramento em saúde. Os participantes, de maneira geral, avaliaram de forma positiva, destacando a adequação do curso ao seu propósito, perpassando pela organização e adequação pedagógica, aprendizado e modificações no processo de trabalho e qualificação para o trabalho coletivo.
Considerações finais
Considerando os propósitos do curso podemos afirmar que ele cumpriu os objetivos propostos como estratégia de qualificação e orientação para a implementação do monitoramento em saúde bucal. A parceria ensino-serviço viabilizou a participação dos profissionais nesta ação educativa. Os resultados foram amplamente discutidos com a gestão dos municípios participantes, contribuindo assim para a melhoria do monitoramento e avaliação.
DEMANDAS E VULNERABILIDADES: TELEINTERCONSULTA COMO ARRANJO TECNOLÓGICO DA APS AMPLIANDO O ACESSO A ESPECIALISTAS E REDUZINDO INIQUIDADES EM UMA CAPITAL BRASILEIRA
Comunicação Oral Curta
1 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
2 Centro de Estudos Estratégicos, Fiocruz-RJ
3 Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande/MS e Centro de Estudos Estratégicos, Fiocruz-RJ.
Apresentação/Introdução
O serviço de teleinterconsultas analisado integra uma ação estratégica do Ministério da Saúde, Fiocruz/RJ e residência em Medicina de Família e Comunidade de Campo Grande/MS, voltada à qualificação da Atenção Primária à Saúde(APS) e ampliação do acesso à Atenção Especializada(AE) na capital, por meio de tecnologias digitais aplicadas ao cuidado, formação em serviço e gestão territorial em saúde.
Objetivos
Analisar o serviço de teleinterconsultas médicas em Campo Grande/MS, considerando os atendimentos realizados, as especialidades e a distribuição territorial das solicitações segundo os níveis de vulnerabilidade social das áreas adscritas às USFs.
Metodologia
Estudo descritivo, com abordagem quantitativa, com base em dados da plataforma do serviço de teleinterconsulta, referentes às teleinterconsultas realizadas entre profissionais da APS e médicos especialistas da secretaria municipal de saúde. As variáveis analisadas incluíram número de solicitações e efetivações, especialidades clínicas, unidades solicitantes e níveis de vulnerabilidade social dos territórios das Unidades de Saúde da Família (USF), classificados em 5 categorias: muito alta, alta, média, baixa e muito baixa. Os dados foram analisados por estatística descritiva, com agrupamento por especialidade e por categoria de vulnerabilidade social.
Resultados
Foram solicitadas 1575 teleinterconsultas (78,8% realizadas). São ofertadas 6 especialidades no serviço, e as demandas foram: Cardiologia (36,1%), Gastroenterologia (20,7%), Psiquiatria (12,1%), Ortopedia (12,1%), Nefrologia (11,9%), Angiologia/Cirurgia Vascular (7,1%). A maioria das solicitações concentraram-se em áreas de muito alta/alta (48,7%) e de média vulnerabilidade social (40,5%). Quanto às especialidades, Psiquiatria (63,1%), Ortopedia (59,3%) e Gastroenterologia (57,1%) concentraram-se em regiões de muito alta ou alta vulnerabilidade, e a Cardiologia predominantemente em áreas de média vulnerabilidade social (63,6%).
Conclusões/Considerações
A teleintercunsulta afirmou-se como inovação estratégica na APS ao qualificar o cuidado e ampliar acesso à especialistas, o que contribui para a redução de barreiras geográficas, econômicas e do tempo de espera, um dos principais obstáculos ao acesso. Favoreceu a integração entre APS e AE, e mostrou-se como tecnologia promotora de equidade, sobretudo em territórios de alta vulnerabilidade social.