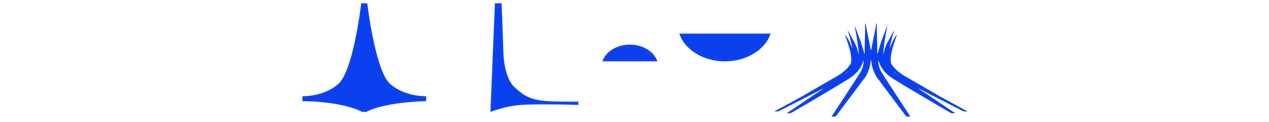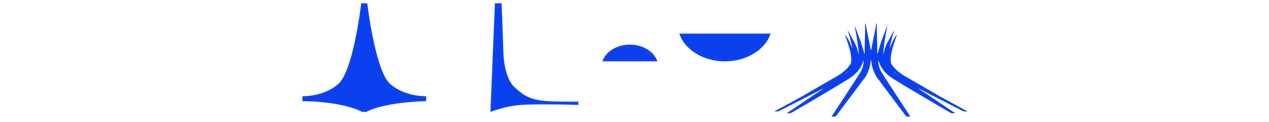Programa - Comunicação Oral Curta - COC5.21 - Infraestrutura e resolutividade dos serviços da APS
03 DE DEZEMBRO | QUARTA-FEIRA
08:30 - 10:00
REQUALIFICA UBS: AVANÇOS E DESAFIOS EM UMA DÉCADA DE INVESTIMENTOS FEDERAIS NA INFRAESTRUTURA DA APS
Comunicação Oral Curta
1 Ministério da Sáude
Apresentação/Introdução
O Requalifica UBS, instituído em 2011, é um programa federal que apoia financeiramente obras de construção, ampliação e reforma de Unidades Básicas de Saúde (UBS). A infraestrutura é um componente essencial para qualificar as ações APS. Dados do Censo Nacional das UBS evidenciaram que 60% das UBS declararam necessidade de reforma e 6.583 funcionam em imóveis não próprios.
Objetivos
Analisar a série histórica das propostas de construção, ampliação e reforma de UBS no âmbito do programa Requalifica UBS entre 2014 e 2023, correlacionando os dados de execução das obras com as necessidades identificadas pelo Censo Nacional das UBS 2024.
Metodologia
Foram coletados dados do SISMOB referentes a obras em UBS realizadas entre 2014 e 2023, categorizando as propostas por tipo de intervenção (ampliação, construção e reforma) e porte populacional do município. Os dados foram sistematizados e analisados quanto à fonte de financiamento e estágio das obras. Realizou-se uma revisão normativa do Requalifica UBS, com base em documentos e dados públicos. Além disso, os dados foram cruzados com informações do Censo Nacional das UBS, considerando as necessidades declaradas de construção, ampliação e reforma, para qualificar a análise dos investimentos realizados.
Resultados
Entre as 5.179 propostas de obras de UBS analisadas, destacam-se 1.776 ampliações, 1.594 construções e 1.809 reformas. Municípios com até 20 mil habitantes concentraram a maior parte das propostas (2.257), seguidos por municípios de 20 mil a 50 mil habitantes (1.260). Municípios acima de 100 mil habitantes responderam por 1.082 propostas, e aqueles entre 50 mil e 100 mil habitantes, por 580. O maior volume de ampliações ocorreu em municípios menores, evidenciando a priorização de áreas potencialmente mais vulneráveis. Quanto às obras vigentes, observou-se que uma parcela significativa permanece em andamento, refletindo desafios relacionados à execução e conclusão das intervenções.
Conclusões/Considerações
Os dados evidenciam avanços, mas reforçam a necessidade de ampliação do Requalifica UBS, considerando as demandas apontadas pelo Censo Nacional das UBS. É fundamental fortalecer mecanismos de monitoramento e agilizar a conclusão das obras, garantindo maior efetividade dos recursos financeiros e impacto na Atenção Primária à Saúde.
RESOLUTIVIDADE DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE: EVIDÊNCIAS DE EFETIVIDADE EM CUIDADOS INTEGRADOS E APOIO MATRICIAL
Comunicação Oral Curta
1 Universidade Federal de Pernambuco
2 Residência Multiprofissional em Atenção Básica e Saúde da Família (PRMABSF) do Município de Jaboatão dos Guararapes
Apresentação/Introdução
A atuação das Equipes Multiprofissionais (eMulti) na Atenção Primária à Saúde (APS) representa uma estratégia de fortalecimento da resolutividade e da integralidade do cuidado, especialmente após as mudanças estruturais da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). A relevância do estudo reside em evidenciar os impactos da atuação das eMulti na efetividade do cuidado no território.
Objetivos
Buscar evidências científicas sobre a resolutividade das Equipes Multiprofissionais (eMulti) na Atenção Primária à Saúde, identificando os principais desfechos e contribuições dessas equipes no fortalecimento do cuidado integral no SUS.
Metodologia
Revisão sistemática registrada no PROSPERO (CRD420251047099), baseada no protocolo PRISMA. Foram incluídos artigos e literatura cinza (2008-2025), em português, inglês e espanhol, excluindo revisões, duplicatas e textos incompletos. As buscas ocorreram nas bases LILACS, SciELO, BVS, CAPES e repositórios FIOCRUZ e USP. A seleção foi feita por dois revisores independentes e validada com o coeficiente Kappa. Sete estudos atenderam aos critérios de elegibilidade e foram avaliados pelo JBI-QARI. Os desfechos analisados incluíram ações clínicas, técnico-pedagógicas, encaminhamentos qualificados e satisfação das equipes apoiadas.
Resultados
Dos 922 estudos identificados, sete compuseram a amostra final. As ações das eMulti demonstraram impacto positivo na saúde dos usuários e nas práticas das equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF). Atividades clínico-assistenciais e técnico-pedagógicas foram predominantes. Houve melhora clínica, adesão aos programas, aumento da autonomia dos usuários e maior integração com a rede. Encaminhamentos qualificados e satisfação das equipes apoiadas foram relatados em parte dos estudos. Os dados reforçam a resolutividade das eMulti na Atenção Primária a Saúde, especialmente em contextos de vulnerabilidade social e fragilidade institucional.
Conclusões/Considerações
Há evidências da resolutividade das eMulti, com ações efetivas no fortalecimento da Atenção Primária a Saúde. Mesmo diante de ameaças institucionais, essas equipes promovem cuidados multiprofissionais e integrais, qualificando o acesso e os desfechos em saúde. A continuidade de seu financiamento e estruturação é fundamental para a equidade, inovação assistencial e consolidação das redes de cuidado no Sistema Único de Saúde (SUS).
PERCEPÇÃO DE TRABALHADORES DA ESF SOBRE OS EFEITOS DO PMAQ-AB EM PERNAMBUCO
Comunicação Oral Curta
1 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
2 Universidade de Coimbra-Portugal
Apresentação/Introdução
A qualificação da Atenção Básica no Brasil vem sendo impulsionada por estratégias como o Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), cuja proposta é induzir mudanças no processo de trabalho das equipes de saúde e fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS).
Objetivos
Analisar a percepção dos trabalhadores da Estratégia Saúde da Família (ESF), sobre os efeitos da implementação do PMAQ-AB em 12 municípios de Pernambuco.
Metodologia
Estudo quali-quantitativo, realizado por meio de grupos focais com 206 profissionais de saúde que atuam nas equipes da ESF. Os municípios foram selecionados de acordo com o porte populacional e a participação nos ciclos do PMAQ-AB. Os dados foram organizados por meio de planilhas Excel, e analisados com base na técnica de análise temática.
Resultados
Os resultados mostram variações entre municípios na cobertura da ESF, número de equipes e percepção dos profissionais sobre o impacto do PMAQ. A cobertura da ESF avançou nacionalmente, com destaque para Pernambuco. O PMAQ melhorou motivação, organização e qualidade do atendimento, com 91,67% dos profissionais relatando efeitos positivos. Contudo, a infraestrutura ainda precisa de melhorias, com 83,33% de aprovação. Diferenças locais refletem principalmente as condições de trabalho. O programa foi estratégico na gestão, mas deveria ter considerado as realidades locais para garantir mais sustentabilidade e equidade na atenção primária.
Conclusões/Considerações
O estudo destaca a importância de avaliar a percepção dos profissionais da ESF sobre o PMAQ-AB, que fortalece a Atenção Básica e melhora as políticas de saúde. Os resultados mostram impacto na valorização do trabalho, na ambiência e na qualidade do cuidado, promovendo o empoderamento profissional e a valorização econômica e simbólica, alinhando atenção primária, gestão e avaliação no SUS.
“POR QUE VAMOS LÁ?” MOTIVOS DA VISITA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL
Comunicação Oral Curta
1 Instituto Multidisciplinar em Saúde/Universidade Federal da Bahia (IMS/UFBA).
2 Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS), Brasília, DF, Brasil
3 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Brasília, DF, Brasil
4 Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste)
5 Instituto Multidisciplinar em Saúde/Universidade Federal da Bahia (IMS/UFBA). Vitória da Conquista/BA, Brasil. Centro de Estudos Sociais/Universidade de Coimbra (CES.UC)
Apresentação/Introdução
Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) realizam ações de relevância na Atenção Primária à Saúde (APS). Entre as práticas, a visita domiciliar representa atividade central no processo de trabalho, meio de constante contato com a população. Nos últimos anos, mudanças nas normativas tendem a influenciar na atuação dos ACS, especialmente após a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), de 2017.
Objetivos
Analisar as finalidades das visitas domiciliares realizadas por Agentes Comunitários de Saúde da região Nordeste do Brasil.
Metodologia
Estudo quantitativo e longitudinal dos motivos de visitação registrados por ACS na APS na região Nordeste. Utilizaram-se dados do Sistema de Informação em Saúde na Atenção Básica (SISAB) dos nove grupos de motivos de visita (cadastramento/atualização; visita periódica, egresso de internação; convite para atividade coletiva/campanha de saúde; orientação/prevenção; outros; controle ambiental/vetorial; busca ativa e acompanhamento) que contém 33 submotivos. Coletaram-se dados de 2019 a 2024. Utilizou-se filtro por região Nordeste, seleção de 12 meses de cada ano e seleção simultânea dos 33 submotivos. Realizou-se análise estatística descritiva, cálculo de frequência e variação percentual.
Resultados
Das visitas realizadas em 2024, observou-se a concentração em três principais motivos: orientação/prevenção (35,3%); acompanhamento (19,8%); outros (16,5%). Os demais seis motivos somaram 28,4%. Em todos os anos analisados o motivo de visita mais frequente foi orientação/prevenção e o menos frequente foi o controle de ambientes/vetores. Observou-se, no período, o crescimento da orientação/prevenção (26% para 35%). O controle de ambientes/vetores apresentou percentuais zerados por quatro anos consecutivos (2021 a 2024). Entre 2019 e 2020, o segundo motivo mais frequente foi visita periódica e, a partir de 2021 a 2024, destaca-se o motivo “outros” como o segundo mais frequente.
Conclusões/Considerações
Predominou o motivo orientação/prevenção para a visita domiciliar, o que ratifica a ênfase da atuação dos ACS na prevenção e promoção da saúde. Por sua vez, destaca- se a frágil atuação no controle de vetores. A ausência desse registro pode revelar a baixa qualidade dos dados, mas também evidenciar a diminuta articulação entre APS e vigilância à saúde. É necessário ampliar a formação dos ACS e valorizar o caráter comunitário da profissão.
VISITAS DOMICILARES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO BRASIL - CENSO NACIONAL DAS UBS, 2024
Comunicação Oral Curta
1 UFPEL
2 UFBA
3 SZE - SAPS/ Ministério da Saúde
Apresentação/Introdução
A visita domiciliar é uma prática central da Estratégia de Saúde da Família na Atenção Primária à Saúde (APS) para atenção integral no Sistema Único de Saúde (SUS). Objetiva oferecer o cuidado integral, contínuo e humanizado à população, considerando situações de vulnerabilidade e dificuldades na mobilidade para o acesso às unidades de saúde e a busca ativa no território.
Objetivos
Caracterizar a oferta de práticas das equipes nas visitas domiciliares a pessoas em cuidados paliativos e pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) para apoio social aos idosos nas UBS do Brasil por região geopolítica, segundo o censo de 2024.
Metodologia
Estudo apresenta os dados do Censo Nacional das UBS de 2024, aplicado por um instrumento eletrônico na plataforma e-Gestor que recebeu a adesão de 44.937 UBS brasileiras, distribuídas pelas regiões geopolíticas: Norte (n=4.096), Nordeste (n=17.737), Sudeste (n=13.374), Sul (n=6.607), Centro-Oeste (n=3.213). As variáveis utilizadas neste estudo são: visitas domiciliares a pessoas em cuidados paliativos e visitas domiciliares pelas ACS para apoio social aos idosos.
Resultados
No Brasil, em 2024 cerca de 93,7% das UBS realizou visitas domiciliares a pessoas em cuidados paliativos. O Nordeste com 96,1% apresentou a maior proporção e o Norte a menor proporção com 89,6%. Com relação as visitas domiciliares realizadas pelos ACS para apoio social aos idosos, o Nordeste (91,1%) permanece com a maior prevalência, mas o Sudeste (81,6%) apresentou a menor prevalência dentre as regiões estudadas.
Conclusões/Considerações
A realização da visita domiciliar mostrou ser uma estratégia de ampla abrangência nas diferentes regiões do país, embora o trabalho dos ACS para apoio social aos idosos tenha possibilidade de ampliação, praticamente em todas as regiões do país. É evidente a importância do fortalecimento dessa estratégia que proporciona a ampliação do acesso universal aos serviços de saúde, favorecendo o cuidado longitudinal aos grupos com maior vulnerabilidade.
TRAJETÓRIA DAS AGENTES COMUNITÁRIAS EM 30 ANOS DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: DESAFIOS, RESISTÊNCIA E CONQUISTAS.
Comunicação Oral Curta
1 Fiocruz
Apresentação/Introdução
O estudo analisou a trajetória das Agentes Comunitárias de Saúde na Estratégia Saúde da Família em seus 30 anos de desenvolvimento, abrangendo as atribuições, a formação e os desafios para a profissionalização da categoria, com destaque para seu papel no processo de consolidação da Atenção Primária na perspectiva da territorialização, do enfoque comunitário e da atenção integral no SUS
Objetivos
Objetivou compreender como as políticas públicas influenciaram o trabalho, a formação e a profissionalização das ACS e os principais desafios enfrentados pela categoria em trinta anos de ESF.
Metodologia
Utilizou abordagem histórico-crítica, com análise documental (leis e portarias) e revisão bibliográfica, baseada nos referenciais da Atenção Primária à Saúde Integral no Brasil, com destaque para três eixos estruturantes da Estratégia Saúde da Família - a perspectiva da territorialização, a orientação comunitária e o horizonte do trabalho multidisciplinar – que guardam estreita relação com o trabalho das ACS. A análise enfocou atribuições escopo de práticas e sentido do trabalho, assim como aspectos da formação, do processo de profissionalização e da luta organizada da categoria, articulados às suas contribuições para a consolidação da ESF no SUS.
Resultados
Observou-se que, apesar de sua permanência como trabalhadoras do SUS, as ACS apresentam clara suscetibilidade às mudanças no curso da política, que alteram o direcionamento e o desenho do seu trabalho, com repercussões para o que fazem, como, onde e com quem fazem. Esta vulnerabilidade encontra limites na força política da categoria organizada em âmbito nacional e local, que tem alcançado conquistas no plano da regulamentação do trabalho e da formação, sendo reconhecidas como profissionais da saúde e obtido a garantia da formação técnica pelo Ministério da Saúde. Em conjunto, esses elementos contribuem para conferir densidade à construção da sua profissão.
Conclusões/Considerações
O futuro do trabalho das ACS está diretamente articulado ao futuro da própria APS no SUS. A garantia de uma APS integral, alicerçada nos atributos da territorialização, da orientação comunitária, do trabalho multidisciplinar, orientado pela perspectiva da determinação social do processo saúde-doença e da saúde como direito universal, não pode prescindir da complexificação do processo de trabalho das equipes da ESF e das ACS em particular .
VIABILIDADE DE OFICINAS DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E HORTA PARA USUÁRIOS COM EXCESSO DE PESO E DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SÃO PAULO
Comunicação Oral Curta
1 Departamento de Medicina Preventiva, Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo
Apresentação/Introdução
Vivenciamos a sindemia global, a interação das pandemias de má nutrição (obesidade e deficiências nutricionais) e do aquecimento global. O uso da horta tem sido indicado pela Organização Mundial da Saúde como estratégia de promoção da saúde multicomponente, pelo acesso a alimentos saudáveis, socialização, combate ao sedentarismo e benefícios à saúde mental, com atuação nos determinantes sociais.
Objetivos
Avaliar a viabilidade das oficinas de alimentação saudável e manejo da horta em usuários com doenças crônicas não transmissíveis assistidos nas unidades básicas de saúde (UBS),
Metodologia
Ensaio clínico quasi-experimental de efetividade, composto por 20 UBS do grupo intervenção e 20 do controle. Elegibilidade: excesso de peso e/ou diabetes, hipertensão arterial, dislipidemia ou doença cardiovascular, sem confusão mental, não gestante ou nutriz. Dados sociodemográficos e econômicos, consumo alimentar, segurança alimentar, estilo de vida e antropométricos foram obtidos. O grupo intervenção participou de duas oficinas de alimentação saudável e manejo da horta. Os participantes participaram da implantação da horta e cuidado. Foram calculadas as medidas de tendência central e dispersão e a comparação entre os grupos, utilizando-se o teste chi-quadrado, considerado valor de p<0,05.
Resultados
Participaram 503 usuários (264 intervenção e 239 controle). A maioria mulher (91%), branca (42%) ou parda (41%), média(DP) de 64(13) anos, 9(4) anos de escolaridade, renda per capita de R$ 1424(987), beneficiário de auxílio social (30%), não fumante (66%), excesso de peso (76%), hipertensos (48%), diabéticos (37%), dislipidêmicos (31%), fisicamente ativos (66%), em insegurança alimentar (59%). Ambos os grupos foram comparáveis, exceto por sexo (p<0,05). Entre os participantes do grupo intervenção, 165 (63%) realizaram a primeira oficina e 105 (40%) participaram de ambas. Ajudaram a cuidar da horta na UBS 154 (58%) e colheram os alimentos produzidos 77 (29%).
Conclusões/Considerações
O perfil de participantes foi de mulheres idosas, baixa renda e em situação de insegurança alimentar. As oficinas abordaram temas como alimentação saudável segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, baixo custo, sazonalidade com degustação de preparações culinárias com aproveitamento integral dos alimentos e inclusão de Plantas Alimentícias Não Convencionais e água saborizada. No entanto, observamos uma baixa adesão.
TRILHA DO CUIDADO NA GESTÃO DO PROGRAMA DO CÂNCER DE COLO UTERINO EM UM MUNICÍPIO DA AMAZÔNIA BRAGANTINA
Comunicação Oral Curta
1 Prefeitura Municipal de Bragança -Pará
Período de Realização
A experiência ocorreu entre os meses de julho a agosto de 2024.
Objeto da produção
Construir uma tecnologia baseada nas dificuldades técnicas de enfermeiros, observadas pela gestão do programa de prevenção do câncer de colo de útero.
Objetivos
Qualificar profissionais enfermeiros (a) da Atenção Primária à Saúde, para atuarem no Programa de Prevenção do Câncer de Colo Uterino, no município de Bragança, Pará.
Realizar ciclos formativos utilizando tecnologia educacional construída a partir de fragilidades encontradas pela gestão do programa.
Descrição da produção
A experiência ocorreu no município de Bragança-Pará, para enfermeiros da APS. Os ciclos formativos e os materiais entregues foram ministrados e produzidos por três enfermeiros da gestão. Cada ciclo durou quatro horas e, participaram dez enfermeiros por ciclo. Assim como, os documentos entregues foram: fluxograma municipal de coleta; procedimento operacional padrão de coleta de citopatológico; destacando-se Tecnologia intitulada: “Trilha do Cuidado: gestão do programa do câncer do colo uterino”.
Resultados
Qualificaram-se 61 enfermeiros da APS. A TE produzida foi do tipo impressa, em formato de dois folders, tamanho A4, colorida. A metodologia foi um estudo de caso em duas etapas. A primeira sobre: história da usuária, acesso e agenda, fatores de risco, sinais e sintomas, materiais e instrumentos necessários à coleta e, orientação à anamnese ginecológica. A segunda abordou: o gerenciamento de enfermagem com os insumos, qualificação da amostra, coletas especiais, e fluxo após laudo alterados.
Análise crítica e impactos da produção
A enfermagem da gestão municipal percebeu a necessidade de qualificar sua assistência e seus indicadores, para atuar no programa de prevenção do câncer do colo do útero, substituindo uma educação bancária por material interativo, uma TE, que pontuasse as fragilidades do processo de trabalho, com o intuito de orientar, comunicar, servir de apoio para dúvidas, além de construir uma comunicação didática e efetiva, apostando em mudanças de processos de trabalho
Considerações finais
A construção de uma TE, instrumentalizou tanto facilitadores como ouvintes na condução dos ciclos formativos e da fixação de conteúdo. A participação ativa dos enfermeiros durante a aplicação da TE, e sua utilização como espaço de registros, fomenta que a forma de gerir processos de trabalho a partir de dúvidas e fragilidades, utilizando tecnologias é uma metodologia relevante para a realidade do município.
UM OLHAR INSTITUCIONAL SOBRE A ARTETERAPIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Comunicação Oral Curta
1 UFSC; IFRS
2 Amurt - Amurtel
3 UFSC
Apresentação/Introdução
A arteterapia é uma Prática Integrativa e Complementar em Saúde (PICS) incipiente na Atenção Primária à Saúde (APS), mas que, em alguns serviços, existe no formato de oficinas de expressividade desde antes de sua introdução na Política Nacional de PICS. Trata-se de uma abordagem de cuidado em saúde que vem ao encontro da atenção psicossocial e promoção da saúde e se destina ao cuidado humanizado.
Objetivos
Este resumo tem por objetivo apresentar um olhar institucional sobre a arteterapia a partir de concepções de profissionais de saúde, trabalhadores de equipes de Unidades de Saúde da Família (USF) que oferecem essa abordagem como prática de cuidado.
Metodologia
Trata-se de pesquisa de doutorado qualitativa exploratória descritiva desenvolvida em serviços de APS que oferecem práticas de arteterapia vinculadas ao SUS, selecionados por conveniência. Foram realizadas visitas aos serviços identificados a partir do contato com USF registradas no sistema de informação DATASUS e entrevistas narrativas com 14 profissionais. São sete serviços de três diferentes municípios que oferecem semanalmente práticas coletivas de arteterapia. As entrevistas ocorreram no segundo semestre de 2023, com enfermeiros, médicos, assistentes sociais, psicólogos e agentes comunitários de saúde.
Resultados
Os profissionais relataram aspectos relacionados aos usuários, aos serviços e à gestão. Os usuários passaram a se vincular melhor às USF, e, em decorrência disso, demandar menos consultas. Percebeu-se melhoras quanto à qualidade de vida, convívio social, autoestima e redução no uso de medicamentos. Houve melhor adesão e vinculação aos acompanhamentos e tratamentos, e mudança no foco dos usuários, que antes era na doença, sofrimento e medicamentos. A arteterapia apoiou a APS no processo de desinstitucionalização em saúde mental e diminuiu a sobrecarga de trabalho das USF. Para grande parte da gestão dos municípios, essa prática ainda não é vista nem valorizada em sua magnitude.
Conclusões/Considerações
A arteterapia está ainda muito pautada no individual e no setor privado, e seus efeitos a nível de APS são pouco estudados. Os resultados dessa pesquisa apontam a importância de dar mais atenção a essa abordagem, dada sua interface com/entre atenção psicossocial aos transtornos de saúde mental e promoção da saúde. Investir na arteterapia na APS parece se mostrar promissor para cuidado e promoção em saúde mental.