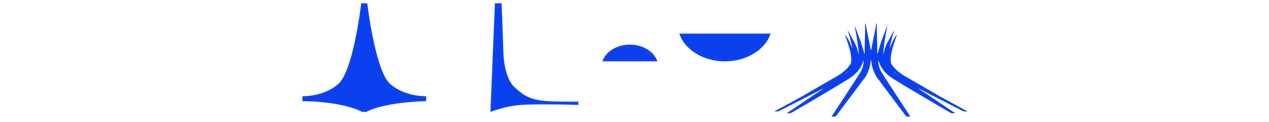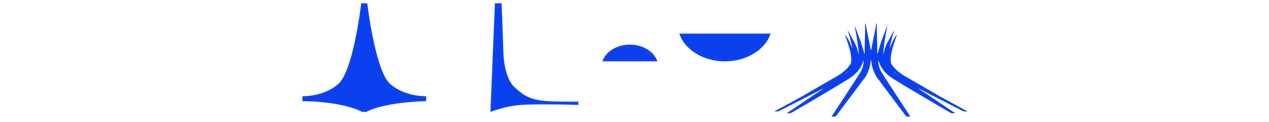Programa - Comunicação Oral Curta - COC2.6 - Alimentação, nutrição e modos de vida
02 DE DEZEMBRO | TERÇA-FEIRA
08:30 - 10:00
MUDANÇAS NO COMPORTAMENTO ALIMENTAR EM CRIANÇAS COM SOBREPESO E OBESIDADE: RESULTADOS DE UMA INTERVENÇÃO INTERPROFISSIONAL
Comunicação Oral Curta
1 PUCPR
Apresentação/Introdução
A obesidade infantil no Brasil impacta muitas crianças e está associada à síndrome metabólica. O comportamento alimentar, fundamental na prevenção e tratamento, é influenciado por fatores internos, externos e ambientais. Segundo a Teoria dos Sistemas Ecológicos de Bronfenbrenner, as interações sociais são essenciais para promover mudanças comportamentais duradouras.
Objetivos
Avaliar mudanças no comportamento alimentar de crianças com sobrepeso e obesidade, participantes de um programa interprofissional de saúde, após intervenção nutricional, sob a ótica das crianças e de seus familiares.
Metodologia
A pesquisa, de natureza qualitativa, foi realizada com 11 crianças, entre 7 e 12 anos, com sobrepeso ou obesidade, inscritas em um programa interprofissional promovido por uma instituição de ensino no sul do país (Programa ProSaúde), e seus familiares. A metodologia envolveu três etapas: entrevistas semiestruturadas iniciais, realizadas antes do início das oficinas; nove oficinas nutricionais interativas realizadas de julho a novembro de 2024, com participação familiar; e entrevistas finais, realizadas na quinzena seguinte, após a intervenção. As análises foram realizadas por meio da Análise do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC).
Resultados
Os resultados revelaram transformações na percepção sobre as práticas alimentares das crianças e familiares. No nível familiar, observou-se maior participação das crianças nas decisões alimentares, redução do consumo de ultraprocessados e reorganização das rotinas alimentares. Houve também avanços na compreensão crítica sobre conteúdos midiáticos e maior valorização da diversidade corporal. Mesmo sem intervenção direta no ambiente escolar, notou-se melhora na qualidade dos lanches levados de casa, fruto do envolvimento familiar. As oficinas práticas, fundamentadas em metodologias ativas, mostraram-se eficazes na promoção de reflexões e mudanças de comportamento.
Conclusões/Considerações
Os resultados deste estudo evidenciam que a intervenção nutricional, realizada no contexto de um programa interprofissional de saúde, contribuiu para mudanças positivas no comportamento alimentar de crianças com sobrepeso e obesidade. Sob a ótica das próprias crianças e de seus familiares, observou-se maior conscientização sobre escolhas alimentares, além do envolvimento ativo da família no processo de mudança.
O CONSUMO DE CARNES NO BRASIL: ANÁLISE DAS FOTOS DE REFEIÇÕES
Comunicação Oral Curta
1 Departamento de Políticas Públicas e Saúde Coletiva, Instituto Saúde e Sociedade, Universidade Federal de São Paulo
2 Departamento de Nutrição, Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo
3 Departamento de Engenharia Mecatrônica e de Sistemas Mecânico, Escola Politécnica, Universidade de São Paulo
Apresentação/Introdução
Avaliar o consumo alimentar é um desafio, mas essencial para os estudos em saúde. O uso de tecnologias pode se mostrar uma estratégia eficaz. No contexto do consumo alimentar, as carnes, especialmente a vermelha, ocupam um papel central e simbólico na alimentação de grande parte da população. O excesso de consumo é um problema relevante diante do impacto ambiental na produção da carne bovina.
Objetivos
Estimar a frequência do consumo de proteína animal na população brasileira a partir da avaliação de registros fotográficos de refeições e as associações de acordo com a situação sociodemográfica.
Metodologia
O estudo utiliza dados do projeto ClicPrato, que avalia a qualidade das refeições por meio de registros fotográficos. Neste estudo, foram consideradas 3088 fotografias de refeições de voluntários adultos, homens e mulheres, das cinco macrorregiões do Brasil. Foram conduzidas estimativas de frequência de grupos de alimentos oriundos de proteína animal e associações, teste Qui-quadrado (X²), com o objetivo de explorar as diferenças entre as frequências de proteína animal e situação sociodemográfica (sexo, faixa etária, escolaridade e macrorregiões). Utilizou-se o programa STATA® para todas as análises estatísticas, considerando o nível de significância de 5%.
Resultados
Das 3088 fotos, a proteína animal esteve em 80,5% das fotos enviadas. Dos tipos de proteína animal mais frequentes nas fotos, nota-se carne bovina (28,7%), aves (26,3%), ovos (17,3%). A presença de proteína animal nas fotos variou conforme a idade, sexo, escolaridade e macrorregião (p<0,001). As maiores frequências foram observadas nas fotos enviadas por idosos (93,4%) quando comparadas aos adolescentes (80,5%) e adultos (77,9%), nas mulheres (82,6%) do que em homens (71,6%), naqueles com menor escolaridade (84%) versus maior escolaridade - mínimo de ensino superior completo (79%) e nas regiões Norte (93,2%) e Centro-Oeste (92,7%), seguida do Sudeste (79,8%), Nordeste (77,9%) e Sul (71,6%).
Conclusões/Considerações
A análise das fotos revelou que a maioria dos registros apresentavam proteína animal, com destaque para carne bovina. Além disso, diferenças sociodemográficas foram observadas em relação ao consumo de proteína animal. Por fim, as fotos de refeições se mostraram uma estratégia prática e efetiva para para avaliação do consumo alimentar de populações.
QUALIDADE DO SONO E ESTADO NUTRICIONAL EM UNIVERSITÁRIOS: ESTUDO BRAZUCA-COVID 2023-2024
Comunicação Oral Curta
1 USP
Apresentação/Introdução
A qualidade do sono é um determinante pouco explorado do estado nutricional, especialmente em universitários, um grupo populacional frequentemente exposto a rotinas e hábitos irregulares que podem comprometer a saúde. Estudos recentes evidenciam que a má qualidade do sono pode levar a piora do estado nutricional (obesidade, deficiências nutricionais) e desequilíbrio metabólico.
Objetivos
Este estudo investiga a relação entre qualidade do sono e estado nutricional em universitários brasileiros participantes do estudo BRAZUCA-COVID.
Metodologia
Participaram da pesquisa 1.108 universitários da Universidade de São Paulo (USP). A qualidade do sono foi avaliada utilizando como base o Índice de qualidade do sono de Pittsburgh, com adaptações (“1-muito bom”, “2-bom”, “3- regular”, “4-ruim”, “5-muito ruim”); escores ≥ 5 indicam má qualidade do sono. O estado nutricional foi avaliado por índice de massa corporal (IMC). A variável mudança de peso foi avaliada conforme as respostas (“sim, para mais"; “não”; “sim, para menos”) obtidas pelo questionário. Foram realizados modelos de regressão logística ajustados por idade, gênero, raça, renda, estado civil e mudança de peso entre 2020 e 2022. Foi usado o software Stata versão 15.1.
Resultados
A eficiência habitual do sono foi predominantemente boa (≥85%). Além disso, 74,4% dos estudantes referiram dormir mais de 7h por noite, e 40% apresentaram uma qualidade de sono “muito boa”. Quanto ao estado nutricional, 33,3% dos entrevistados apresentaram excesso de peso. Não foi evidenciada associação significativa entre estado nutricional e qualidade do sono (χ² = 11,44; p=0.721). Apenas o ganho de peso reduziu as chances de boa qualidade do sono em 35% (OR = 0,65; p = 0,018). Nenhuma categoria nutricional apresentou associação significativa com qualidade do sono (p >0,05). As limitações deste estudo incluem viés de autorrelato e desenho transversal.
Conclusões/Considerações
O estudo mostrou que a maioria dos estudantes tem boa eficiência e duração do sono, relatando qualidade "muito boa". O ganho de peso recente reduziu as chances de boa qualidade do sono, embora sem associação significativa entre estado nutricional e qualidade do sono, sugerindo assim que fatores comportamentais e/ou subjetivos podem influenciar mais que o estado nutricional isoladamente.
SITUAÇÃO ALIMENTAR, NUTRICIONAL, PRÁTICA DE EXERCÍCIOS E SAÚDE DE ESTUDANTES E COLABORADORES DA UNIVERSO – POLO BELO HORIZONTE.
Comunicação Oral Curta
1 UNIVERSO BH
Período de Realização
Outubro a novembro de 2024
Objeto da experiência
Condições de saúde de estudantes e colaboradores da Universo – Polo Belo Horizonte.
Objetivos
Analisar a alimentação, exercícios físicos e saúde de estudantes e colaboradores da UNIVERSO BH.
Descrição da experiência
Estudo exploratório e descritivo sobre alimentação, nutrição, atividade física e saúde de estudantes e colaboradores da Faculdade Universo (BH). A coleta ocorreu de outubro a novembro de 2024, via questionário online pelo WhatsApp. O instrumento continha 8 seções e levou cerca de 15 minutos para ser preenchido. Participaram apenas os que aceitaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Resultados
Foram 39 participantes, 71,8% são mulheres entre 25-35 anos, brancos (53,8%) com ensino médio (53,8%). 51,3% trabalham em tempo integral, renda entre R$3.001-R$5.000. A maioria faz 4 refeições/dia, consome álcool ao menos 1 vez/semana e 76,9% comem assistindo TV ou celular. 20,5% ganharam 5-10kg, 51,3% adicionam sal, 10,3% consome refrigerante todos os dias. 17,9% não praticaram exercícios, 7,7% fumam. Obesidade (15,4%), colesterol alto (12,8%), hipertensão (10,3%). 7,7% avaliam saúde ruim.
Aprendizado e análise crítica
Estudo revelou perfis de risco: predomínio de mulheres jovens de renda média com hábitos pouco saudáveis (refeições diante de telas, sal em excesso, consumo diário de refrigerantes e sedentarismo). A alta prevalência de ganho de peso e de doenças crônicas (obesidade, colesterol alto, hipertensão) aponta para intervenções nutricionais e promoção de exercícios. Limitações: amostra pequena, autorrelato e viés de seleção. Achados apoiam programas educativos institucionais.
Conclusões e/ou Recomendações
Em conclusão, o perfil majoritariamente feminino e jovem, com hábitos alimentares e de atividade física inadequados, aumenta o risco de sobrepeso e doenças crônicas. Limitações como amostra pequena, autorrelato e viés de seleção apontam para estudos futuros mais amplos. Ainda assim, os achados justificam programas institucionais de educação nutricional e promoção de exercícios.
COMPORTAMENTO DOS DOMICÍLIOS FRENTE À NOVA CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS
Comunicação Oral Curta
1 UFV
Apresentação/Introdução
A redefinição da cesta básica brasileira ganha destaque com a reforma tributária e as transformações nos padrões alimentares da população. Além de considerar diretrizes nutricionais e aspectos socioeconômicos, é fundamental compreender como os consumidores reagem às variações de preços. Assim, a análise das elasticidades se torna essencial para embasar decisões sobre a nova composição da cesta.
Objetivos
Estimar as elasticidades-preço de grupos alimentos que compõem a nova cesta básica brasileira, a fim de analisar o comportamento dos domicílios frente às mudanças nos preços.
Metodologia
Foram calculadas as elasticidades-preço próprio e cruzado de seis grupos de alimentos da cesta básica brasileira, com dados de 49.394 domicílios da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2017-2018. O Sistema de Demanda Quase Ideal (LA/AIDS) foi usado para estimar as relações de consumo. Os preços foram obtidos dos valores unitários pagos pelos domicílios, ajustados pelo método de Cox e Wohlgenant. O preço médio estadual serviu como substituto para domicílios sem informação. O gasto total com os grupos foi usado como proxy da renda familiar. Características sociodemográficas foram incluídas para captar variações no comportamento do consumidor.
Resultados
As categorias de alimentos mais elásticas foram “feijões” (-1,646), “raízes e tubérculos” (-1,465) e, “frutas” (-1,458). Relações de substituição ocorrem entre os grupos "feijões" e "raízes e tubérculos" (0.101) e "AUP doces" (0.97); "cereais" e "carnes e ovos" (0.107); "frutas" e "cereais" (0.131), evidenciando que o aumento no preço de um incentiva o consumo do outro. Dentre as relações de complementaridade, destacam-se os grupos "feijões" e "cereais" (-0.241); "raízes e tubérculos" e "verduras e legumes" (-0.113) e "verduras e legumes" e "frutas" (-0.062), sugerindo que o aumento no preço de um grupo impacta negativamente o consumo do outro.
Conclusões/Considerações
Os preços dos grupos da cesta básica influenciam sua demanda. Alimentos mais elásticos, como feijões e frutas, sofrem maiores reduções na demanda quando os preços aumentam. Mudanças nos preços geram substituições, como entre o grupo "cereais" e "carnes e ovos", e complementaridades, como entre "feijões" e "cereais", mostrando que as intervenções fiscais interferem não apenas no consumo de um único alimento, mas também modificam padrões alimentares.
COMPORTAMENTO SAUDÁVEL ENTRE ADULTOS JOVENS PARTICIPANTES DA COORTE DE NASCIMENTOS DE 1982 DE PELOTAS, RS
Comunicação Oral Curta
1 UFPEL
Apresentação/Introdução
O comportamento saudável envolve a adoção simultânea de práticas protetoras à saúde, como evitar o tabaco e o álcool, ter uma alimentação equilibrada e praticar atividade física. Esses hábitos são influenciados por fatores culturais, sociais, políticos e econômicos, além de estarem associados a um menor risco de desenvolver Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT).
Objetivos
Avaliar a prevalência de comportamento saudável aos 30 anos dos participantes da Coorte de Nascimentos de 1982 de Pelotas, RS, considerando características sociodemográficas e indicadores de saúde.
Metodologia
Análise transversal com dados do acompanhamento de 30 anos da Coorte de Nascimentos de 1982 de Pelotas-RS. Foram avaliados 3.474 participantes (68,1% da amostra original) com idade média de 30,2 anos. Comportamento saudável foi operacionalizado pela prática simultânea de quatro comportamentos: atividade física no lazer ≥150 minutos/semana, consumo ≥400g de frutas/verduras/legumes por dia, não ser fumante e não apresentar consumo excessivo de álcool. Utilizou-se regressão de Poisson robusta e regressão logística multinomial para análise bruta e ajustada dos fatores associados e do acúmulo de comportamentos saudáveis, respectivamente. Foram considerados fatores de confusão sexo e cor da pele.
Resultados
Mulheres apresentaram maior prevalência de tabagismo, consumo de FLV e álcool, enquanto homens praticaram o dobro de atividade física. A adoção de comportamentos saudáveis esteve associada positivamente com a escolaridade, renda e melhor percepção da saúde. Maior escolaridade foi associada a maior chance de acumular três comportamentos saudáveis (RO: 3,48; IC 95%: 2,34; 5,18). Aqueles do maior tercil de renda apresentaram chances 2,79 (IC 95%: 1,60; 4,86) maiores de acumular 4 comportamentos saudáveis em comparação aos de menor renda. Os mais insatisfeitos com a saúde apresentaram 0,16 (IC 95%: 0,05; 0,56) mais chances de acumular 4 comportamentos saudáveis, em relação aos satisfeitos.
Conclusões/Considerações
Este estudo observou baixa prevalência de comportamento saudável entre os adultos avaliados. Destaca-se a necessidade de intervenções e políticas públicas que abordem as barreiras estruturais enfrentadas por grupos socioeconomicamente desfavorecidos, visando à promoção equitativa da saúde, bem como priorizar o incentivo à adoção de estilos de vida saudáveis para ampliar o alcance das estratégias de prevenção de DCNT.
PADRÕES ALIMENTARES DE CRIANÇAS BRASILEIRAS <5 ANOS: ESTUDO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO INFANTIL - 2019
Comunicação Oral Curta
1 UFRJ
2 UFG
3 UFP
4 UERJ
Apresentação/Introdução
Hábitos alimentares, que podem ser estudados através de padrões alimentares (PA), são formados nos primeiros anos de vida e estão associados a diferentes desfechos em saúde. Contudo, faltam estudos com representatividade nacional sobre os padrões alimentares de crianças brasileiras < 5 anos, que podem auxiliar na formulação de políticas públicas.
Objetivos
Descrever os padrões alimentares de crianças brasileiras de 6–23 e 24–59 meses de idade.
Metodologia
Estudo transversal que utilizou dados do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil -2019, inquérito nacional de base domiciliar. Foram analisados dados de consumo alimentar (n=12.553 crianças), por meio do recordatório de 24 horas. Alimentos com baixa frequência de consumo (< 1%) foram excluídos e os restantes agrupados em 12 grupos alimentares. O número de padrões fora determinado por autovalores e screeplot. Os PA foram obtidos por análise fatorial, usando extração por análise de componentes principais e rotação Varimax. Os PA foram derivados por faixa etária (6–23; 24–59 meses). As análises foram realizadas em linguagem de programação R considerando plano amostral complexo.
Resultados
Foram derivados três PA para cada faixa etária. Para 6–23 meses, observamos os padrões denominados como “papinha”, composto por caldos e sopas; “lácteo”, composto por açúcares, farinhas instantâneas e leite e “diverso”, composto por hortaliças e frutas, caldos e sopas, óleos e gorduras e aleitamento. Nas crianças de 24–59 meses observamos os padrões denominados como “brasileiro”, composto por cereais e tubérculos, carnes, leguminosas, lanches e bebidas adoçadas; “papas e frutas”, composto por caldos e sopas, óleos e gorduras e hortaliças e frutas e por fim, o “não lácteo”, composto pela ausência de consumo de leite e de farinhas instantâneas.
Conclusões/Considerações
Os PA indicam baixa diversidade, monotonia alimentar e consumo de ultraprocessados, divergindo das recomendações dos Guias alimentares. Os PA “lácteo” e “brasileiro” mostram consumo de alimentos ricos em açúcares, associados ao excesso de peso. Estudar os PA, é uma forma de identificar grupos alimentares que podem causar prejuízos a saúde, e podem auxiliar na promoção de políticas para garantia da alimentação adequada e saudável.
PREDOMÍNIO DE ULTRAPROCESSADOS NO CONSUMO ALIMENTAR DE GESTANTES ADOLESCENTES DA REGIÃO NORTE DO BRASIL
Comunicação Oral Curta
1 UFPA
2 ISC/UFF
Apresentação/Introdução
A gravidez na adolescência tem ampla relevância na saúde pública, especialmente em contextos de maior vulnerabilidade social, como na região Norte do Brasil. A baixa qualidade nutricional e alta densidade energética dos alimentos ultraprocessados contribui para o aumento do risco de complicações na saúde gestacional das jovens e no desenvolvimento saudável do feto.
Objetivos
Descrever o predomínio de alimentos ultraprocessados no consumo alimentar de grávidas adolescentes cadastradas no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) na região Norte entre 2021 e 2024.
Metodologia
Estudo ecológico descritivo, no qual foram coletados dados dos relatórios públicos do SISVAN. Foi selecionada a opção de Consumo Alimentar por grávidas adolescentes, para a região Norte do Brasil. Foi escolhida a seção de ingestão de alimentos ultraprocessados no consumo alimentar para os anos de 2021 a 2024. Os dados foram analisados no Microsoft Excel.
Resultados
Durante o período analisado, foram acompanhadas 7.376 gestantes adolescentes na região Norte, totalizando 5.643 alimentos consumidos. A distribuição anual do consumo revelou que, ao longo dos últimos quatro anos, houve uma tendência de redução percentual no consumo de ultraprocessados, passando de 84% em 2021 para 73% em 2024. Apesar dessa diminuição, os ultraprocessados ainda predominam o consumo alimentar das jovens com uma média anual elevada, de 77,5%, em relação ao total de alimentos consumidos por estas durante a gravidez.
Conclusões/Considerações
Os dados apontam para um progresso na redução do consumo de ultraprocessados, mas também revelam um desafio persistente. Esses alimentos, embora apresentem tendência de queda, continuam representando mais de 3/4 do consumo alimentar avaliado. Reforça-se a necessidade de promover ações de educação alimentar e nutricional e a melhor acessibilidade a alimentos saudáveis por essa parcela populacional.