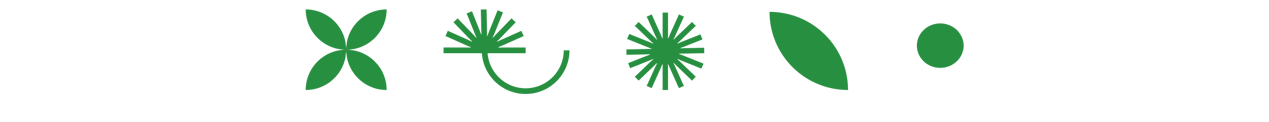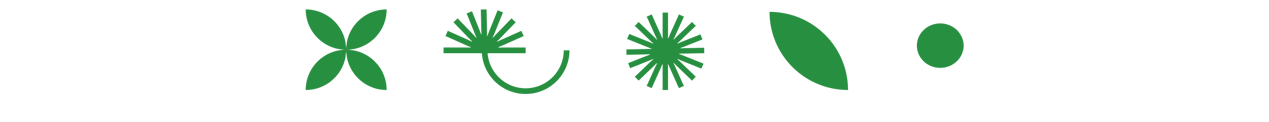Programa - Comunicação Oral Curta - COC2.12 - Diferentes dimensões da insegurança alimentar: saúde humana e planetária
03 DE DEZEMBRO | QUARTA-FEIRA
08:30 - 10:00
PANDEMIA, POLÍTICAS PÚBLICAS E INVISIBILIDADE SOCIAL: EXPERIÊNCIAS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR NO BRASIL
Comunicação Oral Curta
1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE
2 UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE
Apresentação/Introdução
A pandemia de covid-19 agravou a insegurança alimentar e nutricional (InSAN) no Brasil, afetando especialmente mulheres em situação de vulnerabilidade. A disponibilidade de alimentos foi prejudicada por alterações na agricultura, nos sistemas alimentares e nas redes de abastecimento com consequente aumento nos preços, gerada pela diminuição do acesso ou pela escassez dos alimentos.
Objetivos
Analisar as vivências de mulheres em situação de insegurança alimentar e refletir sobre os efeitos das políticas públicas na garantia do direito à alimentação durante a pandemia de covid-19 em Recife, Pernambuco.
Metodologia
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com entrevistas em profundidade realizadas com oito mulheres beneficiárias do Bolsa Família. Os dados foram coletados entre julho e dezembro de 2023 em um Centro de Referência da Assistência Social. Foram critérios de inclusão ser residente da cidade e maior de idade, ter sido beneficiário de programa de transferência de renda durante a pandemia e ter sido beneficiário de ações públicas para garantia da SAN no mesmo interstício, e de exclusão os indivíduos com tempo de benefício inferior a 03 meses. Os dados foram analisados por meio da Análise do Discurso, com foco sobre as condições de vida, acesso à alimentação e os impactos das políticas públicas.
Resultados
As narrativas revelam que, embora marcadas por histórico de extrema vulnerabilidade, as participantes vivenciaram durante a pandemia um breve período de estabilidade alimentar, sobretudo em razão do Auxílio Emergencial. Essa fase foi percebida como única, em que a alimentação deixou de ser uma angústia cotidiana. No entanto, o fim das ações revelou a fragilidade estrutural das políticas públicas, o retorno à fome e a reafirmação da invisibilidade social. As falas apontam que, apesar de temporárias, tais ações evidenciaram o potencial de transformação social quando o Estado atua de forma efetiva.
Conclusões/Considerações
O estudo evidencia que políticas públicas emergenciais puderam reduzir, ainda que temporariamente, os efeitos da insegurança alimentar e romper ciclos de invisibilidade. A escuta das beneficiárias reforça a urgência de políticas intersetoriais e estruturantes, capazes de promover segurança alimentar de forma contínua e sustentável, a partir da inclusão ativa das populações vulnerabilizadas.
MAPEAMENTO DE PRÁTICAS DE PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL NOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL NO BRASIL
Comunicação Oral Curta
1 Unipampa
Período de Realização
junho de 2023 à novembro de 2024
Objeto da experiência
Identificação de ações de promoção da alimentação adequada e saudável desenvolvidas por extensionistas rurais no Brasil
Objetivos
Identificar, conhecer, sistematizar e divulgar práticas de trabalho, experiências e tecnologias de extensão rural.
Descrição da experiência
O projeto Guia Alimentar na ATER (desenvolvido pela Unipampa e CGAN/DEPROS/SAPS/MS, e apoio da OPAS), propôs um mapeamento de práticas de promoção da alimentação adequada e saudável. A chamada ocorreu entre fevereiro e outubro de 2024, divulgada nos sites oficiais e redes sociais das instituições envolvidas. As inscrições foram realizadas por extensionistas rurais, em formulário online, onde a descrição do relato foi guiada a partir de questões sobre as ações de trabalho.
Resultados
33 relatos de experiência submetidos à chamada pública tiveram a contribuição de 184 pessoas, entre autores e coautores, abrangendo 14 estados do país. Os relatos receberam avaliação duplo cega, e após análise, foram selecionados 14 relatos para divulgação em formato de texto e de vídeo em livro digital. Autores dos 2 relatos com maior pontuação na avaliação (sobre PAA indígena e PNAE com 100% da agricultura familiar) tiveram a oportunidade de realizar visitação cooperada em outubro de 2024.
Aprendizado e análise crítica
A partir dos relatos das práticas de trabalho, identificaram-se experiências potentes e exitosas na caminhada para o alcance da alimentação saudável. Estima-se que o compartilhamento das experiências trazidas no Mapeamento possa ser inspirador para outros extensionistas, e também para indivíduos e coletivos inseridos nos espaços de governança e gestão de políticas públicas, nos espaços de pesquisa, de ensino, de extensão, de inovação, assim como nos espaços comunitários e de organização social.
Conclusões e/ou Recomendações
Compreende-se a ação extensionista a partir de pressupostos educativo-comunicativos: os serviços de ATER se baseiam no contato entre pessoas, na busca pela educação de modo que, ao realizar a extensão rural, extensionistas tratam dos diversos elementos do cotidiano das populações do campo, da floresta e das águas. Nesse contexto, reforçado pelo Mapeamento de Práticas, reconhecemos a alimentação saudável como importante campo de prática da ATER.
INSEGURANÇA ALIMENTAR E MAPEAMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NAS REGIÕES BRASILEIRAS
Comunicação Oral Curta
1 UFRJ
Apresentação/Introdução
O Brasil possui um papel pioneiro no desenvolvimento de estratégias públicas de enfrentamento à pobreza e insegurança alimentar (IA), e destaca-se que em 2014 o país saiu do mapa da fome. Entretanto, mediante as crises políticas, econômicas, sociais e ambientais associadas às desigualdades territoriais do país ocorreu um retrocesso, e ao mesmo tempo, agravamento da IA nas famílias brasileiras.
Objetivos
Mapear as ações de SAN existentes nas regiões brasileiras, e analisar como dialogam com os níveis de IA no país.
Metodologia
Estudo transversal com dados secundários de 2 pesquisas nacionais realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2023: Pesquisa Nacional de Amostras Domiciliares contínua (PNADc) e Pesquisa de Informações Básicas Estaduais (ESTADIC). Na PNADc analisou-se a IA aferida pela Escala Brasileira de Insegurança Alimentar. A partir da ESTADIC verificou-se informações de 15 ações de SAN contidas no bloco temático sobre o tema, categorizadas em grupos de análise, e analisadas por regiões. Prevalências e intervalos de confiança de 95%/IC95% foram calculadas no software STATA 16.
Resultados
Regiões Norte (16%;IC95%15,2–16,8) e Nordeste (14,9%;IC95%14,4–15,3) apresentaram maior prevalência de famílias com IA moderada/grave, seguidas pelo Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Sobre às ações de SAN, o Norte teve 1/3 de adesão à manutenção de bancos de alimentos, cozinhas comunitárias e feiras públicas. O Nordeste teve a menor adesão das ações, com baixa manutenção de bancos de alimentos (22,2%). Houve alta adesão ao Programa Cisternas no Nordeste (88,9%) e Norte (50%). A região Sul não aderiu ao programa das Hortas Escolares e o Sudeste teve baixa manutenção dos equipamentos públicos de SAN. A região Centro-Oeste obteve maior execução de atividades.
Conclusões/Considerações
A situação de IA é heterogênea no território brasileiros. Regiões Norte e Nordeste possuem o dobro de IA moderada/grave quando comparado às demais regiões. São também as regiões com baixa adesão em diversas ações de SAN que poderiam promover o acesso à alimentação para a população. Diante disso, incentiva-se o fortalecimento de atividades mais equitativas e territorialmente justas, para garantia da alimentação como direito humano da população.
RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: OFICINA DE ESPECIALISTAS COMO ETAPA DA FORMULAÇÃO
Comunicação Oral Curta
1 UNIRIO
2 MDS
Período de Realização
Realizada presencialmente em Brasília, em março de 2025, durante dois dias consecutivos.
Objeto da experiência
Oficina de escuta sobre recomendações para qualificação das ações de Segurança Alimentar e Nutricional no Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
Objetivos
Promover a participação de atores estratégicos na etapa de construção de um conjunto de recomendações para gestores e profissionais do SUAS a fim de apoiar a qualificação das ações de Segurança Alimentar e Nutricional(SAN) no SUAS.
Descrição da experiência
Promovida pela Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (MDS), com apoio da Secretaria Nacional de Assistência Social (MDS) e Núcleo de Segurança Alimentar e Nutricional (UNIRIO). Envolveu profissionais e gestores do SUAS, pesquisadores, conselhos profissionais, de assistência e de SAN, distribuídos em três grupos, em que foram mescladas diferentes categorias. Cada grupo discutiu, em 8 rodadas, cada uma das 99 recomendações previamente elaboradas e distribuídas em cards.
Resultados
Com as diferentes experiências e conhecimentos técnicos, as discussões resultaram em: 30 recomendações mantidas na forma original, 61 com alteração na redação, 8 excluídas e 6 novas. Foram mantidas as consideradas pertinentes por, pelo menos, dois grupos e aquelas sem consenso foram ajustadas ou agrupadas. Considerou-se as contribuições dos três grupos de forma integrada, garantindo um resultado representativo. Os participantes manifestaram o intercâmbio que a dinâmica usada possibilitou.
Aprendizado e análise crítica
A oficina mostrou a importância da escuta qualificada e da participação de diferentes atores, que trazem consigo suas vivências e olhares dos territórios, na formulação de recomendações sobre temática tão intersetorial como a SAN. As contribuições permitiram aperfeiçoamento técnico e contextual das recomendações que dificilmente seria obtido de outro modo, uma vez que a cada rodada argumentos contrários foram postos em discussão e tiveram que ser negociados coletivamente.
Conclusões e/ou Recomendações
A escuta dos atores e a discussão foi uma etapa essencial na formulação de recomendações aplicáveis e alinhadas às distintas realidades dos territórios e da gestão do SUAS, que deve ainda ser complementada pela consulta pública, a fim de ampliar a participação dos interessados. Recomenda-se estabelecer processos participativos para garantir relevância, viabilidade e eficácia na formulação de diretrizes nacionais no âmbito de políticas públicas.
MEDIADORES PSICOLÓGICOS DA RELAÇÃO ENTRE INSEGURANÇA ALIMENTAR E COMPULSÃO ALIMENTAR EM UNIVERSITÁRIOS: UMA ANÁLISE DE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS.
Comunicação Oral Curta
1 UFBA
2 CIDACS/FIOCRUZ
3 UNEB/CIDACS/FIOCRUZ
Apresentação/Introdução
A insegurança alimentar (IA) aumentou globalmente durante a pandemia de COVID-19, influenciando negativamente a saúde física e mental, especialmente entre estudantes universitários. Como consequência, a junção destes dois fatores pode favorecer o aumento de comportamentos alimentares transtornados e insatisfação corporal, evidenciando a interseção entre vulnerabilidade social e sofrimento psicológico.
Objetivos
Investigar se a insatisfação com a imagem corporal pelo excesso de peso e o sofrimento psicológico mediam a associação entre IA e episódios de compulsão alimentar em estudantes universitários brasileiros durante a pandemia da COVID-19.
Metodologia
Estudo transversal com dados da Coorte On-line de Comportamento Alimentar e Saúde (COCASa), com 1.446 estudantes universitários brasileiros maiores de 18 anos, de ambos os sexos. A coleta ocorreu via formulário on-line entre julho e dezembro de 2020. A IA foi avaliada pela Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, o sofrimento psicológico pela Depression, Anxiety, Stress Scale- 21 reduzida, a imagem corporal pela Escala de Stunkard, e a frequência de compulsão alimentar nos últimos 6 meses foi relatada. Modelagem de equações estruturais foi realizada no software R versão 4.3.3, com avaliação da qualidade do ajuste pelos índices χ²/df, RMSEA, SRMR, CFI e TLI para eleição do modelo final.
Resultados
A insegurança alimentar se associou diretamente à compulsão alimentar (β = 0,093; IC95%: 0,08-0,368) e sofrimento psicológico (β = 0,239; IC95%: 0,369–0,627). O sofrimento teve efeito direto sobre a insatisfação pelo excesso de peso (β = 0,138; IC95%: 0,059–0,240) e compulsão alimentar (β = 0,301; IC95%: 0,267–0,435), além do efeito indireto via insatisfação pelo excesso de peso (β = 0,049; IC95%: 0,023-0,090). A insegurança alimentar teve efeito indireto sobre compulsão alimentar mediado pelo sofrimento psicológico (β = 0,072; IC95%: 0,113-0.236) e por caminho sequencial com insatisfação corporal (β = 0,012; IC95%: 0,010-0,047).
Conclusões/Considerações
Este estudo revelou que a IA foi associada diretamente à compulsão alimentar e ao sofrimento psicológico, sendo que este e a insatisfação corporal pelo excesso de peso atuaram como mediadores dessa relação. Os achados reforçam a necessidade de abordagens integradas que considerem impactos emocionais e perceptivos da IA na saúde física e mental daqueles que convivem com a escassez de alimentos nos domicílios.
QUALIDADE DE VIDA E INSEGURANÇA ALIMENTAR ENTRE PESSOAS COM CÂNCER ELEGÍVEIS PARA TRATAMENTO RADIOTERÁPICO
Comunicação Oral Curta
1 UFPR
Apresentação/Introdução
O câncer é uma doença cujo diagnóstico e tratamento se constituem experiências traumáticas, com piora da qualidade de vida. Os efeitos da doença e do tratamento, e as dificuldades econômicas resultantes podem aumentar a insegurança alimentar. A insegurança limita os resultados do tratamento, pois efeitos colaterais demandam capacidade de adaptação e flexibilidade para lidar com os sintomas.
Objetivos
Este estudo objetiva analisar a associação da insegurança alimentar com as dimensões física e mental da qualidade de vida em pessoas com câncer, elegíveis para tratamento radioterápico.
Metodologia
Estudo transversal com adultos e idosos com câncer elegíveis para tratamento radioterápico atendidos em hospital de referência pelo Sistema Único de Saúde. A qualidade de vida foi investigada por meio do Short Form Health Survey 36 (SF-36), e a insegurança alimentar por meio da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA). Modelos de regressão logística fracionária foram empregados para estimar os coeficientes e intervalos de confiança de 95% (IC95%) da relação entre os domínios de qualidade de vida físico e mental, e insegurança alimentar. As análises foram ajustadas para sexo, idade e topografia do câncer (local de irradiação).
Resultados
Participaram 254 pessoas, 51,7% do sexo feminino, 61,0% idosos, 44,9% câncer região pelve 17,7% cabeça e pescoço. A prevalência de insegurança alimentar foi de 17,2%, sendo 7,4% leve e 9,8% moderada/grave. Observados maiores escores de qualidade de vida no sexo masculino, e com tumores na região da pelve, e menores para aqueles com insegurança alimentar. Após ajuste para sexo, idade e topografia, a insegurança alimentar leve esteve permaneceu associada a menores escores na dimensão mental da qualidade de vida (-0,49 IC95% -0,93; -0,05); enquanto a insegurança alimentar moderada e grave em ambas dimensões: física (-0,61; IC95%: -0,97; -0,24) e mental (-1,06 IC95% -1,46; -0,65).
Conclusões/Considerações
Pessoas com câncer elegíveis para tratamento radioterápico com insegurança alimentar apresentaram piores escores de qualidade de vida, o que pode interferir na resposta ao tratamento, sendo grupos prioritários às mulheres, e àqueles com câncer na região de cabeça e pescoço. Os resultados destacam a importância de considerar a insegurança alimentar no início do tratamento.
PADRÃO ALIMENTAR BASEADO EM ALIMENTOS IN NATURA E MINIMAMENTE PROCESSADOS INTEGRAIS DE ORIGEM VEGETAL: IMPACTOS NA SAÚDE HUMANA E PLANETÁRIA
Comunicação Oral Curta
1 Nupens/USP
Apresentação/Introdução
Dietas não saudáveis e insustentáveis são uma das principais causas de má nutrição e de impactos ambientais consideráveis. Embora existam evidências sobre os efeitos de alimentos in natura ou minimamente processados de origem vegetal, como frutas, verduras e leguminosas, há uma lacuna de estudos que avaliem o padrão de consumo desses alimentos e seus impactos na saúde humana e planetária.
Objetivos
Avaliar a associação entre a adesão a uma padrão alimentar baseado em alimentos in natura e minimamente processados integrais de origem vegetal (WPF) com qualidade nutricional da dieta, incidência de hipertensão e impacto ambiental da dieta.
Metodologia
Foram utilizados dados da coorte NutriNet-Brasil (n 23.079). Os participantes responderam a dois recordatórios alimentares de 24 horas adaptados para avaliar o consumo alimentar segundo características do processamento industrial dos alimentos. A adesão a um padrão alimentar baseado em WPF foi calculada pela participação calórica do conjunto de cereais integrais, oleaginosas, frutas, verduras e leguminosas. Os desfechos de saúde humana e planetária avaliados foram: a) um indicador que representa o número de nutrientes críticos com consumo inadequado (0-6 pontos), segundo a OMS, b) pegadas de carbono (CO2eq kg/1000kcal) e hídricas (L/1000kcal) da dieta; e c) incidência de hipertensão arterial.
Resultados
A média de % WPF foi de 17,5%. Os indivíduos com maior % WPF (5º quintil) apresentaram menor risco de incidência de HAS (Risco Relativo – RR: 0.72, Intervalo de Confiança 95% - IC 95% 0.61; 0.85), menor pegada de carbono (β -0.82; IC 95% -0.90; -0.75), menor pegada hídrica (β -0.14; IC 95% -0.21; -0.07) e menor inadequação de nutrientes relacionados à DCNT (β -1.55; IC 95% -1.58; -1.51), após ajustes por variáveis sociodemográficas.
Conclusões/Considerações
A maior adesão a um padrão alimentar baseado em alimentos in natura e minimamente processados integrais de origem vegetal está associado com indicadores de saúde humana e planetária. Sendo importante, portanto, monitorar a adesão a esse padrão.
INSEGURANÇA ALIMENTAR E ADESÃO À DIETA EAT-LANCET NO ANTROPOCENO: DESAFIOS PARA UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, SUSTENTÁVEL E EQUITATIVA
Comunicação Oral Curta
1 NIESN Pesquisador do Núcleo Interdisciplinar de Saúde e Nutrição. Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, Brasil; Programa de Pós Graduação em Ciências da Nutrição, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Pa
2 Programa de Pós-Graduação em Modelo de Decisão e Saúde, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, Brasil. NIESN Pesquisador do Núcleo Interdisciplinar de Saúde e Nutrição. Centro de Ciências da Saúde, Universid
Apresentação/Introdução
A dieta EAT-Lancet apresenta um conjunto de recomendações para uma alimentação saudável e sustentável. Estudos indicam que sua adesão promove a redução do risco de mortes prematuras por câncer e doenças cardiovasculares, além de diminuir as emissões de gases de efeito estufa e o uso de fertilizantes. A crescente insegurança alimentar (IA) dificulta a adesão de mudanças naqueles em vulnerabilidade social.
Objetivos
Analisar os desafios de adesão à dieta EAT-Lancet no contexto da IA, relacionando aspectos do Índice de Dieta de Saúde Planetária e os impactos do Antropoceno
Metodologia
Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, com base em artigos presentes nas bases PubMed, SciELO e Web of Science, publicados entre 2019 e 2024. Foram utilizados os descritores: “EAT-Lancet”, “Planetary Health Diet Index”, “food insecurity”, “Antropocene” e “sustainable diets”. Consultados também os relatórios técnicos da FAO, IPCC e The Lancet Commissions. Os estudos foram analisados quanto à compatibilidade entre os princípios da dieta EAT-Lancet e as condições socioeconômicas de populações em situação de insegurança alimentar. As implicações do Antropoceno foram incluídas com base em evidências sobre os efeitos ambientais e sociais dos sistemas alimentares atuais.
Resultados
Adotar à dieta EAT-Lancet ainda é bem limitada ao redor do mundo, principalmente entre populações em situação de IA. Alimentos recomendados (frutas, hortaliças, oleaginosas e proteínas vegetais) são mais onerosos e de difícil disponibilidade. No Brasil, a situação de IA afeta mais de 30% das residências familiares, dificultando a adesão de padrões alimentares compatíveis com o Índice de Dieta de Saúde Planetária. Além disso, o Antropoceno, indicado por mudanças climáticas, perda de biodiversidade e degradação ambiental, intensifica esse cenário. Os dados apontam a necessidade de políticas públicas que auxiliem e integrem justiça social, segurança alimentar e sustentabilidade ambiental.
Conclusões/Considerações
A EAT-Lancet oferece diretrizes globais, mas sua implementação requer adaptações às realidades socioeconômicas locais. A IA compromete o acesso a alimentos, refletindo a dificuldade adicional a adesão a dietas saudáveis e sustentáveis, agravada pelas dinâmicas do Antropoceno. Políticas públicas que articulem saúde coletiva, segurança alimentar e nutricional e equidade social são essenciais para garantir o direito humano à alimentação adequada.