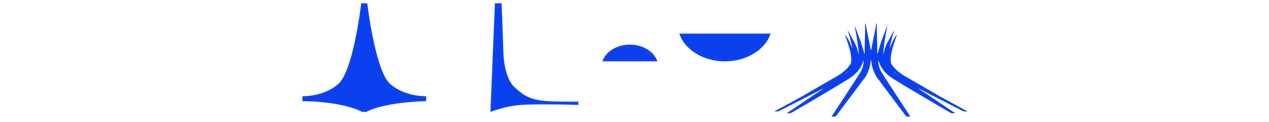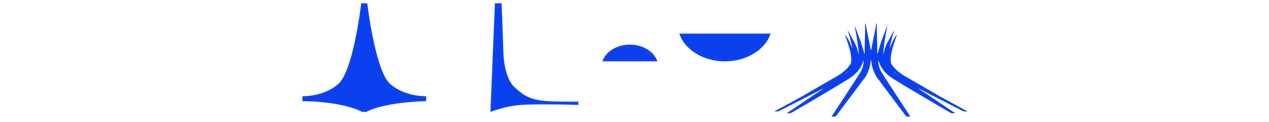Programa - Comunicação Oral Curta - COC1.3 - Multimorbidade, Desigualdades e Fatores Sociais
03 DE DEZEMBRO | QUARTA-FEIRA
08:30 - 10:00
ASSOCIAÇÃO DE QUEDAS E MULTIMORBIDADE NA MOBILIDADE DE PESSOAS IDOSAS BRASILEIRAS: ELSI-BRASIL
Comunicação Oral Curta
1 Universidade Cidade de São Paulo (UNICID) – Programa de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado em Fisioterapia
2 Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas)
Apresentação/Introdução
O envelhecimento está associado ao aumento de condições crônicas e quedas, que comprometem a mobilidade de pessoas idosas. A presença simultânea desses fatores pode intensificar limitações físicas, impactando nas atividades diárias como caminhar, subir escadas e levantar-se, o que reduz a independência dessa população.
Objetivos
Analisar a associação entre quedas e multimorbidade e sua relação com a mobilidade de pessoas idosas brasileiras.
Metodologia
Estudo transversal realizado com dados da segunda onda do Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros (ELSI-Brasil, 2019/2021), com 9.949 indivíduos. Na presente pesquisa foram incluídos participantes com 60 anos ou mais que responderam às variáveis de interesse (quedas, doenças crônicas e mobilidade). A amostra final foi de 6.578 idosos, classificados em quatro grupos: sem quedas/ sem multimorbidade; com multimorbidade/ sem quedas; com quedas/ sem multimorbidade; e com multimorbidade/ com quedas. Foi realizada análise de regressão multivariada ajustada por sexo, faixa etária e escolaridade.
Resultados
14,1% apresentaram multimorbidade e quedas no último ano. Quanto à mobilidade, 66,4% relataram dificuldade em ao menos uma das seguintes atividades: andar 1 km; caminhar 100 metros; subir vários lances de escada; subir um lance de escada. Na regressão multivariada, o grupo com multimorbidade e quedas teve maior razão de chance (RC) de dificuldade de mobilidade (RC=3,42; IC95%: 2,82–4,15), seguido pelos grupos com multimorbidade sem quedas (RC=2,21; IC95%: 1,96–2,49) e com quedas sem multimorbidade (RC=1,53; IC95%: 1,20–1,95).
Conclusões/Considerações
Tanto a multimorbidade quanto as quedas comprometem a mobilidade de pessoas idosas. Quando associadas, a medida de efeito aumenta, o que sugere a necessidade de intervenções específicas para prevenção e manejo das doenças crônicas e das quedas, a fim de preservar a mobilidade e a independência funcional dessa população
DESIGUALDADES RACIAIS E DE GÊNERO NO ACÚMULO DE CONDIÇÕES CRÔNICAS E NA IDADE DE ALCANCE DA MULTIMORBIDADE ENTRE ADULTOS E IDOSOS BRASILEIROS
Comunicação Oral Curta
1 IOC/Fiocruz
2 ENSP/Fiocruz
3 PROCC/Fiocruz
Apresentação/Introdução
A multimorbidade desafia a prestação de cuidados e estrutura dos serviços de saúde ao se associar com declínio funcional, pior qualidade de vida, maior uso dos serviços de saúde e risco de óbito. Estudos sobre desigualdades raciais na multimorbidade têm indicado a necessidade de identificar grupos que podem estar em maior risco para adoecimento precoce e acúmulo rápido de condições crônicas.
Objetivos
Avaliar o acúmulo de condições crônicas por raça/cor e a idade média em que grupos raciais e interseccionais (raça/cor e gênero) alcançam a multimorbidade em 10 anos de seguimento do ELSA-Brasil.
Metodologia
Foram analisados dados entre a linha de base (2008-2010) e onda 3 (2017-2019) da coorte do ELSA-Brasil referentes a de 14081 participantes, totalizando 38984 avaliações presenciais e 109469 ligações telefônicas no período. Foram avaliadas 16 condições crônicas na linha de base, das quais 9 foram reavaliadas no seguimento. O acúmulo de morbidades foi analisado pela raça/cor autodeclarada e por grupos interseccionais de raça/cor e gênero. Modelos lineares generalizados mistos com efeitos aleatórios foram utilizados para estimar o acúmulo de morbidades no tempo, considerando a estrutura de medidas repetidas e ajustando para fatores sociodemográficos e comportamentos relacionados à saúde.
Resultados
Pardos apresentaram contagens de condições crônicas 3% mais alta que brancos (razão das contagens médias: 1,03; IC 95% 1,001-1,06) e pretos 8% mais alta que brancos (razão das contagens médias: 1,08; IC 95% 1,05-1,11). Em média, pretos cruzam o limiar de multimorbidade aos 55 anos, pardos aos 57,5 e brancos aos 59 anos. Entretanto, as mulheres acumularam condições crônicas mais rapidamente, alcançando a situação de multimorbidade cerca de 10 anos mais jovens que seus pares, as mulheres pretas foram as mais adoecidas (alcançando a multimorbidade aos 45 anos, em média) e os homens brancos aqueles que vivem mais tempo sem multimorbidade, alcançando a segunda condição crônica próximo dos 60 anos.
Conclusões/Considerações
Os achados evidenciam desigualdades marcadas por raça/cor e gênero, estando as mulheres pretas em situação de maior adoecimento, e apontam a necessidade de estratégias intersetoriais que promovam melhores condições existenciais no curso de vida, para evitar e postergar o desenvolvimento de condições crônicas, e melhor acesso aos bens e serviços de promoção da saúde e prevenção de agravos.
DESIGUALDADES REGIONAIS NA MORTALIDADE PREMATURA POR DCNT: UMA ABORDAGEM BASEADA EM CLUSTERIZAÇÃO E INDICADORES SOCIOECONÔMICOS
Comunicação Oral Curta
1 USP
2 UFPB
Apresentação/Introdução
As DCNTs, como cardiovasculares, diabetes, respiratórias crônicas e neoplasias, geram alta morbimortalidade no Brasil. De natureza multifatorial, seu impacto na Paraíba é ampliado por desigualdades nos determinantes sociais, infraestrutura e cobertura da APS. Óbitos prematuros por DCNT atuam como indicador da efetividade do cuidado na APS e afetam sobretudo a população economicamente ativa.
Objetivos
Analisar a distribuição espacial da mortalidade prematura por DCNT nos municípios da Paraíba, identificando perfis regionais e os fatores socioeconômicos, demográficos e de cobertura da Atenção Primária à Saúde associados.
Metodologia
Trata-se de um estudo ecológico, com abordagem quantitativa, nos 223 municípios da Paraíba entre 2014 e 2023. Foram utilizados dados secundários oriundo do SIM/DATASUS, IBGE, e-Gestor AB. A variável principal foi a taxa de mortalidade prematura por DCNT (30-69 anos), analisada em conjunto com indicadores de escolaridade, renda per capita, índice de Gini, IDHM, PIB percapta cobertura da Estratégia Saúde da Família e número de médicos por 10 mil habitantes. Aplicou-se análise de cluster (método de Ward) com padronização das variáveis e validação por método do cotovelo e índice de Silhouette. Foram realizadas análises comparativas (ANOVA, Kruskal-Wallis e Qui-quadrado) e geoespaciais.
Resultados
A análise incluiu os 223 municípios da Paraíba. A taxa de mortalidade prematura por DCNT variou de 0 a 738,46 por 100 mil habitantes, com 66,6% dos municípios acima da média nacional de 2023. A cobertura da ESF é alta, com apenas dois municípios abaixo de 90%. A análise de cluster identificou três perfis: baixo risco (melhores indicadores sociais e estruturais), médio risco (níveis intermediários) e alto risco (alta mortalidade prematura, baixa escolaridade e renda, e alta desigualdade), evidenciando que a ampla cobertura da APS não elimina os efeitos das iniquidades sociais.
Conclusões/Considerações
Os resultados sugerem uma forte associação entre iniquidades sociais persistentes e os padrões de mortalidade prematura, mesmo em contextos de ampla cobertura da APS. A elevada carga de DCNT observadas na Paraíba reflete desigualdades territoriais, fragilidades na promoção da saúde e limites da APS frente à complexidade multifatorial do processo saúde-doença, evidenciada na mortalidade prematura.
COMPARAÇÕES DE PREVALÊNCIA DE DOENÇAS CRÔNICAS, INDICAÇÃO E USO DE MEDICAMENTOS NA POPULAÇÃO BRASILEIRA URBANA E RURAL – PNS 2019
Comunicação Oral Curta
1 UNICAMP
Apresentação/Introdução
Estudos de base populacional que avaliam a saúde da população rural no Brasil são escassos. Entretanto, esta população apresenta menor expectativa de vida e acesso a serviços de saúde; também os principais fatores de risco para doenças crônicas - tabagismo, uso abusivo de álcool, inatividade física e alimentação inadequada - se distribuem de forma diferente nesses indivíduos.
Objetivos
Estimar a prevalência de hipertensão arterial, diabetes e depressão em adultos (idade ≥20 anos) segundo tipo de situação censitária (urbana/rural), e identificar a indicação e o uso de medicamento em uma perspectiva comparativa.
Metodologia
Estudo transversal com dados da PNS 2019. Estimaram-se as prevalências de diagnóstico autorreferido de hipertensão, diabetes e depressão em adultos residentes em setores censitários urbanos (n=66.673) e rurais (n=19.837), bem como indicação e uso de medicamento para tratamento destas condições nas pessoas que referiram diagnóstico. As comparações foram feitas por meio das razões de prevalência (RP) ajustadas por sexo, idade e escolaridade e respectivos intervalos de confiança de 95%.
Resultados
As prevalências de hipertensão foram de 26,9% na população urbana e 26,3% na rural (p>0,05); de diabetes, 9,0% e 7,7% (p<0,05) e, de depressão, de 10,8% e 7,8% (p<0,05) nos residentes em área urbana e rural, respectivamente. Não houve diferença estatisticamente significativa na indicação e no uso de medicamentos para as condições avaliadas (p>0,05). Comparativamente à população urbana, as RP ajustadas mostraram que a prevalência de hipertensão (0,98; IC95%: 0,97-0,99), diabetes (0,96; IC95%: 0,95-0,97) e depressão (0,98; IC95%: 0,97-0,99) foram menores na população rural (p<0,001), e a prescrição e o uso de medicamentos para tratamento diabetes, foi cerca de 4% maior neste grupo (p<0,001).
Conclusões/Considerações
O local de residência tende a influenciar os hábitos de alimentação, sono e atividade física, entre outros, que estão associados às prevalências de doenças crônicas. As semelhanças nas proporções de indicação e uso de medicamentos indicam homogeneidade nas diretrizes e protocolos adotados nas diferentes áreas, sobretudo no SUS, utilizado pela maioria dos brasileiros.
PREVALÊNCIA DE COMPORTAMENTOS DE RISCO SEGUNDO A PRESENÇA DE MULTIMORBIDADE: UMA ANÁLISE DA LINHA DE BASE DO ESTUDO NUTRINET-BRASIL
Comunicação Oral Curta
1 USP
Apresentação/Introdução
A multimorbidade, definida como a coexistência de duas ou mais doenças crônicas no indivíduo, tem se tornado cada vez mais prevalente em todo o mundo, representando um desafio para os sistemas de saúde. Diversos comportamentos como inatividade física, tabagismo e alimentação inadequada são fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas e, consequentemente, para a multimorbidade.
Objetivos
Descrever a prevalência de sete comportamentos de risco segundo a presença de multimorbidade em participantes da linha de base do Estudo NutriNet-Brasil.
Metodologia
Incluíram-se participantes com 3 ou mais questionários de consumo alimentar preenchidos. Excluíram-se gestantes e indivíduos com dados implausíveis. Multimorbidade foi definida como autorrelato de ≥2 doenças crônicas (cardíacas, diabetes tipo 2, colesterol elevado, hipertensão, depressão, câncer, osteoporose, obesidade). Avaliaram-se sete comportamentos de risco: tabagismo, inatividade física [4], sono insuficiente (<7h), tempo de tela ≥4h, consumo abusivo de álcool (≥4 ou 5 doses em uma ocasião no último mês), alto consumo de ultraprocessados e baixo consumo de alimentos integrais vegetais. Os comportamentos de risco foram descritos em proporções de acordo com a presença de multimorbidade.
Resultados
Foram analisados os 22.891 indivíduos que atenderam aos critérios de inclusão e exclusão. A prevalência de multimorbidade foi de 25,0%. Indivíduos com multimorbidade apresentaram maior frequência de inatividade física (68,9% vs. 57,6%), tempo de tela excessivo (83,0% vs. 72,0%), sono insuficiente (21,7% vs. 15,7%), baixo consumo de alimentos integrais (25,5% vs. 22,3%) e elevado consumo de ultraprocessados (21,3% vs. 17,6%), em comparação aos sem multimorbidade. As prevalências de tabagismo e consumo abusivo de álcool foram similares entre os grupos.
Conclusões/Considerações
Os achados evidenciam que a multimorbidade está acompanhada de um padrão de maior exposição a comportamentos de risco, o que pode contribuir para a piora do prognóstico dessas condições. A descrição detalhada dessas prevalências pode subsidiar ações de vigilância e intervenções voltadas à modificação de hábitos em populações prioritárias.
PREVALÊNCIA DE MULTIMORBIDADE SEGUNDO CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS NAS CAPITAIS BRASILEIRAS: RESULTADOS DA PESQUISA NACIONAL DE SAÚDE, 2019
Comunicação Oral Curta
1 UFMT
2 UFMG
Apresentação/Introdução
A multimorbidade refere-se à ocorrência simultânea de duas ou mais doenças em um indivíduo, sendo um importante desafio para a saúde pública. Está associada à piora da qualidade de vida, aumento da mortalidade e maiores custos com serviços de saúde. Sua distribuição desigual pode refletir iniquidades sociais, econômicas e regionais, impactando o planejamento de políticas e a organização dos serviços.
Objetivos
Descrever a prevalência de multimorbidade segundo características sociodemográficas da população residente nas capitais brasileiras.
Metodologia
Estudo transversal com dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019. A amostra considerou 32,913 adultos com idade ≥18 anos residentes nas capitais brasileiras e Distrito Federal. Estimou a prevalência de multimorbidade, pela coexistência de duas ou mais condições crônicas (hipertensão arterial, diabetes mellitus, doença do coração, acidente vascular cerebral, asma, artrite/reumatismo, distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, câncer, insuficiência renal crônica, entre outras doenças crônicas não transmissíveis), segundo sexo, faixa etária, raça/cor, escolaridade, renda domiciliar per capita e região geográfica. A análise de associação foi realizada pelo teste Qui-quadrado de Pearson.
Resultados
A prevalência de multimorbidade foi de 27,5% (IC95%: 26,7–28,4), sendo maior entre mulheres (32,6%) do que entre homens (21,6%) (p<0,001). A prevalência aumentou com a idade, alcançando 55,5% entre pessoas com 60 anos ou mais. Foi maior entre pessoas com menor escolaridade (31,6% com até 8 anos de estudo), com renda domiciliar per capita mais elevada (32,1% com mais de 3 salários mínimos) e entre pessoas brancas (30,1% comparadas às pretas/pardas 25,5%). Regionalmente, destacou-se maior prevalência nas regiões Sul (32,8%) e Sudeste (29,0%).
Conclusões/Considerações
A prevalência de multimorbidade foi maior nas mulheres, idosos, indivíduos com menor escolaridade, maior renda domiciliar per capita, de raça/cor branca e da região Sul. Para raça/cor, renda e região, o resultado pode refletir desigualdades no acesso ao diagnóstico médico. Essas desigualdades reforçam a importância de políticas públicas focadas na equidade do cuidado e na reorganização da atenção primária para enfrentamento das doenças crônicas.
PROBABILIDADE INCONDICIONAL DE MORTE PREMATURA POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS NO BRASIL: TENDÊNCIA TEMPORAL, PROJEÇÃO PARA 2030 E DESIGUALDADES SOCIODEMOGRÁFICAS
Comunicação Oral Curta
1 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Escola de Enfermagem, Belo Horizonte (MG)
2 Fundação Oswaldo Cruz, Centro de estudos estratégicos, Rio de Janeiro (RJ).
3 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública, Belo Horizonte (MG). CIDACS, Fiocruz Bahia, Salvador (BA).
4 Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói (RJ).
5 Universidade de Brasília (UnB), Brasília (DF).
6 Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis, Brasília (DF), Brasil.
7 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Belo Horizonte (MG). CIDACS, Fiocruz Bahia, Salvador (BA).
8 Faculdade de Medicina, Ciências Medicas de Minas Gerais. Belo Horizonte (MG).
9 Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), University of Washington, Estados Unidos da América.
10 CIDACS, Fiocruz Bahia, Salvador (BA).
Apresentação/Introdução
As DCNT representam a principal causa de morbimortalidade no Brasil e no mundo, ocasionando mortes prematuras, incapacidades, perda da qualidade de vida e impactos sociais. Face a esse cenário, a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável estabeleceu a meta 3.4 de redução em um terço da mortalidade prematura por DCNT até 2030, via prevenção, tratamento e promoção da saúde mental e do bem-estar.
Objetivos
Analisar a tendência temporal da probabilidade incondicional de morte prematura por DCNT entre 1990 e 2021 no Brasil e nas 27 Unidades Federadas e verificar se a meta de redução em um terço desse indicador até 2030 será alcançada.
Metodologia
Estudo de série temporal da probabilidade incondicional de morte prematura (30-69 anos) por DCNT (neoplasias, doenças cardiovasculares, respiratórias crônicas e diabetes mellitus). A desigualdade na distribuição do indicador foi analisada calculando-o segundo quintis do Índice Sociodemográfico (SDI). Utilizou-se o modelo de regressão por pontos de inflexão (joinpoint) para analisar a tendência temporal, com cálculo da variação percentual anual média (AAPC) e das variações para cada período identificado (APC), consideradas significativas quando diferentes de 0 para p ≤ 0,05. As projeções até 2030 foram estimadas pelo método de suavização exponencial de Holt.
Resultados
A probabilidade de morte prematura por DCNT diminuiu de 0,233 (1990) para 0,152 (2021) (AAPC = -1,3, p < 0,001), com redução em todos os quintis do SDI. Os homens apresentaram maior probabilidade de morte em todo o período, comparados às mulheres. Ambos os sexos mostraram declínio no período, especialmente no quintil de alto SDI. Considerando os valores previstos ou projetados para o período de 2022 a 2030, a meta de redução de 1/3 na magnitude do indicador provavelmente não será atingida para a população geral, nem por sexo e em nenhum dos quintis de SDI. Entretanto, os piores cenários de alcance das metas estão entre homens e nas UFs de quintis baixo e baixo-médio SDI.
Conclusões/Considerações
Houve declínio da probabilidade de morte prematura por DCNT no período estudado. Persistem, contudo, desigualdades entre sexos e entre as Unidades Federadas, com o pior desempenho para homens e UFs de menor SDI. Melhorias nas condições de vida e no acesso à saúde favoreceram a redução, mas a COVID-19 e outros determinantes da saúde seguem desafiando o enfrentamento das DCNT, seus fatores de risco e o alcance da meta da Agenda 2030.
PROGRESSO EM RELAÇÃO ÀS METAS DO PLANO ESTRATÉGICO DE ENFRENTAMENTO DAS DCNT NO BRASIL: ANÁLISE DE TENDÊNCIAS E PROJEÇÕES ATÉ 2030
Comunicação Oral Curta
1 Departamento Medicina Preventiva, Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, Brasil; Núcleo de Pesquisa em Epidemiologia das Doenças Crônicas (CRÔNICAS), Universidade Federal de São Paulo, Brasil.
2 Departamento de Nutrição, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil.
3 Universidad de Santiago de Chile (USACH), Escuela de Ciências de la Actividad Física, el Deporte y la Salud, Santiago, Chile
4 Senior Research Scholar, Yale University e Coordenador e pesquisador-chefe do Centro de Estudos da Ordem Econômica, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, Brasil.
Apresentação/Introdução
O Plano Estratégico para Enfrentamento das Doenças Crônicas Não-Transmissíveis (DCNT) no Brasil (2021–2030) estabelece metas nacionais para o controle dos seus principais fatores de risco modificáveis, como tabagismo (redução de 40%), consumo de álcool (redução de 10% no consumo abusivo), alimentação inadequada (redução de 30% no consumo de bebidas adoçadas e aumento de 30% no consumo de frutas e hortaliças) e inatividade física (aumento de 30% na atividade física no lazer). No entanto, ainda são escassas as evidências sobre o progresso em direção a essas metas e a probabilidade de que sejam efetivamente alcançadas até 2030.
Objetivos
Estimar as tendências temporais e a probabilidade de cumprimento das metas de controle de fatores de risco modificáveis para DCNT estabelecidas nacionalmente pelo Plano de Ações Estratégicas de Enfrentamento das DCNT (2021–2030).
Metodologia
Os fatores de risco analisados foram tabagismo, consumo abusivo de álcool, consumo regular de refrigerantes, atividade física no lazer e consumo recomendado de frutas e hortaliças. Estimou-se a prevalência dos fatores de risco entre 2019 e 2023 em 128.303 adultos (≥18 anos) por regressão Prais-Winsten, e projeções até 2030 por regressão linear. Conforme diretriz do Plano Estratégico, adotou-se como linha de base os dados da pesquisa Vigitel 2019, e calculou-se o progresso em relação às metas por meio do attainment score (AS), estimando a distância (%) entre a projeção de 2030 e a meta estipulada
Resultados
As projeções indicam que o tabagismo deve cair de 9,8% (2019) para 4,7% em 2030, superando a meta esperada (5,9%) em 30,1%. O consumo de bebidas adoçadas deve reduzir de 15,0% em 2019 para 3,2% em 2030, excedendo a meta esperada para 2030 (10,5%) em 162%. Em contraste, projeta-se aumento no consumo abusivo de álcool, de 18,8% em 2019 para 21,3% em 2030, contrariando em 33% a meta esperada (16,9%) . O consumo recomendado de frutas e hortaliças deve subir de 22,9% em 2019 para 24,5% em 2030, cumprindo apenas 23,3% da meta esperada (29,8%). A prática de atividade física no lazer deve aumentar de 39,0% em 2019 para 45,3% em 2030, cumprindo 53,8% da meta estabelecida (50,7%).
Conclusões/Considerações
Apesar dos avanços na redução do tabagismo e do consumo de bebidas adoçadas, a prática de atividade física no lazer e o consumo recomendado de frutas e hortaliças avançaram em ritmo insuficiente para o alcance das metas estabelecidas até 2030. Ademais, destaca-se um retrocesso no consumo abusivo de álcool, cuja tendência projetada indica aumento, em sentido oposto ao objetivo de redução.
PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIOS PARA PACIENTES COM LEUCEMIA MIELOIDE CRÔNICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM UMA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL
Comunicação Oral Curta
1 UFF
Período de Realização
De 2021 a 2023
Objeto da experiência
A atuação do profissional de educação física na residência multidisciplinar.
Objetivos
Relatar a experiência do profissional de educação física na residência multidisciplinar, na área de oncologia.
Metodologia
A proposta consistiu na participação do profissional de educação física na equipe multidisciplinar com objetivo de prescrever exercícios domiciliares. A experiência evidenciou a importância da atuação interdisciplinar e humanizada na oncologia, considerando as singularidades de cada paciente e suas possibilidades reais de adesão às orientações recebidas.
Resultados
A atuação do profissional de Educação Física contribuiu para a prescrição individualizada de exercícios domiciliares, respeitando as condições clínicas, limitações físicas e rotinas dos pacientes. Fortaleceu o caráter interdisciplinar e humanizado do cuidado oncológico.
O uso de ferramentas multimídias para orientação dos exercícios físicos domiciliares foi uma solução criativa e acessível diante das barreiras tecnológicas e de infraestrutura.
Análise Crítica
A atuação do profissional de Educação Física na oncologia representa uma importante interface entre a promoção da saúde e o cuidado integral no âmbito hospitalar.
Apesar da experiência ter sido exitosa, principalmente considerando que o atendimento foi mantido no período de pandemia, alguns aspectos impactaram a rotina como a falta de espaço no hospital para o atendimento mais adequado dos pacientes, a ausência de preceptor de educação física lotado no hospital que pudesse auxiliar os residentes.
Conclusões e/ou Recomendações
Concluímos que a atuação do profissional de educação física dentro do ambiente hospitalar amplia a concepção de cuidado em saúde, inserindo o movimento corporal como elemento central de promoção de saúde, prevenção de agravos e reabilitação. O trabalho realizado com pacientes com LMC no HUAP é um exemplo claro da potência dessa atuação, demonstrando que mesmo em contextos desafiadores, o exercício físico pode ser instrumento de transformação e cuidado.
TENDÊNCIA TEMPORAL DA MORTALIDADE POR PANCREATITE AGUDA NO BRASIL (2000-2023): UMA ANÁLISE DE JOINPOINT
Comunicação Oral Curta
1 UFTM
Apresentação/Introdução
A pancreatite aguda (PA) é um processo inflamatório pancreático de início súbito, potencialmente grave, associado à disfunção orgânica e elevada morbimortalidade. Analisar a evolução temporal dos óbitos por PA é essencial para identificar padrões em subpopulações, orientar políticas públicas e subsidiar ações de prevenção e cuidado.
Objetivos
Analisar a tendência temporal da mortalidade por pancreatite aguda no Brasil, segundo gênero, raça/cor e faixa etária, no período de 2000 a 2023.
Metodologia
Estudo ecológico com análise de tendência temporal dos óbitos por pancreatite aguda no Brasil, entre 2000 e 2023. Foram analisados dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Os óbitos foram estratificados por gênero (masculino e feminino), faixa etária (30-39, 40-49, 50-59, 60-69 e ≥70 anos) e raça/cor da pele (branca, preta e parda). As variáveis foram combinadas para formar grupos analíticos. A tendência temporal foi estimada utilizando o Joinpoint Regression Program (versão 5.4.0) para identificar mudanças nas taxas ao longo do período.
Resultados
Observou-se redução da mortalidade entre homens brancos (30-39, 40-49 e 50-59 anos) e pretos (30-39 e 40-49), além de aumento entre aqueles com 70 anos ou mais. Verificou-se também aumento dos óbitos entre pretos (60-69 e 70+) e pardos (50-59, 60-69 e 70 + anos). Entre mulheres brancas, houve aumento nas faixas etárias de 30-39 e 70+, e redução significativa em 50-59. Entre mulheres pretas, observou-se diminuição e aumento seguido de redução entre 30-39, com aumento nas faixas de 60-69 (APC= 87,03%, p<0,001) e 70+ (APC= 2,77%, p<0,001). Entre mulheres pardas, os óbitos aumentaram entre 40-49, 60-69 e 70+. As tendências revelam desigualdades por gênero, idade e raça/cor.
Conclusões/Considerações
As desigualdades nas tendências de mortalidade por pancreatite aguda, segundo gênero, idade e raça/cor revelam padrões persistentes de iniquidade em saúde. Isso reforça a necessidade de políticas públicas orientadas à equidade. A análise fornece subsídios para reduzir a carga da doença e salvar vidas por meio de ações eficazes de prevenção e cuidado.
COMPARAÇÃO DO PERFIL E INFORMAÇÕES RECEBIDAS SOBRE A DENSIDADE DA MAMA POR MULHERES QUE REALIZAM MAMOGRAFIA EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS.
Comunicação Oral Curta
1 Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear
Apresentação/Introdução
A alta densidade mamária (DM) é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de mama. Portanto, realizar exames de rastreamento específicos para cada tipo de mama, possibilita maior sobrevida da paciente. Estudos que identifiquem mulheres com alta DM e fatores correlacionados com as informações recebidas pelas mesmas, são fundamentais para modernizar o programa de rastreamento no Brasil.
Objetivos
Identificar diferentes grupos de mulheres com base na densidade mamária (DM) e verificar a existência de fatores que influenciam no recebimento de informação das pacientes a respeito da sua própria DM pelos médicos.
Metodologia
Firmou-se uma cooperação com instituições que realizavam mamografia de rastreamento, uma pública e uma privada. Pacientes dessas instituições responderam a um questionário sobre o recebimento de informações médicas acerca da própria densidade mamária (DM) e fatores que poderiam influenciar essa comunicação. As imagens mamográficas foram coletadas e analisadas pelo software VolparaDensity para determinar a DM. Em seguida, utilizou-se um modelo de regressão logística no pacote estatístico R para identificar fatores associados ao recebimento dessas informações. Os fatores analisados foram: DM, escolaridade, etnia, renda familiar e idade.
Resultados
Foram aplicados 963 questionários: 314 na instituição pública e 649 na privada. A média de idade foi maior na pública (58 ± 11 anos) do que na privada (53 ± 11 anos). Na privada, 70% eram brancas; na pública, 66,8% eram negras. A renda familiar predominou até dois salários mínimos na pública e de quatro a vinte salários na privada. Na pública, o número de respostas caiu com maior escolaridade; na privada, aumentou. A regressão logística indicou que, na privada, DM e escolaridade foram significativas (p < 0,05); na pública, apenas a DM. Mulheres com DM elevada e maior escolaridade tiveram mais chance de receber informações, indicando necessidade de abordagens médicas mais equitativas.
Conclusões/Considerações
Este estudo revela diferentes grupos com características sociais, étnicas e educacionais entre mulheres que realizam mamografia em instituições públicas e privadas. Destaca-se que alguns grupos recebem mais informações sobre sua DM. Esses aspectos devem ser considerados para aprimorar os programas de rastreamento, com notificação específica e exames direcionados, reduzindo a mortalidade por câncer de mama.