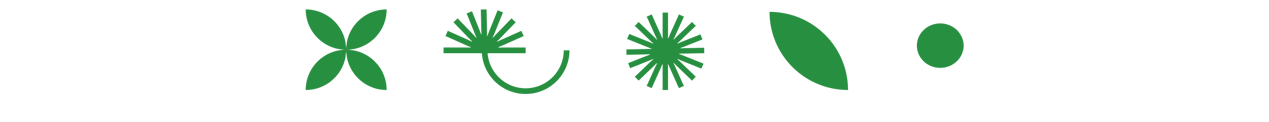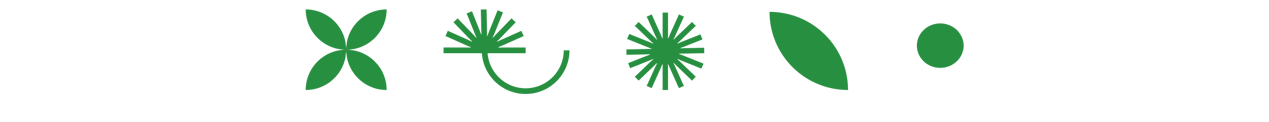Programa - Comunicação Oral Curta - COC34.7 - Sistemas, Dados e BI
02 DE DEZEMBRO | TERÇA-FEIRA
08:30 - 10:00
ANÁLISE SITUACIONAL DA NÃO EFETIVAÇÃO DA DOAÇÃO DE ÓRGÃOS NO BRASIL ENTRE OS ANOS DE 2019 E 2024
Comunicação Oral Curta
1 Unisinos
Apresentação/Introdução
Introdução: Embora o número de transplantes no Brasil tenha aumentado nos últimos anos, a lista de espera por órgãos permanece elevada. Em 2023, 3.014 pessoas, incluindo 79 crianças, faleceram enquanto aguardavam por um transplante. Estima-se que a cada mil mortes, 14,5 seriam potencialmente elegíveis para doação por morte encefálica; entretanto, apenas 2,6 casos evoluem para doação efetiva.
Objetivos
Objetivo: Descrever e analisar os principais motivos da não efetivação da doação de órgãos no Brasil.
Metodologia
Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo de abordagem quantitativa, com dados secundários extraídos do Sistema Informatizado de Gerenciamento - SIG/ SNT (que gerencia processos dos estados, com exceção de São Paulo) e o do Sistema Nacional de Transplantes – SIG/SP (que gerencia os processos apenas do estado de São Paulo). Os dados foram obtidos por meio da Plataforma de Acesso à Informação. Para o presente estudo, foram considerados todos os casos de não efetivação registrados no Brasil entre janeiro de 2019 e novembro de 2024.
Resultados
Resultados: Foram registrados 50.949 casos de não efetivação (média de 75% dos protocolos de morte encefálica abertos). Entre os motivos citam-se: recusa familiar (35,1%); “outros” (33,3%); parada cardíaca (14,3%); diagnóstico de morte encefálica não confirmado (8,5%); e sorologia positiva (2,6%). A positividade para SARS-CoV-2, incluída no sistema a partir de 2020, foi responsável por 3,1% dos casos de não doação. Em 2023, o sistema passou a detalhar causas clínicas antes classificadas como "outros". Desde então, foram registrados 629 casos de não doação por neoplasias; 428 por sepse refratária; 209 por infecção viral ou fúngica grave; 188 por HIV; 33 por HTLV; e 47 por tuberculose.
Conclusões/Considerações
Conclusões: A recusa familiar permanece como principal entrave à efetivação da doação de órgãos no Brasil. A identificação de causas agrupadas como “outros" até 2023, contribuem para maior precisão na identificação de barreiras existentes. Evidencia-se, ainda, a necessidade de sensibilização da população frente a doação de órgãos com vistas à ampliação da efetividade da doação no país.
ASSOCIAÇÃO ENTRE POBREZA ALIMENTAR E ESTADO NUTRICIONAL ANTROPOMETRICO EM CRIANÇAS DE 6 A 23 MESES REGISTRADAS NO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 2015-2019
Comunicação Oral Curta
1 UFRJ
Apresentação/Introdução
A alimentação diversificada é essencial para o crescimento e desenvolvimento infantil. A OMS criou indicadores para avaliar práticas alimentares infantis, entre eles o de diversidade alimentar mínima (DAM), que se caracteriza pelo consumo de ≥5 dos 8 grupos alimentares. Diretrizes da UNICEF recomendam que crianças sem DAM sejam classificadas em pobreza alimentar moderada (PAM) ou grave (PAG).
Objetivos
Estimar a prevalência e associação de pobreza alimentar com o estado nutricional de crianças brasileiras de 6-23 meses registradas no sistema de vigilância alimentar e nutricional (SISVAN) entre os anos de 2015 e 2019.
Metodologia
Análise transversal com microdados de 165.764 crianças. A DAM foi estimada por meio dos Marcadores de Consumo Alimentar e classificada segundo a OMS, considerando o consumo ≥5 grupos alimentares dentre leite materno; cereais; frutas e vegetais ricos em vitamina A; carnes; ovos; leguminosas; outras frutas e vegetais e leite e derivados. Classificou-se a ausência de DAM em PAM (consumo de 3-4 grupos) e PAG (≤2 grupos). Foram calculados e classificados os escores-z dos índices antropométricos de IMC para idade (IMC/I) e comprimento para idade (C/I). As análises incluíram prevalências e intervalos de confiança 95% (IC95%) e modelos de regressão logística multinomial (IMC/I) e Poisson (C/I).
Resultados
As prevalências foram 86,2% de DAM, 9,8% de PAM e 4,0% de PAG. Cerca de 30% das crianças apresentaram excesso de peso e 10,1% apresentaram baixa estatura para idade. Entre as crianças com PAG, observou-se uma maior prevalência de crianças classificadas com magreza (3,2%; IC95%:3,0;3,4) e baixa estatura para idade (13,5%;IC95%:13,1;14,0). Assim, como crianças em PAM apresentaram maior prevalência de baixa estatura para idade (11,5%;IC95%:11,3;11,8) comparadas com crianças em estado nutricional adequado. A frequência de PAG foi 1,5 maior em crianças classificadas em magreza. Crianças em PAG apresentaram maior chance de baixo comprimento para idade (PAM: OR=1,2; p<0,001 e PAG: OR= 1,5; p<0,001).
Conclusões/Considerações
A pobreza alimentar associou-se à maior prevalência de magreza e baixa estatura entre crianças brasileiras de 6 a 23 meses. Esses resultados evidenciam os impactos de uma alimentação insuficientemente diversa nos primeiros anos de vida. Portanto, destaca-se a importância de políticas públicas que garantam acesso equitativo aos diversos grupos alimentares, especialmente entre populações socialmente vulneráveis.
AUTOMATIZAÇÃO DAS ESTATÍSTICAS VITAIS (SIM/SINASC) EM NITERÓI (RJ): USO DO RSTUDIO E BUSINESS INTELLIGENCE (BI) PARA QUALIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE
Comunicação Oral Curta
1 FMS
Período de Realização
Desde 2024, aplicação mensal a partir do recebimento das bases do SIM/SINASC.
Objeto da produção
Protocolo de automatização do monitoramento das estatísticas vitais de Niterói por meio dos dados fornecidos pela vigilância local.
Objetivos
Descrever a implementação de um protocolo de automatização da atualização das bases de dados do SIM e SINASC no município de Niterói (RJ), por meio de scripts desenvolvidos em linguagem R, visando qualificar e agilizar a produção e a análise das estatísticas vitais locais.
Descrição da produção
Protocolo em RStudio estruturado em quatro etapas: (1) atualização das bases de dados; (2) atualização do painel em BI; (3) validação dos dados; (4) geração automática de nota informativa via RMarkdown. Ao receber os arquivos, os scripts unem os dados desde 2010, decodificam variáveis conforme dicionário de dados, georreferenciam por bairro segundo sub-base interna. Uma profissional sanitarista valida os resultados e elabora a nota; um analista de BI organiza a visualização pública.
Resultados
Os scripts automatizam a consolidação, decodificação, cálculo e comparação dos resultados dos indicadores de mortalidade, nascidos vivos e parturientes. Após validação, os dados alimentam o painel BI da secretaria e são divulgados publicamente. O processo inclui a geração de uma nota informativa padronizada, com texto e tabelas atualizados automaticamente. O tempo médio total de execução, da recepção dos dados à publicação da informação, é inferior a 30 minutos.
Análise crítica e impactos da produção
A sistematização fortalece a capacidade institucional de resposta oportuna às demandas de saúde pública, qualificando a gestão da informação e promovendo eficiência técnico-operacional no SUS, com potencial de replicabilidade em outros contextos municipais. Ao longo do processo, interlocução com a vigilância municipal foi trabalhosa, mas de suma importância para alinhar os indicadores de análise, decodificação das causas básicas e padronização de metodologia, visto que são dados sensíveis.
Considerações finais
A automatização otimizou significativamente o tempo de resposta da gestão municipal, permitindo maior agilidade na produção e análise das estatísticas vitais e aprimorando a rotina técnica. A interação entre profissionais da saúde e da tecnologia, aliada ao uso de softwares, resultou em maior eficiência e melhor governança da informação. O produto técnico demonstra aplicabilidade prática e contribui para a gestão qualificada dos dados no SUS.
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRIAGEM PARA AVALIAÇÃO DE RISCOS DOMICILIARES
Comunicação Oral Curta
1 Missão Sal da Terra (MSDT)
Período de Realização
Início em dezembro de 2022, mantendo-se ativo até o momento.
Objeto da experiência
Ferramentas de triagem para avaliação de riscos domiciliares – riscos ambientais e risco de queda.
Objetivos
Implantar o uso de instrumentos adequados de triagem que permitem identificar riscos domiciliares, bem como, propor recomendações e melhorias, como estratégia potente para garantia da segurança no ambiente domiciliar, entendendo-o como uma extensão da unidade de saúde.
Metodologia
Desenvolvimento e implementação de duas ferramentas para avaliar os riscos à segurança no domicílio: o checklist “Domicílio Seguro”, que examina perigos relacionados ao ambiente físico, agentes químicos, biológicos, incêndios, entre outros, sendo aplicado em todas as residências da área de abrangência das unidades de saúde da região Sul de um município do Triângulo Mineiro; e o checklist “Risco de Queda”, direcionado a todos os idosos com estratificação de risco frágil pelo IVCF-20.
Resultados
Seis Equipes de Atenção Primária e 27 Equipes de Saúde da Família implantaram o uso dos instrumentos, tendo os agentes comunitários de saúde protagonistas do processo avaliativo. Mais de 23.000 residências já foram avaliadas, sendo que, 19.330 foram classificadas como risco leve, 3.339 como risco moderado e 620 como risco grave. Em relação ao risco de queda, 6.211 idosos tiveram os riscos avaliados, com 5.285 apresentando risco leve, 759 risco moderado e 167 risco grave.
Análise Crítica
Essas ferramentas permitem identificar de maneira rápida e precisa fatores de risco e elaborar estratégias de intervenção personalizadas, para garantia da integralidade do cuidado e segurança. Como próximos passos, percebe-se a necessidade de maturidade da gestão dos dados, com comparação entre cenário anterior e atual após aplicação dos planos de ação, entendendo quais as mudanças e melhorias foram acatadas e o quanto isso impacta para a segurança do domicílio, pessoa usuária e família.
Conclusões e/ou Recomendações
O uso de ferramentas de triagem para o reconhecimento de riscos domiciliares é crucial para uma avaliação eficaz e sistemática do ambiente doméstico, demandando de uma organização do processo de monitoramento, para facilitar o acompanhamento contínuo e garantir que as ações corretivas sejam implementadas de forma eficiente.
CONSULTA CIDADÃ DE DADOS DE SANEAMENTO E SAÚDE NAS COMUNIDADES DOS COMPLEXOS DO CANAL DO CUNHA DO RIO DE JANEIRO
Comunicação Oral Curta
1 FIOCRUZ/ENSP - Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental
2 Fiocruz/Coordenação de cooperação social
Apresentação/Introdução
O saneamento é um direito essencial à vida. Contudo, no Brasil, as políticas públicas para o setor têm se mostrado insuficientes. Nesse contexto, uma parcela da sociedade, residente em favelas como os Complexos do Canal do Cunha, se vê excluída do sistema regular e recorre a métodos irregulares, ficando exposta a contaminantes que colocam em risco à saúde dessa população.
Objetivos
Analisar os dados da participação de moradores dos complexos de favelas do Canal do Cunha do Rio de Janeiro na pesquisa de vigilância popular em saneamento e saúde.
Metodologia
Estudo exploratório e retrospectivo, baseado em dados secundários de questionário estruturado do Projeto de Vigilância Popular em Saneamento e Saúde da Fiocruz/ENSP, coletado no período de 25/02/2025 a 09/06/2025. Esse estudo ainda está em andamento, e acontecendo nas favelas da Bacia Hidrográfica do Canal do Cunha (RJ), sendo aplicado recorte para os Complexos de Jacarezinho e Manguinhos, com as questões 7 (raça); 10 (renda); 49 (coleta de esgoto); 57 (risco contaminação com água e esgoto); 71 (ocorrência de DRSAI). Foi aplicado avaliação estatística e análise espacial dos dados conforme avanço da pesquisa dentro dos diferentes territórios no estado do Rio de Janeiro.
Resultados
Do total de 28 entrevistas realizadas no período, 67,9% dos entrevistados eram moradores do Complexo do Jacarezinho e 32,1% do Complexo de Manguinhos. Do total obtido, 78,6% dos entrevistados eram da raça negra e 42,9% com renda abaixo do salário-mínimo vigente (R$1518,00). Todos responderam que recebem água pela rede, contudo 67,9% relataram não ter coleta de esgoto. Em relação às Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado (DRSAI), por conta de água contaminada do próprio domicílio, 60,7% dos moradores relataram já ter adquirido e 57,1% declararam que há risco da água de consumo ser contaminada com o esgoto, dado que os encanamentos são providenciados pelos próprios moradores.
Conclusões/Considerações
A pesquisa evidenciou aspectos da realidade dos problemas de saneamento nestes territórios vulnerabilizados socioeconomicamente, com falta de água, esgoto a céu aberto e resíduos nas ruas. A percepção dos moradores sobre os riscos de consumo de água contaminada em suas residências, demonstram a falta da qualidade e quantidade da água nestas favelas. E demonstra o impacto na saúde da população com a ocorrência de DRSAI.
EFICÁCIA JURÍDICA E SOCIAL DA NORMA BRASILEIRA QUANTO À COMUNICAÇÃO DAS EMPRESAS DE SANEAMENTO EM RELAÇÃO À QUALIDADE DE ÁGUA
Comunicação Oral Curta
1 USP
Apresentação/Introdução
Tanto a legislação brasileira quanto a literatura científica reconhecem o direito do usuário em obter informações relativas à qualidade da água, e o dever das empresas de saneamento de assegurá-lo. Além de sua capacidade fática e técnica de produzir efeito jurídico, é preciso conhecer os efeitos da aplicação da legislação na prática da comunicação entre as empresas de saneamento e usuários.
Objetivos
O objetivo deste estudo foi descrever as características jurídicas e analisar a eficácia social da norma brasileira quanto à comunicação das empresas de saneamento em relação à qualidade de água junto aos usuários.
Metodologia
Foi realizada uma pesquisa documental, descrevendo a legislação brasileira vigente quanto à comunicação da qualidade da água entre empresas de saneamento e usuários, seguida de um estudo observacional, utilizando-se as faturas de água das empresas de saneamento de abrangência regional. A coleta dos dados foi realizada de janeiro a maio de 2025, por uma única pesquisadora. Os dados foram organizados numa planilha do software Microsoft Excel®, e em seguida analisados.
Resultados
A legislação brasileira é clara quanto ao direito dos usuários e dever das empresas de saneamento, além dos objetivos, mecanismos e instrumentos para a divulgação de informação ao consumidor sobre a qualidade da água de consumo humano. Dentre as 28 empresas de saneamento selecionadas, 85,7% tiveram suas contas analisadas. Todos os Parâmetros Básicos de Qualidade da Água (PBQA) foram apresentados por 4,2%; 87,5% trouxeram informações sobre cloro, turbidez, cor e coliformes totais; enquanto 66,7% informaram sobre Escherichia coli; fluoreto e pH foram informados por 20,8% das empresas. A norma legal de referência foi apresentada por 37,5%, e 8,3% das empresas trouxeram o significado dos PBQA.
Conclusões/Considerações
Apesar das normas da comunicação quanto à qualidade da água entre empresas de saneamento e usuários estejam presentes na legislação, a eficácia social ficou comprometida. Os usuários receberam informações incompletas quanto à qualidade da água. A prática da comunicação das principais empresas de saneamento no Brasil quanto à qualidade da água não atende às necessidades de informação dos usuários exigidas pela legislação.
EXPERIÊNCIAS, REPRESENTAÇÕES E DESAFIOS DE HOMENS COM HIV DIANTE DA MPOX: UM ESTUDO DE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
Comunicação Oral Curta
1 SESAP/RN
2 UFBA
3 HSL
4 HUOL/UFRN
5 UNIFESP
6 UFRN
Apresentação/Introdução
A emergência da mpox reativou memórias coletivas e representações sociais associadas ao HIV, especialmente entre homens que fazem sexo com homens. Esse cenário reacende estigmas, ressignifica experiências de viver com HIV e tensiona práticas de cuidado, prevenção e enfrentamento de ambas as infecções.
Objetivos
Compreender as representações sociais da mpox entre homens vivendo com HIV e analisar como essas representações se articulam às experiências prévias com o HIV.
Metodologia
Estudo qualitativo, do tipo survey, ancorado na Teoria das Representações Sociais, realizados com 69 homens com HIV e diagnosticados com Mpox nas cinco Regiões do Brasil, durante a emergência de saúde pública. O corpus textual foi composto por 385 páginas, com conteúdo produzido a partir das entrevistas semiestruturadas online. Utilizou-se o software Iramuteq para processamento dos dados. A Classificação Hierárquica Descendente originou cinco classes temáticas, reorganizadas em categorias analíticas. O corpus apresentou alta densidade e homogeneidade, refletindo experiências coletivas e sentidos compartilhados.
Resultados
Foram identificadas quatro categorias: (1) Compreensões sobre o HIV, evidenciando ressignificações da infecção a partir do enfrentamento da mpox; (2) Ativismo, informação e políticas públicas, ressaltando o papel da informação e das redes (digitais e institucionais) na luta contra estigmas; (3) Experiências e desafios com a mpox, revelando impactos emocionais, barreiras no acesso à saúde, apoio social e enfrentamento; (4) Sexualidade e mpox, demonstrando negociações de práticas, afetos, desejo, autocuidado e resistência ao moralismo sexual.
Conclusões/Considerações
As representações sociais da mpox estão ancoradas nas vivências com o HIV, mobilizando saberes, afetos e estratégias de enfrentamento. A sobreposição de estigmas tensiona os cuidados em saúde, mas também fortalece práticas de resiliência, ativismo e redes de apoio. Os achados reafirmam a necessidade de políticas públicas que integrem o cuidado biomédico às dimensões sociais, subjetivas e culturais da saúde.
GUIA VIGIA, POVO! A VIGILÂNCIA POPULAR EM SAÚDE E O PROTAGONISMO POPULAR NAS TRILHAS DO BEM VIVER
Comunicação Oral Curta
1 FIOCRUZ CE
2 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE RS
3 ANEPS
4 ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA DO CUMBE
5 UFC
6 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA -ACS
7 JUSTIÇA NOS TRILHOS MA
Período de Realização
Produção coletiva realizada entre 2021 e 2023 com experiencias do Ceará e outros estados do Brasil
Objeto da produção
Trata da Vigilância Popular em Saúde a partir de experiências territoriais com protagonismo popular na defesa da saúde, do ambiente, do Bem Viver
Objetivos
Descrever o processo de elaboração do Guia Vigia Povo; analisar sua contribuição para o fortalecimento de ações em defesa do Bem Viver nos territórios sob o protagonismo popular; problematizar a inclusão do saber de experiencia feito dos territórios e o diálogo com linguagens da arte na sua construção
Descrição da produção
A Pesquisa envolveu oficinas territoriais com produção de cartografias, identificação dos sinais que ameaçam e protegem a vida e sínteses sob a forma de conversas desenhadas com a participação de um comunicador popular. Os materiais foram organizados e se manteve um processo de encontros virtuais e presenciais com membros das experiencias para definição dos conteúdos e imagens que comporiam o Guia agregando a linguagem do cordel como estratégia de comunicação popular na produção de sínteses
Resultados
Incluiu mais de 100 autores incluindo movimentos populares. A organização da produção teve como referência a educação popular e a ecologia de saberes propiciando o diálogo com o saber popular e inclusão de outras linguagens. Trouxe a descrição das experiências a partir de seus protagonistas, de forma crítica, identificando atributos e princípios, indicadores de denúncia e anúncio frente às situações limite que revelavam iniquidades, colonialidades e os inéditos viáveis na promoção do Bem Viver
Análise crítica e impactos da produção
A construção foi desafiadora no sentido de uma produção reflexiva sobre Vigilância Popular em Saúde, que pudesse dar visibilidade às experiencias, reconhecendo-as como fontes de produção de conhecimento e de organização para o enfrentamento de situações -limite do cotidiano e para romper com a hierarquização dos saberes, com Guias identificados com normas e condutas a serem seguidas e se constituiu espaço de reduzir históricas desigualdades e invisibilizações na produção do conhecimento
Considerações finais
O Guia tem contribuído para a visibilização das experiencias, o reconhecimento da autoralidade dos sujeitos populares e o fortalecimento da luta nos territórios. Tem se constituído ainda, ferramenta de diálogos com gestores e trabalhadores do SUS, com sua inclusão como material pedagógico em processos formativos de educação popular em saúde e na interface com a Política Nacional de Educação Popular em Saúde e a Vigilância em Saúde no SUS
IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NO ACESSO AO TRATAMENTO DO CÂNCER COLORRETAL NO BRASIL: UMA ANÁLISE ESPACIAL E DE SÉRIE TEMPORAL INTERROMPIDA
Comunicação Oral Curta
1 Programa de Pós-graduação em Enfermagem, Universidade Federal de Sergipe (UFS) - Campus São Cristóvão
2 Departamento de Farmácia, Universidade Federal de Sergipe (UFS) - Campus Lagarto
3 Ministério da Saúde
4 Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)
5 Departamento de Enfermagem, Universidade Federal de Sergipe (UFS) - Campus Lagarto
6 Hospital Universitário de Aracaju (HU-UFS)
7 Departamento de Medicina, Universidade Federal de Sergipe (UFS) - Campus Aracaju
8 Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde, Universidade Federal de Sergipe (UFS) - Campus São Cristóvão
Apresentação/Introdução
A pandemia de COVID-19 causou um impacto sem precedentes na assistência oncológica global, afetando o rastreamento, o diagnóstico e o tratamento. No Brasil, as desigualdades territoriais e estruturais podem ter amplificado esses efeitos, especialmente na atenção ao câncer colorretal, segunda principal causa de morte por neoplasias no país.
Objetivos
Avaliar o impacto da pandemia de COVID-19 no acesso ao tratamento do CCR no Brasil, considerando modalidades terapêuticas e o tempo entre o diagnóstico e o primeiro tratamento empregado.
Metodologia
Estudo ecológico de base populacional com dados agregados do Painel Oncologia (DATASUS) e do IBGE, no período de 2018 a 2022. Foram avaliadas as modalidades terapêuticas de cirurgia, quimioterapia, radioterapia e tratamento combinado, estratificadas por tempo até o início do tratamento (até 30, 31–60 e >60 dias). Realizaram-se análises descritivas, cálculo da variação percentual da taxa de acesso ajustada por idade em 2020 em relação à média de 2018–2019 nas 450 Regiões de Saúde, e séries temporais interrompidas. A tabulação e padronização foram feitas no Excel; os mapas no QGIS (v.3.18.3) e a análise no R (v.4.2.2).
Resultados
Foram analisados 118.720 registros de tratamento de CCR entre 2018 e 2022. As maiores reduções no acesso ocorreram nas Regiões de Saúde localizadas no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A análise de séries temporais interrompidas mostrou redução no acesso precoce (até 30 dias) em todos os tratamentos, com exceção do tratamento radioterápico. Em 2020, o acesso à cirurgia e quimioterapia em até 30 dias foi 23% menor que o esperado. Por outro lado, a radioterapia precoce aumentou 30%. As taxas de acesso permaneceram abaixo da tendência pré pandemia até 2022.
Conclusões/Considerações
A pandemia agravou as desigualdades no acesso ao tratamento do CCR no Brasil, com maiores impactos em regiões historicamente vulneráveis. Os resultados ainda destacam a necessidade de fortalecer a territorialização terapêutica no SUS e planejar respostas mais equitativas em futuras crises sanitárias. A análise nacional fornece subsídios para políticas públicas voltadas à recuperação e resiliência do cuidado oncológico.
IMPLANTAÇÃO DE LINKAGE DE BASES DE DADOS PARA A MELHORIA DOS INDICADORES DE TUBERCULOSE NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
Comunicação Oral Curta
1 SMS-RIO
Período de Realização
A experiência foi implantada em 09 de agosto de 2023 e segue vigente atualmente.
Objeto da experiência
Linkage entre bases laboratoriais (GAL) e de notificação (SINAN) para monitoramento de casos de tuberculose no município do Rio de Janeiro.
Objetivos
Melhorar os indicadores de confirmação laboratorial de tuberculose pulmonar e realização de cultura em retratamentos via integração automatizada de dados. Oferecer às unidades ferramenta descentralizada para acesso aos resultados, garantindo autonomia na gestão local.
Descrição da experiência
O projeto surgiu do relato das unidades sobre a divergência entre indicadores e a realidade local. Implementamos o linkage entre GAL e SINAN no R, utilizando o pacote reclin, através do pareamento probabilístico por nome e data de nascimento. Usamos a similaridade de Jaro-Winkler (escala 0-1) que mede similaridade entre textos, tolerando erros - adotamos ≥0.9 para precisão. Os pares foram disponibilizados em painel dinâmico, permitindo às unidades a gestão local de seus casos.
Resultados
A implementação do linkage resultou em um aumento de 33,1% na confirmação laboratorial (de 61,9% em 2021 para 82,4% em 2024) e de 69,7% na realização de culturas para retratamento de 2021 para 2023 (de 42,9% para 72,8%), superando a meta estabelecida de 70%. A implementação do painel para dispor os resultados dos linkages proporcionou autonomia às unidades no acompanhamento de casos e reduziu o tempo gasto com gestão de listas, otimizando o trabalho das equipes.
Aprendizado e análise crítica
A integração de bases mostrou-se efetiva para qualificar os indicadores de diagnóstico, mas demanda investimento contínuo em: educação permanente para preenchimento adequado de dados; ajustes nos fluxos de vigilância laboratorial e monitoramento da qualidade do linkage. A descentralização via painel fortaleceu a corresponsabilização das equipes, porém persistem desafios na atualização oportuna de resultados e na adoção completa da ferramenta por parte dos profissionais.
Conclusões e/ou Recomendações
A experiência demonstrou ser replicável para outros agravos, desde que adaptados os critérios de pareamento. Recomenda-se a expansão para qualificação de outros indicadores HIV; integração do painel com sistemas de prontuário eletrônico; e capacitação contínua das equipes para garantir a sustentabilidade da iniciativa. Os resultados evidenciam que a integração de bases é uma ferramenta poderosa para qualificar a vigilância em saúde.
CÂNCER DE PRÓSTATA EM MULHERES TRANSGÊNERO REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE FRÊQUÊNCIA, VALORES DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO E HORMONIOTERAPIA
Comunicação Oral Curta
1 UFG
Apresentação/Introdução
O câncer de próstata é um agravo relevante à saúde pública global, mas permanece subinvestigado em mulheres transgênero, grupo que mantém a próstata mesmo após a transição de gênero. A hormonioterapia prolongada levanta hipóteses sobre possíveis impactos na incidência e no curso clínico da neoplasia, exigindo maior aprofundamento científico.
Objetivos
Descrever a frequência do câncer de próstata em mulheres transgênero, os valores de PSA no diagnóstico e a influência da hormonioterapia no desenvolvimento e prognóstico da doença.
Metodologia
Foi conduzida uma revisão sistemática nas bases BVS, PubMed, SciELO, Scopus e Web of Science, utilizando estratégia combinada de descritores DeCS/MeSH. Incluíram-se estudos quantitativos com dados sobre prevalência, níveis de PSA e associação com hormonioterapia. Após triagem e leitura dos textos completos, 20 estudos foram selecionados, incluindo relatos de caso, séries de casos e coortes. A análise considerou variáveis como número de casos, níveis médios de PSA e tempo de exposição à hormonioterapia.
Resultados
Foram incluídos 20 estudos (13 relatos de caso/séries de casos e 7 estudos de coorte), majoritariamente provenientes dos EUA e Europa. A incidência de câncer de próstata variou entre 1,95 e 123,4 casos por 100 mil pessoas-ano nas coortes analisadas. Em relatos de caso, os valores de PSA variaram amplamente (0,03 a 1710 ng/mL). Alguns estudos trouxeram os dados do escore de Gleason, no qual em sua maioria relatada foi > 9. A maioria das mulheres trans estava em uso prolongado de hormonioterapia estrogênica, o que dificultou estabelecer conclusões sobre seu papel protetor ou de risco. Alguns estudos incluídos não identificaram casos de câncer, mas forneceram dados basais de PSA.
Conclusões/Considerações
Os achados apontam baixa prevalência do câncer de próstata em mulheres transgênero, mas com valores de PSA e prognósticos heterogêneos no diagnóstico. A influência da hormonioterapia permanece incerta, sugerindo necessidade de mais estudos longitudinais e multicêntricos. A escassez de dados reforça a importância de ampliar a vigilância e o acesso ao cuidado oncológico qualificado para esta população.