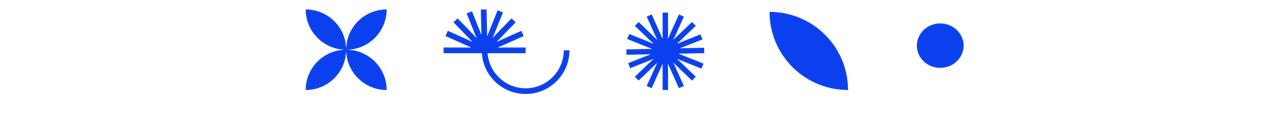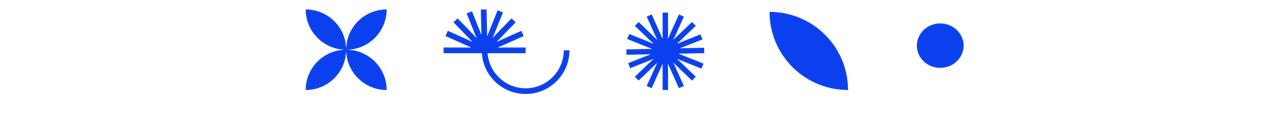Programa - Comunicação Oral Curta - COC16.6 - Novos e velhos desafios da saúde na gravidez, parto e parentalidade
03 DE DEZEMBRO | QUARTA-FEIRA
08:30 - 10:00
ANÁLISE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO APICEON: AVANÇOS E DESAFIOS NA ATENÇÃO OBSTÉTRICA
Comunicação Oral Curta
1 UFMG
Apresentação/Introdução
A saúde das mulheres ocupa lugar estratégico nas políticas públicas, marcada por disputas em torno da autonomia, dos direitos sexuais e reprodutivos e da superação de desigualdades. Nesse cenário, o Projeto de Aprimoramento e Inovação no Cuidado e Ensino em Obstetrícia e Neonatologia (ApiceON) configurou-se como uma intervenção para a qualificação das práticas nos serviços de saúde.
Objetivos
Analisar o desempenho dos Hospitais nos indicadores estratégicos de acompanhamento do ApiceON durante a implementação do projeto.
Metodologia
Estudo descritivo com dados secundários do projeto ApiceON, conduzido pela Universidade Federal de Minas Gerais em 96 hospitais de ensino vinculados ao Sistema Único de Saúde. O projeto envolveu 96 hospitais de ensino, distribuídos por todas as unidades federativas: 13 no Norte, 17 no Nordeste, 13 no Centro-Oeste, 16 no Sudeste 1 (Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro), 20 no Sudeste 2 (São Paulo) e 17 no Sul. Utilizaram-se o painel de indicadores de acompanhamento estratégico, alimentado pelos hospitais para avaliação das ações no decorrer da execução do projeto (2017-2020). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o parecer nº 7.051.498.
Resultados
De 2017 a 2020, ampliou-se a inserção de enfermeiras obstétricas/obstetrizes nos hospitais, passando de 68,8% para 76,0%. A cobertura nacional da inserção de Dispositivo intra uterino no pós-parto cresceu de 40,6% para 76,0%, com o Centro-Oeste atingindo 100% em 2019 e 2020. O Dispositivo intra uterino no pós-abortamento também avançou, de 32,3% para 60,4%. Em sentido oposto, houve queda na realização de Aspiração Manual Intrauterina (de 90,6% para 69,8%), na oferta da interrupção legal da gestação (de 69,8% para 55,2%) e nos serviços de atenção às vítimas de violência sexual (de 72,9% para 64,6%), com recuos mais acentuados no Norte e São Paulo.
Conclusões/Considerações
Apesar das desigualdades, os avanços evidenciam a potência de intervenções ancoradas na análise dos contextos e no fortalecimento das equipes. Os achados apontam para transformações que vão além do cumprimento de metas, expressando novos sentidos no cotidiano dos serviços e reafirmando a importância de políticas que reconheçam os territórios como espaços vivos de disputa, invenção e cuidado.
CARACTERÍSTICAS DAS MULHERES EM VIVÊNCIA DO LUTO COMPLICADO APÓS ÓBITO FETAL
Comunicação Oral Curta
1 Programa de Pós-graduação em Saúde Pública, Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo
2 Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo
3 Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo
Apresentação/Introdução
A mortalidade fetal é um importante problema de saúde pública e atinge cerca de 2 milhões de mulheres no mundo. Diante do óbito fetal, sonhos, esperanças e expectativas são interrompidos, podendo resultar em negação, adoecimento e sofrimento para as mulheres e família. Pesquisas que investigam o luto são escassas e seus resultados podem subsidiar a elaboração de políticas específicas.
Objetivos
Descrever as características das mulheres que vivenciaram o luto complicado após óbito fetal no município de São Paulo.
Metodologia
Estudo descritivo que integra o projeto Mortalidade Fetal: desafios do conhecimento e da intervenção (FetRisks), um caso-controle realizado em 14 hospitais públicos do município de São Paulo, que contemplou uma subamostra de 96 mães, com o objetivo de examinar o contexto das perdas fetais para mães e famílias e o apoio oferecido pelos serviços de saúde às famílias em luto. Os dados foram coletados por meio da aplicação de questionário no hospital e da Perinatal Grief Scale (PGS) no domicílio, entre 12/2021 e 02/2023. O luto complicado foi definido como somatória da PGS >90 pontos. Foram descritas as características do luto, sociodemográficas maternas, história reprodutiva e gestação atual.
Resultados
A aplicação da PGS identificou 54 mulheres (56,3%) em luto complicado. Sentem-se: depressivas (48%), culpadas pela morte do bebê (56,3%) e precisam de aconselhamento profissional para retomar a vida (46,9%). As características maternas são: idade entre 20 e 34 anos (74,1%), ensino médio completo ou mais (68,5%), pardas (68,5%), com companheiro (66,7%), sem ocupação (85,2%), com religião (81,5%). Predominaram as multíparas (66,7%), sem experiência de natimorto ou aborto espontâneo anterior (68,5%). Os óbitos foram anteparto (85,2 %), com <37 semanas (72,2%) e 20% dos fetos tinham malformação congênita. A maioria das gestações não foi planejada (79,6%) e teve acompanhamento pré-natal (96,3%).
Conclusões/Considerações
Mais da metade das mulheres entrevistadas foram classificadas em luto complicado, segundo a PGS. O óbito fetal teve um impacto emocional importante nas suas vidas. Identificar a dor e o sofrimento que este traumático e devastador acontecimento pode acarretar é importante para se fornecer o apoio necessário na elaboração do luto. Esses achados reforçam a importância de políticas públicas que garantam assistência às mães e famílias enlutadas.
DESIGUALDADES NA ATENÇÃO AO TRABALHO DE PARTO E PARTO NO RIO DE JANEIRO: PESQUISA NASCER NO BRASIL II
Comunicação Oral Curta
1 ENSP/Fiocruz
Apresentação/Introdução
O Estado do Rio de Janeiro (ERJ) apresenta a terceira maior população do país e concentra na região metropolitana (RM), 75% da população do estado. O MRJ conta com uma estrutura de serviços públicos de saúde distinta dos demais municípios. Desde 1990, o MRJ desenvolve uma política de humanização da assistência ao parto, com promoção das boas práticas na atenção ao TP/P.
Objetivos
Descrever a atenção ao trabalho de parto (TP) e parto (P) no ERJ segundo localização do hospital e tipo de financiamento do parto e verificar os fatores sociais, geográficos e assistenciais associados a entrar em (TP) e a ter parto vaginal (PV).
Metodologia
Estudo seccional de base hospitalar (“Nascer no Brasil II: Pesquisa nacional sobre aborto, parto e nascimento”) realizado em 29 hospitais localizados no ERJ. Foram elegíveis puérperas com nascido vivo com qualquer peso/idade gestacional e/ou natimortos com idade gestacional ≥ 22 semanas ou peso ≥ 500g, num total de 1.762 mulheres. As entrevistas foram realizadas nos hospitais, no puerpério imediato e foram extraídos dados do cartão de pré-natal e do prontuário materno. Foi realizada regressão logística múltipla para os desfechos TP e PV, sendo utilizado um modelo hierarquizado, com estimativa das razões de chance e respectivos intervalos de confiança.
Resultados
A frequência de TP foi de 54,4% e de PV 41%. Mostraram associação com entrar em TP ser atendida em hospitais do Município do Rio de Janeiro (MRJ), com financiamento público, ser nulípara ou multípara com PV anterior, ter preferência pelo PV no final da gestação, não ser obesa, nem ter apresentado intercorrências na gestação. Ter PV foi associado com menos anos de estudo, ausência de companheiro, ser nulípara ou multípara com PV anterior, ter acesso às boas práticas no TP e parto, e uso de analgesia no TP, independentemente do tipo de financiamento e localização do hospital.
Conclusões/Considerações
Foram verificados avanços na assistência ao parto no ERJ, embora a frequência de TP e de PV ainda seja baixa, bem como a de boas práticas, com melhores resultados para o MRJ. Todas as boas práticas se associaram ao PV, destacadamente o uso de analgesia, e presença de doulas. O parto vaginal foi mais frequente em mulheres socialmente vulneráveis.
ENTRE O QUE SE SENTE E O QUE SE VIVE: A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NÃO RECONHECIDA
Comunicação Oral Curta
1 Universidade Federal do Rio de Janeiro – CM UFRJ-Macaé
Apresentação/Introdução
As vivências de parto no Brasil são múltiplas e a violência obstétrica no parto normal, muitas vezes naturalizada, inclui intervenções desnecessárias, negligência e práticas abusivas disfarçadas de cuidado. Frequentemente, as mulheres não reconhecem essas ações como violência, o que contribui para sua perpetuação.
Objetivos
Sendo assim, o objetivo deste trabalho é analisar a desconexão entre a experiência vivida por mulheres que passaram pelo parto normal no Brasil e o reconhecimento da violência obstétrica.
Metodologia
Este estudo é quantitativo, do tipo descritivo e transversal. Foi utilizado um questionário enviado por e-mail e redes sociais (Whatsapp®, Instagram® e Facebook®). Os critérios de inclusão foram: ser maior de 18 anos e ter passado por pelo menos um parto no Brasil. O questionário foi elaborado levando em consideração informações relevantes sobre as vivências de parto no Brasil, como o ambiente de assistência, a comunicação com os profissionais de saúde, o apoio emocional e as práticas obstétricas. Os dados foram analisados utilizando-se o programa Excel® para tabulação de dados. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 74237523.2.0000.5699).
Resultados
Das 906 mulheres que responderam a pesquisa, a maioria era branca, com pós-graduação completa, casadas, e moradoras dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Cerca de 70% disseram não ter sofrido violência obstétrica. No entanto, cerca de 20% relataram passar por procedimentos não explicados/não autorizados, não sentiram suporte emocional da equipe, não tiveram acesso a métodos naturais de alívio a dor e não souberam quais procedimentos foram feitos com o bebê. Ainda passaram por vários exames de toque (25%), tiveram movimentação e acesso a água e/ou comida limitada/dificultada (7%), manobra de Kristeller (4,4%), toque anal (2,8%) e episiotomia (13,3%).
Conclusões/Considerações
Os dados revelam a discrepância entre a percepção das mulheres e a ocorrência de práticas caracterizadas como violência obstétrica. A naturalização dessas condutas reforça sua invisibilidade e dificulta seu enfrentamento. Sendo assim, é urgente ampliar o debate, promover educação em direitos, qualificar e humanizar a assistência ao parto no Brasil.
REDES DE APOIO NO LUTO: VIVÊNCIAS DE MÃES APÓS ÓBITO FETAL NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Comunicação Oral Curta
1 Programa de Pós-graduação em Saúde Pública, Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo
2 Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo
3 Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo
Apresentação/Introdução
A perda de um bebê tem impacto profundo na saúde física e psicológica das mulheres. Após o óbito fetal, é comum ocorrer depressão, ansiedade e crises de pânico. Um fator importante na duração e intensidade do luto são as redes de apoio compostas por familiares, amigos e membros da comunidade. Esses vínculos sociais exercem grande influência sobre a forma como a mulher percebe e lida com a perda.
Objetivos
Analisar os tipos de apoio social recebido pelas mães em situação de óbito fetal e sua relação com o luto, no município de São Paulo.
Metodologia
Este estudo exploratório de abordagem qualitativa integra o projeto temático Mortalidade Fetal: desafios do conhecimento e da intervenção (FetRisks), um caso-controle realizado em 14 hospitais públicos do município de São Paulo, que contemplou uma subamostra de 96 mães, com o objetivo de examinar o contexto das perdas fetais para mães e famílias e o apoio oferecido pelos serviços de saúde às famílias em luto. Os dados foram coletados por meio de questionário aplicado no hospital e entrevista semiestruturada, realizada no domicílio, entre 12/2021 e 02/2023. As entrevistas foram analisadas no NVivo, com foco na percepção das mulheres sobre o apoio recebido do parceiro, da família e de amigos.
Resultados
As mulheres eram, na maioria, pretas e pardas, entre 20 e 34 anos, com companheiro e gravidez não planejada. A maioria dos óbitos foi anteparto e de prematuros. O apoio emocional recebido foi fundamental para o enfrentamento do luto, porém algumas relataram que foi aquém do esperado. O primeiro grupo a oferecer suporte foi a família, com apoio emocional, material, financeiro e ajuda nas atividades da vida diária. Embora a maioria das mulheres tinha relação positiva com o parceiro, o que ajudou a fortalecer o vínculo após a perda, algumas enfrentaram abandono após a morte do bebê. Amigos e vizinhos ofereceram apoio afetivo importante, especialmente em casos de mães sem companheiro.
Conclusões/Considerações
O estudo mostrou que a rede de apoio tem papel importante na vivência do luto após o óbito, pois embora seja um fenômeno individual, o luto é moldado pelo contexto social. A presença ou ausência de redes de apoio influencia a forma como o luto foi vivido, podendo fortalecer ou fragilizar vínculos. A ausência de reconhecimento social do óbito fetal agrava o sofrimento, tornando o luto mais doloroso em relação às mortes socialmente validadas.
GÊNERO E VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: EDUCAÇÃO EM SAÚDE POR MEIO DE PODCAST PARA MULHERES DO SERTÃO PERNAMBUCANO
Comunicação Oral Curta
1 Faculdade Medicina do Sertão/ São Leopoldo Mandic
Período de Realização
Abril a Junho de 2025
Objeto da experiência
Ações educativas sobre violência obstétrica e gênero voltadas à saúde de mulheres do sertão pernambucano.
Objetivos
Promover o acesso à informação por meio de um podcast educativo;
Ampliar o entendimento sobre parto humanizado, impactos físicos e emocionais da violência obstétrica, abordando a violência obstétrica como uma violação de direitos.
Descrição da experiência
A ação foi realizada pelo projeto de extensão “MARIAS” da Faculdade de Medicina do Sertão, por meio da gravação de um podcast em parceria com uma TV local. O episódio, intitulado “Gênero e violência obstétrica: quando o parto deixa marcas além do corpo”, contou com a participação de estudantes e de uma médica obstetra convidada, abordando manifestações da violência obstétrica, seus impactos e estratégias para um parto humanizado. O material foi divulgado nas redes sociais da TV, da faculdade e do projeto.
Resultados
A veiculação do podcast ampliou o alcance da ação, atingindo um número significativo de mulheres da região por meio de plataformas digitais e redes sociais. Houve repercussão positiva nas comunidades locais, com relatos de identificação, acolhimento e esclarecimento de dúvidas por parte de ouvintes. A estratégia comunicacional favoreceu a promoção da saúde e a defesa dos direitos das mulheres, contribuindo para o empoderamento feminino e a visibilidade da temática no sertão.
Aprendizado e análise crítica
A experiência evidenciou o potencial dos meios midiáticos na educação em saúde, especialmente em contextos com pouco acesso à informação. O formato podcast ampliou a acessibilidade e o vínculo com o público. Destacou-se ainda a importância da escuta sensível e de ações intersetoriais na superação das desigualdades de gênero, reforçando o papel da universidade na extensão crítica e transformadora.
Conclusões e/ou Recomendações
Conclui-se que a educação em saúde via tecnologias de comunicação é uma aliada na promoção de partos respeitosos e dos direitos sexuais e reprodutivos. Defende-se a ampliação de projetos com formatos acessíveis, valorizando saberes locais e escuta das demandas reais para práticas de cuidado mais humanas e equitativas no SUS.
SOLIDÃO DO LUTO MATERNO EM UMA UTI: PERDAS PERINATAIS EM UM HOSPITAL DA MULHER E MATERNIDADE
Comunicação Oral Curta
1 Universidade Federal de Goiás - UFG
2 Centro Universitário Estácio de Sá
3 Centro Universitário Fametro
4 Pontífica Universidade Católica de Goiás
Período de Realização
Ocorreu entre setembro de 2023 a fevereiro de 2025 em um hospital da mulher e maternidade pública de Goiás.
Objeto da experiência
Atuação da psicologia diante da solidão vivida por mães enlutadas internadas na UTI após perda perinatal.
Objetivos
Compreender e acolher a solidão física e emocional do luto perinatal vivido na UTI, oferecendo suporte psicológico que reconheça o sofrimento materno e auxilie na expressão da dor, evitando o silenciamento da perda e promovendo o cuidado humanizado à mulher.
Descrição da experiência
O Serviço de Psicologia acompanhou puérperas enlutadas internadas na UTI adulta após perda neonatal, em situação de isolamento devido às restrições da unidade. As intervenções incluíram construção de espaço para rituais de despedida, expressão do luto, produção de memórias (carimbos, cartas), flexibilização de visitas e acompanhamento ao morgue nos casos que demonstraram desejo de despedida com o filho (quando tinham estabilidade clínica).
Resultados
Foi observado a manifestação de comportamentos que indicam um enfrentamento da perda, redução de sintomas de ansiedade e desorganização emocional. A presença da psicologia também sensibilizou a equipe para posturas mais acolhedoras, mesmo diante da dificuldade institucional em lidar com perdas. As interações revelaram a vulnerabilidade da mulher devido à maternidade interrompida, afastamento da rede de apoio emocional e a dificuldade dos profissionais em abordar a morte.
Aprendizado e análise crítica
O luto perinatal configura-se como uma experiência singular, complexa e, muitas vezes, invisibilizada socialmente. Para Bowlby (1989), o rompimento do vínculo afetivo leva à dor psíquica profunda, sendo potencializado quando a perda ocorre no início da vida. Nesse sentido, quando vivenciado na UTI pode ser atravessado por camadas de solidão, silêncio e desamparo.
Conclusões e/ou Recomendações
É fundamental incluir o cuidado psicológico no protocolo de perdas perinatais, especialmente em UTI. Recomenda-se capacitação da equipe multiprofissional, criação de espaços de escuta e estratégias que valorizem o luto como parte do cuidado integral à saúde da mulher.
VIVÊNCIAS DE PESSOAS TRANSMASCULINAS DURANTE O CICLO GRAVÍDICO-PUERPERAL: UMA ANÁLISE NO CONTEXTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Comunicação Oral Curta
1 UFES
Apresentação/Introdução
A ideia de que gestar, parir e vivenciar o puerpério são experiências ligadas exclusivamente ao feminino e à construção da maternidade é amplamente difundida. No entanto, pessoas transmasculinas que experienciam esses processos rompem com essa lógica e, ao acessar o Sistema Único de Saúde (SUS), enfrentam práticas e linguagens moldadas por uma cultura cisheteronormativa voltada as mulheres cis.
Objetivos
Diante da importância de identificar desafios na assistência e fomentar reflexões para práticas na saúde pública, este estudo analisa, com base na Socioánalise, a vivência de pessoas transmasculinas no SUS ao longo do ciclo gravídico-puerperal.
Metodologia
A coleta de dados foi feita entre agosto e outubro de 2024. Inicialmente, 19 sujeitos foram identificados por reportagens e publicações em redes sociais. Quatro concordaram em participar, e por meio da técnica bola de neve, totalizaram cinco participantes. As entrevistas foram no Google Meet, com duração variando entre 59 minutos à 1 hora e 47 minutos. Foi empregada uma representação em forma de ciclo, com os conceitos: reafirmação de gênero, gestação, parto e puerpério, as quais os participantes falaram duas palavras que refletem suas experiências. O estudo obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisas da Universidade Federal do Espírito Santo, sob o registro CAAE 7815214.4.0000.5060.
Resultados
O estudo envolveu uma pessoa transmasculina, uma não binária transmasculine e três homens trans, entre 22 e 34 anos, autodeclarados brancos. Três usaram apenas o SUS e dois complementam com a rede privada. Três tiveram parto normal e dois cesariana. As entrevistas revelaram a transfobia como analisador da assistência no ciclo gravídico-puerperal no SUS, com imposição do gênero designado ao nascer, desrespeito ao nome social e exclusão. Também houve relatos de violência obstétrica, como exames de toque frequentes, restrição de posição no parto e manejo excessivo das mamas. Esses analisadores estão incorporados às normas e regras das instituições de saúde, dificultando o início do pré-natal.
Conclusões/Considerações
Apesar dos analisadores negativos, espera-se que os serviços de saúde reconheçam suas falhas e promovam melhorias. Essas mudanças, ao favorecer práticas acolhedoras e atendimento seguro, criam ambiente inclusivo, tornando o ciclo gravídico-puerperal mais tranquilo. Também é essencial ampliar o acesso à educação permanente focada na população trans. Para quem ainda realiza atendimentos com preconceito, é fundamental aplicar ações de fiscalização.