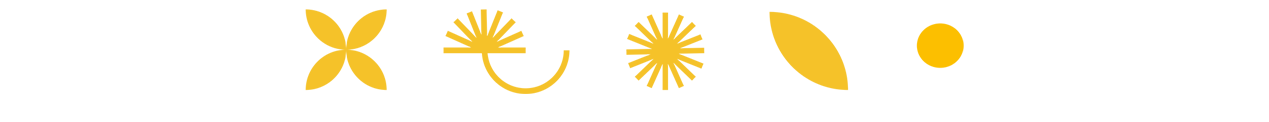
Programa - Comunicação Oral Curta - COC31.2 - Saúde Mental, Espiritualidade e Determinantes Socioculturais
02 DE DEZEMBRO | TERÇA-FEIRA
08:30 - 10:00
08:30 - 10:00
ENTRE O ENCANTADO E O INSTITUCIONAL: ESPIRITUALIDADE E CUIDADO ENTRE OS POTYGUARA DO CEARÁ
Comunicação Oral Curta
1 UECE
2 MINISTÉRIO DA SAÚDE/UECE
3 UNIFOR
4 MOVIMENTO INDÍGENA POTIGUATAPUIA
5
Apresentação/Introdução
A espiritualidade é uma forma de cuidado praticada por muitos povos indígenas. As práticas de cura envolvem relações com entidades encantadas, uso de ervas sagradas, rezas, defumações e saberes ancestrais. No entanto, tais práticas seguem sendo marginalizadas ou ignoradas pelo modelo biomédico hegemônico, que opera segundo uma racionalidade técnico-científica descolada da cosmologia indígena.
Objetivos
Compreender os elementos espirituais e as exigências técnicas dos serviços ofertados pelo SUS no contexto de saúde dos Potyguaras, identificando pontos de tensão, ruptura e também de articulação entre os sistemas médicos indígenas e biomédicos.
Metodologia
Estudo qualitativo de base etnográfica, desenvolvido no contexto do território Potyguara, no Ceará, foram realizadas duas pesquisas entre os anos de 2016 e 2020 com ênfase em práticas tradicionais de saúde e multimorbidades, considerando que é indissociável a concepção de saúde, doença e território. Foram realizadas observações participantes, entrevistas semiestruturadas e rodas de conversa com rezadeiras, lideranças indígenas, agentes indígenas de saúde, usuários e profissionais do SUS atuantes no território. A análise baseou-se na antropologia interpretativa (Geertz), dialogando com contribuições da hermenêutica filosófica (Gadamer) e da antropologia da saúde.
Resultados
A espiritualidade não é apenas uma crença, mas um sistema de cura legítimo, socialmente reconhecido pelos Potyguaras. As rezadeiras ocupam papel central na mediação do cuidado, acionando forças encantadas e promovendo rituais de limpeza, proteção e reconexão espiritual. A busca por cuidado nos serviços de saúde não exclui essas práticas, estas ocorrem de forma paralela, revelando a coexistência de saberes. Contudo, pouco preparo de muitos profissionais do SUS, aliado à ausência de protocolos interculturais, acaba por reforçar barreiras simbólicas, comunicacionais e institucionais. A invisibilidade das dimensões espirituais nos serviços representa um obstáculo à integralidade do cuidado.
Conclusões/Considerações
A articulação entre espiritualidade e cuidado exige o reconhecimento dos saberes indígenas e a valorização dos agentes tradicionais no processo de atenção à saúde, o que se apresenta como um desafio ético, político e epistemológico que se impõe à saúde coletiva brasileira. O fortalecimento de políticas interculturais e a formação sensível de profissionais são essenciais para a construção de uma atenção mais justa, plural e integral.
GUIA PARTICIPATIVO INTERCULTURAL DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL DE JOVENS KAINGANG DO TERRITÓRIO INDÍGENA GUARITA
Comunicação Oral Curta
1 UFRGS
2 Polo Base Guarita
3 UFJF
4 UEMS
5 The University of West Indies
Período de Realização
Abril/2024 a Março/2025
Objeto da experiência
Elaboração participativa de guia intercultural de atenção psicossocial e saúde mental de jovens Kaingang do Território Indígena Guarita.
Objetivos
Elaborar guia intercultural participativo de atenção psicossocial e saúde mental de jovens Kaingang para trabalhadores de saúde indígena culturalmente centrado, com engajamento comunitário, tradução integrada do conhecimento e compartilhamento de sistemas de pensamento (estrutura He Pikinga Waiora).
Descrição da experiência
Grupo de Trabalho Intercultural – GTI formado por docentes universitários, trabalhadoras de saúde do Pólo Base Guarita e professora indígena realizaram 24 encontros em escolas, comunidades, grupos, envolvendo estudantes, professores, famílias, artesãos, lideranças e especialistas da Medicina Kaingang (Kujás) em escolas e comunidades para elaboração de guia e adaptação intercultural do Manual Mental Gap versão 2.0, da Organização Mundial da Saúde.
Resultados
O guia foi organizado em 20 capítulos contendo a perspectiva Kaingang (história, socio cosmologia, rituais e práticas, concepção de Bem Viver e cuidado coletivo) e módulos selecionados do Manual Mental Health Gap, versão 2.0, da Organização Mundial da Saúde, bem como módulo sobre Violências. A organização do roteiro, seleção bibliográfica, e escrita do guia foi realizada de forma participativa pelo GTI.
Aprendizado e análise crítica
Dentre os desafios na elaboração do guia, destacam-se as diferenças de concepções entre a perspectiva indígena, baseada no Bem Viver e em interconexões de dimensões individuais, socioculturais e espirituais e a classificação adotada pelo mh-GAP, baseada na concepção de “transtorno”. Essa questão foi problematizada pelo GTI junto a Especialistas da Medicina Kaingang, optando-se por apresentar as diferentes visões no guia.
Conclusões e/ou Recomendações
O guia apresenta diferentes concepções, destacando-se que, para o estabelecimento de um diálogo intercultural, trabalhadores de saúde precisam adotar uma escuta atenta e sensível, dialogando com a perspectiva Kaingang, valorizando itinerários terapêuticos culturalmente adotados e incluindo a atuação de Especialistas da Medicina Kaingang.
NARRATIVAS DE INDÍGENAS URBANOS TERENAS SOBRE AS REPERCUSSÕES DA PANDEMIA DE COVID-19 NA SAÚDE MENTAL
Comunicação Oral Curta
1 FioCruz
Apresentação/Introdução
A pandemia de COVID-19 impôs desafios às populações vulneráveis, onde se incluem os povos originários que vivem em territórios demarcados e urbanos, como os Terena de Campo Grande-MS. As repercussões do processo de colonização e apagamento desses grupos revela a importância de medidas de atenção psicossocial que levem em consideração suas particularidades étnicas e deem voz às suas necessidades
Objetivos
Compreender narrativas dos Terena residentes em uma aldeia urbana em Campo Grande sobre do impacto da pandemia da COVID-19 e do distanciamento social na saúde mental da comunidade, analisando os efeitos na subjetividade e estratégias de enfrentamento
Metodologia
Trata-se de um estudo qualitativo, alicerçado na perspectiva da Pesquisa Narrativa e orientado pelos pressupostos da Psicologia Social da Saúde Coletiva. O estudo traz em sua centralidade os indígenas da etnia Terena, descendentes da Nação Aruák, e se concentram no território sul-mato-grossense, incluindo aldeias urbanas. A pesquisa foi apresentada à liderança da aldeia que indicou os participantes. Participaram do estudo sete terenas e Foram realizadas entrevistas narrativas no segundo semestre de 2022, centradas nas narrativas dos participantes sobre sua saúde e cotidiano antes e durante a pandemia de COVID-19, as quais foram analisadas por meio da Análise Fenomenológica Interpretativa
Resultados
Os entrevistados reconhecem a pandemia de COVID-19 como mais um dos desdobramentos do processo de colonização dos povos originários. Diante do aumento de casos e de mortes, os Terena passaram a conviver com o medo da doença, da morte e da escassez de meios de sobrevivência. O luto esteve presente nas falas dos entrevistados, seja por parentes vitimados pela COVID-19, pela perda do modo de vida anterior, ou pela perda da sua própria identidade, que teve que se modificar para se adaptar à nova realidade. Os indígenas também relataram dificuldades de acesso aos serviços de saúde, bem como o descaso do Governo Federal na atenção aos povos indígenas
Conclusões/Considerações
Os resultados apontam para a necessidade de ampliar a compreensão sobre as necessidades dos povos originários, refletindo sobre as repercussões no bem-viver da comunidade. Além disso, faz-se necessária a construção de práticas de saúde que deem voz a esse grupo e que considerem as suas especificidades em uma perspectiva interseccional, contribuindo para a garantia do seu direito à saúde, em conformidade com os princípios do Sistema Único de Saúde
INIQUIDADES EM FOCO: ANÁLISE DA MORTALIDADE INDÍGENA POR LESÃO AUTOPROVOCADA NO BRASIL, 2023.
Comunicação Oral Curta
1 UFFS
2 FIOCRUZ
Apresentação/Introdução
O suicídio entre povos indígenas é um grave problema de saúde pública, atravessado por vulnerabilidades sociais, históricas e territoriais. As mortes refletem exclusão, violação de direitos e desassistência estrutural. Compreender o perfil desses óbitos é essencial para orientar ações de prevenção e cuidado em saúde mental com equidade e interculturalidade.
Objetivos
Analisar o perfil epidemiológico dos óbitos indígenas de causa base lesão autoprovocada, no Brasil em 2023, considerando variáveis sociodemográficas e regiões de residência.
Metodologia
Estudo descritivo, retrospectivo, com abordagem quantitativa, baseado nos dados do SIM/DATASUS referentes aos óbitos indígenas nas cinco regiões do Brasil, Norte (N), Centro-Oeste (CO), Nordeste (NE), Sudeste (SE) e Sul (S), em 2023. Foram analisadas variáveis sociodemográficas faixa etária, sexo, estado civil e escolaridade. Utilizou-se qui-quadrado de Pearson e V de Cramer para medir associações entre as regiões brasileiras e as variáveis analisadas, considerando significância estatística de p<0,05. Todas as análises foram realizadas no software R versão 4.5.0.
Resultados
Foram registrados 185 óbitos indígenas por lesão autoprovocada/suicídio em 2023, com predomínio na região N (57%, 16,1 óbitos/100 mil), CO (22%, 23,5 óbitos/100 mil), S (12%, 26 óbitos/100 mil), NE (6%, 2,2 óbitos/100 mil) e SE (3%, 4,6 óbitos/100 mil). A associação entre região e estado civil (p= 0,013) e sexo (p= 0,001) foi significativa e de forte magnitude. Observou-se uma maior proporção de solteiros em todas as regiões, sobretudo S (87%) e N (79%) e CO (73%). Já para a escolaridade, ensino superior incompleto predominou no N (47,6%) e NE (27,3%) e ensino médio no SE (40%), S (34,8%) e CO (21,9%). Tais achados revelam heterogeneidades na mortalidade indígena por suicídio.
Conclusões/Considerações
O suicídio entre indígenas expressa iniquidades históricas e estruturais, moduladas por fatores sociodemográficos e territoriais. As heterogeneidades regionais evidenciam a urgência de políticas públicas interseccionais, territorializadas e culturalmente sensíveis à complexidade dos povos originários e seus modos de vida.
IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS YANOMAMI E DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA YANOMAMI
Comunicação Oral Curta
1 Fiocruz
Período de Realização
24 meses
Objeto da experiência
Fortalecimento das Políticas de Defesa e de Promoção dos Direitos Humanos para os Povos Indígenas do Estado de Roraima.
Objetivos
- Apoiar a articulação permanente com os órgãos públicos do Sistema de Garantia dos Direitos humanos;
- Promover a atuação conjunta para atenção e cuidado das crianças e dos adolescentes do povo Yanomami;
- Promover a formação continuada dos profissionais que atuam juntamente à população Yanomami.
Descrição da experiência
Aplicação de mecanismos para mitigar a crise humanitária que afeta o povo Yanomami, com a implementação do Centro de Referência em Direitos Humanos Yanomami e do Centro de Atendimento Integrado a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, que irão prestar atendimento aos indígenas, bem como atuar em articulação com as redes de proteção e garantia de direitos na formação dos agentes públicos locais que irão trabalhar nos diversos aparelhos públicos no atendimento das demandas de saúde.
Resultados
Centro de Referência em Direitos Humanos Yanomami e Centro de Atendimento Integrado a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Implementados
Rede permanente com os órgãos públicos municipais e estaduais sediados em Boa Vista, e em diálogo com as entidades da sociedade civil indigenistas, em especial as organizações indígenas em Roraima articulada
Sistema de proteção de garantia de direitos informada e articulada com a Casa de Governo sobre a situação das pessoas Yanomami nos territórios.
Aprendizado e análise crítica
Necessidade de estruturar e ampliar uma malha de serviços sociais e de saúde voltados à atenção, cuidados e proteção aos Yanomami, de forma a atender dentro das especificidades culturais e étnicas a mais ampla segurança, acesso aos direitos e serviços. Ampliação da articulação com as redes de proteção e garantia de direitos na formação dos agentes públicos locais que irão trabalhar nos diversos aparelhos públicos no atendimento das demandas psicossociais e de saúde que afetam essa população.
Conclusões e/ou Recomendações
Necessidade de investimentos mais planejados e direcionados por parte do Estado e das Redes de Proteção de Direitos Humanos para melhorar as redes de saúde e de assistência social, a insegurança alimentar e sofrimento mental, especialmente de crianças, mulheres e gestantes que são colocadas em permanente exposição à violência sexual.
MANUAL DE MEDICINA INDÍGENA LICA XUKURU: USO DE PLANTAS MEDICINAIS COMO EXPRESSÃO DE SABER ANCESTRAL, IDENTIDADE CULTURAL E RESISTÊNCIA INDÍGENA
Comunicação Oral Curta
1 UFPE
2 Sesai
3 Conselho Indígena Xukuru do Ororubá
4 Núcleo de Apoio à Saúde Indígena Xukuru do Ororubá
Período de Realização
O manual foi elaborado nos anos de 2022/2023 e lançado no Território Xukuru do Ororubá, em 16/3/24.
Objeto da produção
O manual sistematiza as espécies vegetais utilizadas nas preparações de remédios caseiros, banhos, defumações e rituais no povo Xukuru do Ororubá.
Objetivos
Elaborar cartilha com as principais ervas medicinais utilizadas pelo povo Xukuru do Ororubá, no âmbito da Medicina Indigena, segundo modo de preparo, indicação e posologia, buscando difundir esses conhecimentos e práticas, contribuindo para a valorização de sua cultura e preservação da sua tradição.
Descrição da produção
A elaboração da cartilha foi realizada a partir da escuta de detentores de conhecimentos tradicionais e equipes multidisciplinares de saúde indígena, através de rodas de conversas, nas regiões Agreste, Ribeira e Serra, entre os anos de 2022 e 2023. As rodas foram gravadas, transcritas e analisadas e as informações sobre os cuidados em saúde utilizando as ervas medicinais foram apresentadas desde as orientações de colheita, cuidados nos preparos, formas de uso, quantidades e indicações.
Resultados
O manual consiste num livro com 92 páginas, estruturado nas seções: 1.Como encontrar as plantas que preciso? 2. Após coletar as plantas, realize a limpeza, antes de utilizar; 3.Se eu desejar guardar as plantas, como faço? 4.Remédios com plantas medicinais; medidas caseiras; tipos de preparações; 5.Como os remédios caseiros podem ser utilizados?; 5.Precauções; dicas de remédios caseiros de Lica Xukuru, onde também são descritos os remédios caseiros que emergiram das rodas de conversa.
Análise crítica e impactos da produção
O manual registrou o uso de plantas medicinais e suas aplicações terapêuticas em casos como tosse, gripe, febre, diarreia, dor, inflamação, insônia, depressão e ansiedade. A iniciativa contribui para preservar a medicina tradicional indígena, um saber ancestral transmitido oralmente por gerações, que resiste mesmo diante das pressões da indústria farmacêutica e de suas influências sobre as novas gerações e a atuação do subsistema de saúde indígena.
Considerações finais
Para os Xukuru do Ororubá, as plantas medicinais representam a manutenção de saberes e práticas tradicionais, como elementos materiais e espirituais essenciais na relação com a natureza sagrada e o seu pertencimento com terra e seu território, sendo fundamentais para a afirmação de suas cultura, existência e resistência.. As orientações do povo é trabalhar o manual com os estudantes nas escolas e o inserir na prática dos profissionais de saúde.
SABERES E PRÁTICAS NO CUIDADO DA SAÚDE REPRODUTIVA DAS MULHERES INDÍGENAS DO ALTO SOLIMÕES/AM: RELATO DE EXPERIÊNCIA
Comunicação Oral Curta
1 FIOCRUZ BRASÍLIA
2 UNB
Período de Realização
Janeiro a março de 2024
Objeto da experiência
Relatar as vivências das mulheres Kokama nas práticas tradicionais e uso de métodos modernos na promoção da saúde reprodutiva sob visão da enfermagem.
Objetivos
Identificar o conhecimento e práticas contraceptivas tradicionais utilizadas pelas mulheres da Comunidade São José. Analisar a adesão a métodos contraceptivos oferecidos pelo SUS. Refletir sobre a importância do diálogo intercultural entre saberes tradicionais e práticas biomédicas na saúde indígena
Descrição da experiência
A cada ida e vinda à comunidade, observava gestações precoces e o silêncio sobre a contracepção. A partir de conversas informais, visitas domiciliares e vivências cotidianas com mulheres de diferentes gerações, emergiram saberes, práticas e inquietações que me fizeram refletir sobre o cuidado em saúde. O encontro entre os conhecimentos tradicionais e acadêmicos fortaleceu minha atuação e reafirmou a potência das mulheres indígenas na construção de seus próprios caminhos de cuidado.
Resultados
A experiência revelou uma coexistência entre o uso de métodos contraceptivos tradicionais, como ervas com finalidade contraceptiva, e o conhecimento limitado sobre métodos convencionais ofertados pelo serviço de saúde da comunidade. Houve relatos de dificuldades para participar de oficinas de saúde ofertadas na unidade local por questões de tempo e comunicação, além da percepção de que os serviços não valorizam suficientemente os saberes ancestrais das mulheres indígenas.
Aprendizado e análise crítica
O estudo demonstrou a necessidade de incorporar uma abordagem culturalmente sensível às ações de saúde, que valorize os saberes das parteiras, benzedeiras e anciãs. Além disso, destacou o papel fundamental da enfermagem como elo entre o saber tradicional e o sistema de saúde, ao atuar na escuta qualificada, no acolhimento e na educação em saúde baseada no respeito às especificidades culturais.
Conclusões e/ou Recomendações
Portanto, a promoção da saúde reprodutiva em comunidades indígenas deve considerar os contextos socioculturais e territoriais, ao dialogar com os saberes locais. Recomenda-se o fortalecimento de ações educativas, horários acessíveis e inclusão dos saberes tradicionais nos conteúdos das atividades de saúde. Também é essencial capacitar profissionais para atuação intercultural, com foco na valorização das práticas ancestrais como forma de cuidado.
SANEAMENTO, SAÚDE E BEM VIVER ENTRE OS INDÍGENAS TIKÚNA (AM)
Comunicação Oral Curta
1 IRR/Fiocruz Minas
2 UFMG
Apresentação/Introdução
O PNSR (2019) reconhece que os povos indígenas estão dentre os menos favorecidos da população brasileira no que tange o saneamento, com impactos expressivos nas condições de saúde desta população. Este trabalho investiga saúde e saneamento indígena, em correlação com as práticas e saberes tradicionais, e considerando a concepção de bem viver, para a promoção de saúde e o acesso a direitos.
Objetivos
Caracterizar as noções de saneamento e bem viver em território indígena, partindo de um estudo de caso da TI Tikúna Umariaçú 2 (Tabatinga/AM); e descrever práticas e conhecimentos tradicionais referentes ao saneamento e saúde indígena.
Metodologia
Revisão de literatura acerca do bem viver indígena e as relações com saúde e saneamento, bem como produções sobre o povo Tikúna. Também estão sendo realizadas coletas de dados secundários por meio de documentos e plataformas de acesso público, como a Secretaria de Saúde Indígena - SESAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas - FUNAI e o Censo do IBGE, para informações do território e suas condições de saneamento. E produção de dados primários relativos às noções de bem viver e saneamento entre o povo Tikúna, por meio de entrevistas semiestruturadas com lideranças indígenas e AISANs, assim como observação participante das experiências e demandas territorializadas.
Resultados
Para os Tikúna, o saneamento não é apenas prática sanitária, mas está ligado aos cuidados com o ambiente e a saúde física-espiritual da comunidade. Ressalta-se o necessário aprofundamento na perspectiva do bem viver indígena e sua interação com o saneamento. Situados na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, questões econômicas e políticas impactam na efetivação de direitos no território, incluindo o saneamento. Implicações socioambientais decorrentes do aeroporto próximo, falta de infraestrutura de saneamento, dificuldades no acesso à água potável e prevalência de doenças relacionadas ao saneamento inadequado são apontadas preliminarmente como demandas da população Tikúna.
Conclusões/Considerações
Complementar às ações pela SESAI e definidas pela PNASPI, as iniciativas de diálogo intercultural para o reconhecimento de visões de mundo, conhecimentos e práticas indígenas, e experiências territorializadas, tornam-se essenciais para soluções e promoções no acesso ao saneamento e saúde. O bem viver emerge como uma perspectiva indígena sistêmica e integrada da dinâmica socioambiental, preconizando ações para possíveis reduções de disparidades.
AMBIENTE ALIMENTAR NA MENOR E MAIS POPULOSA RESERVA INDÍGENA DO BRASIL
Comunicação Oral Curta
1 UFGD
2 UFF
3 UNIFAGOC
Apresentação/Introdução
A Reserva Indígena de Dourados, no Mato Grosso do Sul é a reserva com maior densidade populacional por hectare do país e é onde abriga cerca de 18 mil pessoas das etnias Guarani e Terena, que foram retirados de seus territórios e confinados pelo Serviço de Proteção ao Índio em 1917, sem espaço para plantar e sem fontes de água. A proximidade com a cidade é um desafio para a manutenção da saúde.
Objetivos
O objetivo deste estudo foi mapear os estabelecimentos que comercializam alimentos e bebidas em toda Reserva Indígena, avaliando a quantidade, tipo e classificando-os de acordo com a saudabilidade dos grupos alimentares vendidos.
Metodologia
Estudo ecológico que mapeou com o uso de GPS todos os estabelecimentos que comercializam alimentos e bebidas, classificando-os quanto ao tipo e saudabilidade. A saudabilidade foi avaliada por pesquisadores indígenas moradores da Reserva que aplicaram um check list adaptado para cada local, entre fevereiro e maio de 2025, contendo grupos de alimentos in natura/minimamente processados, ultraprocessados e preparações culinárias, classificando-os em predominantemente não saudáveis, predominantemente saudáveis ou mistos, de acordo com a presença majoritária dos gêneros alimentícios. Os tipos de estabelecimentos foram identificados e adaptados de acordo com o material da CAISAN (2018).
Resultados
Foram encontrados 114 estabelecimentos que comercializam alimentos e bebidas na reserva, sendo: 87 (76,3%) classificados como predominantemente não saudáveis; 16 (14,0%) mistos; e 11 (9,7%) predominantemente saudáveis. Os tipos de estabelecimentos mais encontrados foram: outros (placas artesanais nas casas) (45,6%), mercearias (22,8%), bar/conveniência (14,9%), lanchonetes (9,7%), sorveteria e serviços ambulantes (ambos 2,6%) e feira e marmitaria (ambos 0,9%). Os estabelecimentos classificados como outros anunciavam vendas diversas, com predominância de ultraprocessados incluindo sorvetes, gelinho e guloseimas, sendo que alguns, vendiam ¨dorso¨ e ¨puchero¨ (ambos carnes in natura).
Conclusões/Considerações
A presença de estabelecimentos que vendem alimentos predominantemente não saudáveis foi muito grande, independentemente do tipo de estabelecimento, o que acarreta maior risco a doenças crônicas não transmissíveis nas populações indígenas locais, especialmente nas crianças. Ao mesmo tempo, as famílias que historicamente sofrem diversas violações de direitos precisam de renda para sobreviverem e, portanto, oferecem o que apresenta maior procura.
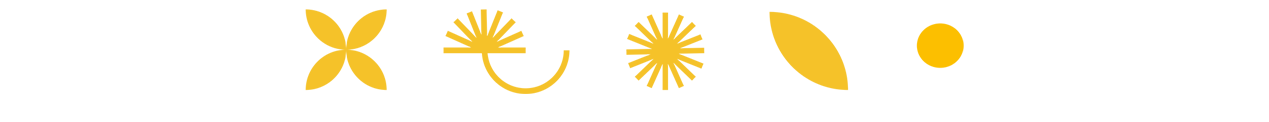
Realização:


Patrocínio:




Apoio:






