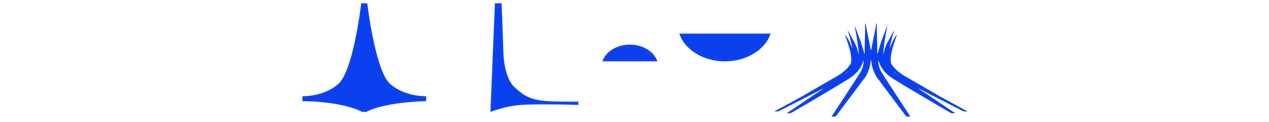
Programa - Pôster Eletrônico - PE30 - Saúde da População Negra, Quilombola e de Terreiros
A SAÚDE QUILOMBOLA SOB A PERSPECTIVA DO ACESSO AO SANEAMENTO: O CASO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CURTUME, VALE DO JEQUITINHONHA/MG
Pôster Eletrônico
1 Instituto René Rachou - Fiocruz Minas
Apresentação/Introdução
Este trabalho é parte dos resultados preliminares do projeto Saúde quilombola: políticas, ambiente e território, de caráter multidisciplinar, realizado em um território quilombola localizado no Vale do Jequitinhonha. Sob o recorte do saneamento, propomos uma análise crítica acerca do acesso deste direito, sobretudo à água, comparando os resultados da pesquisa com os dados do Censo quilombola.
Objetivos
• Analisar as condições de acesso ao saneamento da comunidade de Curtume;
• Construir uma análise crítica entre saneamento e racismo no contexto quilombola;
• Apresentar as especificidades em saneamento em uma comunidade localizada no semiárido.
Metodologia
A pesquisa realizada utiliza dados mistos na coleta de dados, utilizando dados primários e secundários para análise das questões de saúde que busca investigar, considerando informações tanto da comunidade pesquisada, quanto do município em que está localizada. Vale ressaltar que a mesma é de caráter participante, sendo as observações e os saberes dos sujeitos quilombolas, de grande relevância.
Para validar as informações sobre saneamento, realizamos uma análise baseada na triangulação de dados, ao qual utilizamos: a) dados do Censo quilombola; b) entrevistas; c) dados do survey e; d) grupos focais sobre saneamento.
Resultados
Após análise dos documentos produzidos pela pesquisa, em comparação com os dados do Censo quilombola, é possível afirmar que a população quilombola encontra-se em condição de maior vulnerabilidade quando o assunto é saneamento. E tal constatação de faz presente ao compararmos a comunidade pesquisada a outras comunidades rurais do mesmo município.
A falta de água, somado ao acesso insuficiente e de uma água de baixa qualidade, aumenta a exposição da população da comunidade de Curtume a riscos em saúde, quer seja pelo acesso restrito ao banheiro, pelo descarte incorreto do lixo, pela dificuldade em garantir a higiene ou pelo uso de água de qualidade duvidosa, oriunda de poço artesiano.
Conclusões/Considerações
Ao compararmos os instrumentos normativos voltados ao saneamento no Brasil, em contraposição com os dados levantados pela pesquisa, podemos afirmar que a população quilombola encontra-se destituída deste direito. Aspectos que aumentam as condições de vulnerabilidade, acabam por exigir que o racismo seja inserido nessas discussões, enquanto importante eixo de análise, que pode nos ajudar a compreender tais distinções.
EQUIDADE RACIAL NA ODONTOLOGIA: IMPACTOS DAS POLÍTICAS DE INCLUSÃO NA FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DE PROFISSIONAIS NEGROS
Pôster Eletrônico
1 UFES
2 UNEX
Apresentação/Introdução
A odontologia no Brasil reflete profundas desigualdades raciais historicamente construídas, que impactam diretamente a formação, a permanência e a atuação de profissionais negros. Apesar dos avanços proporcionados pelas políticas afirmativas, ainda persistem desafios estruturais que dificultam a inserção, a ascensão profissional e o acesso da população negra aos serviços de saúde bucal de qualidade.
Objetivos
Analisar os impactos das políticas de inclusão na formação acadêmica e na trajetória profissional de dentistas negros, bem como avaliar o papel da gestão pública na promoção da equidade racial no acesso e na qualidade dos serviços de saúde bucal.
Metodologia
Realizou-se uma revisão integrativa da literatura nas bases SciELO, PubMed e Google Scholar, abrangendo publicações entre 2000 e 2024. Foram selecionados artigos científicos, teses, dissertações e documentos oficiais que discutem desigualdades raciais na odontologia, políticas afirmativas na educação superior e práticas de gestão pública em saúde bucal. A análise incluiu estudos sobre cotas raciais, programas de mentoria, formação acadêmica com foco em competências culturais, práticas antirracistas e inclusão profissional. A síntese buscou mapear avanços, desafios persistentes e lacunas que dificultam a efetiva promoção da equidade racial na odontologia brasileira.
Resultados
As políticas afirmativas ampliaram o acesso de estudantes negros aos cursos de odontologia, contribuindo para maior diversidade acadêmica e formação mais plural. Contudo, ainda persistem barreiras estruturais, como o racismo institucional, a escassez de redes de apoio, a discriminação velada e os desafios na permanência e progressão profissional. Programas de mentoria e políticas de inclusão demonstraram impactos positivos na trajetória acadêmica e na inserção profissional desses dentistas. Na gestão pública, iniciativas antirracistas fortaleceram o acesso da população negra aos serviços de saúde bucal, embora problemas ainda comprometam a plena efetividade das ações.
Conclusões/Considerações
A promoção da equidade racial na odontologia exige ações contínuas e estruturantes. Além do acesso ao ensino superior, é essencial garantir a progressão profissional de dentistas negros e fortalecer práticas antirracistas na gestão pública. Investir em mentoria, formação culturalmente sensível e participação social é fundamental para enfrentar as desigualdades históricas no setor.
RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADOS EM MULHERES E PROPORÇÃO DE MAMOGRAFIAS DE RASTREAMENTO NA FAIXA ETÁRIA PRECONIZADA: UMA ANÁLISE POR RAÇA/COR
Pôster Eletrônico
1 UFPE
2 UFRN
Apresentação/Introdução
A mamografia de rastreamento é essencial na detecção precoce do câncer de mama, reduzindo a mortalidade em até 30%, sobretudo entre 50 e 69 anos. Sua realização periódica é crucial para a redução da mortalidade e morbidade associadas ao câncer de mama, sendo uma estratégia eficaz de saúde pública. Este estudo analisa a adequação da oferta e desigualdades raciais e regionais no acesso a mamografia.
Objetivos
Analisar a oferta de mamografias de rastreamento para mulheres brasileiras, de acordo com faixa etária preconizada e a raça/cor da pele no Brasil e regiões brasileiras.
Metodologia
Estudo descritivo onde analisou-se a razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos, calculado pela divisão entre Nº de mamografias realizadas em 2022 por raça/cor da pele, e a metade da população feminina da mesma faixa etária no local e período, e proporção de mamografias de rastreamento na faixa etária preconizada, calculado pela divisão entre o Nº de mamografias de rastreamento em mulheres de 50 a 69 anos, residentes do local e período, pelo Nº total de mamografias de rastreamento, por raça/cor da. Os dados foram coletados do Sistema de Informação do Câncer – SISCAN e os dados de população foram coletados do Censo 2022 (IBGE).
Resultados
Em 2022 a proporção de mamografias na faixa de 50-69 anos foi de 65% no Brasil: Norte (59%), Nordeste (64,2%), Sul (65,2%), Sudeste (66,9%) e Centro-Oeste (61,1%). A proporção de exames foi maior entre as mulheres pretas no Norte, Nordeste e Sudeste, mulheres brancas nas regiões Sul e Centro Oeste. Indígenas apresentaram baixa proporção em todas as regiões, com menos de 50% no Sul, Centro-Oeste e Norte. A Razão de exames (proxy da cobertura), foi de 0,18 para o Brasil, 0,12 no Norte, 0,20 no Nordeste, 0,15 Sudeste, 0,24 Sul e 0,16 no Centro Oeste. Em todas as raças/cores, os valores foram inferiores a 0,2, exceto entre mulheres amarelas, com valores elevados em todas as regiões.
Conclusões/Considerações
O estudo revela desigualdades racial e regional no acesso à mamografia no Brasil. A razão foi inferior a 1 em todos os grupos, indicando baixa cobertura. As disparidades refletem barreiras estruturais e podem levar a diagnósticos tardios, em estágios mais avançados entre grupos racializados, impactando os desfechos clínicos. É urgente implementar políticas que promovam equidade no acesso visando à redução das desigualdades raciais e regionais.
INIQUIDADES RACIAIS NA SAÚDE: PREVALÊNCIA DE DOENÇAS CRÔNICAS NO BRASIL SEGUNDO PESQUISA NACIONAL DE SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 UFPE
2 UFRN
Apresentação/Introdução
A transição demográfica, econômica e ambiental alteraram o perfil de morbimortalidade das populações, passando de um predominância das doenças transmissíveis para maior prevalência das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). A raça/cor da pele é um marcador de disparidades sociais. A população negra tem maior prevalência de comportamentos de riscos à saúde e piores condições gerais de saúde.
Objetivos
Avaliar as iniquidades raciais associadas à prevalência de doenças crônicas não transmissíveis de acordo com a raça/cor da pele no Brasil.
Metodologia
Trata-se de um estudo transversal baseado em informações da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019. A amostra analisada incluiu 94.114 indivíduos com idade igual ou superior a 15 anos, selecionados para participar da pesquisa. Foram examinados 15 desfechos relacionados às doenças crônicas não transmissíveis autorreferidas. A variável principal foi a raça/cor da pele, enquanto as características sociodemográficas foram utilizadas como variáveis de controle. Para estimar a razão de prevalência (RP) e o intervalo de confiança de 95% (IC95%), aplicou-se o modelo de regressão de Poisson com ponderação amostral.
Resultados
A média de idade dos participantes foi de 43,34 anos, maior entre brancos (45,32) e menor entre pardos (41,60). A renda domiciliar per capita foi de R$394,37, sendo a menor entre indígenas (R$250,43). Houve predominância feminina, exceto entre indígenas (53,58% homens. Na análise por raça/cor, indivíduos pretos apresentaram maior prevalência de hipertensão (RP: 1,19; IC95% 1,15–1,22), diabetes (RP: 1,17; IC95% 1,09–1,25) e AVC (RP: 1,24; IC95% 1,08–1,43), mesmo após ajuste por idade, sexo, escolaridade e renda, seguida por dor crônica na coluna (20,70%) e colesterol alto (15,30%). A multimorbidade afetou 28,58% e a menor prevalência foi de insuficiência renal (1,42%).
Conclusões/Considerações
O estudo evidenciou maior prevalência de DCNT entre pessoas pretas e pardas, indicando a urgência de políticas públicas e ações intersetoriais para redução das desigualdades raciais. Observa-se a necessidade de políticas públicas que considerem a raça/cor como determinante social da saúde. Espera-se que os achados contribuam para o fortalecimento de estratégias de promoção da equidade e coloquem as iniquidades raciais no centro do debate em saúde
ENFERMAGEM, ANTIRRACISMO E FEMINISMO: PRÁTICAS TRANSFORMADORAS NO ENSINO E PESQUISA
Pôster Eletrônico
1 Programa de Pós-Graduação em saúde Coletiva da Universidade de Brasília
2 UnB
Apresentação/Introdução
O cuidado no Brasil é feito por mulheres, com a enfermagem sendo majoritariamente composta por mulheres negras, mas profissionalização foi "branqueada", apagando história negra. O sistema educacional reproduz racismo, apesar de leis buscarem inclusão racial (DCNERER, PNSIPN). Esta pesquisa identifica resistências antirracistas e/ou feministas no ensino e pesquisa em enfermagem das IES públicas.
Objetivos
O objetivo geral foi de analisar as experiências de resistência antirracista no perfil das docentes e na produção científica nos cursos de graduação em enfermagem das IES públicas.
Metodologia
Estudo qualitativo analisou currículos e produção científica em enfermagem de 26 IES públicas no Brasil para identificar resistência antirracista e/ou feminista nas graduações de enfermagem. Utilizou análise documental em duas etapas. Analisou 121 ementas de disciplinas, classificando 55 com menção explícita a gênero e/ou raça. Rastreou docentes associados (identificando 60 com indícios de resistência), selecionando 14 para análise detalhada. Foram identificadas 167 produções científicas dessas docentes, analisando 87 disponíveis online. A análise final encontrou 14 (16%) produções relacionadas a gênero e/ou raça.
Resultados
Das 14 docentes selecionadas, 50% são do Nordeste, 28,5% do Sudeste e 21,5% do Centro-Oeste. Quanto ao tempo de docência, 28% atuam há 10-20 anos, 28% entre 20-30 e 43% há mais de 30 anos; todas possuem doutorado. A maioria é formada em Enfermagem (69%), seguida por cursos diversos (6,2% cada). Treze docentes integram grupos de pesquisa sobre raça e/ou gênero, mas apenas sete têm a temática racial como linha principal. Das 87 produções científicas, 25% foram classificadas como tendo presença explícita de raça e/ou gênero, sendo 64% do Nordeste e 36% do Sudeste. Apenas 26% trazem perspectiva étnico-racial.
Conclusões/Considerações
O estudo analisou ementas de cursos de enfermagem em IES públicas, identificando poucas com abordagens explícitas de raça e gênero, refletindo o racismo estrutural. No entanto, destacou docentes com práticas antirracistas e feministas, especialmente no Nordeste e Sudeste. Essas experiências são potenciais transformadoras da formação. Limitações incluem a análise restrita às ementas publicizadas entre 2022 e 2023.
FATORES ASSOCIADOS À SAÚDE MENTAL E QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAS COM DOENÇA FALCIFORME NO ESTADO DA PARAÍBA: UM ESTUDO TRANSVERSAL
Pôster Eletrônico
1 UFRN
Apresentação/Introdução
A doença falciforme (DF) é uma doença crônica grave, com grande variedade de sintomas e complicações clínicas, especialmente a dor. Além disso, os pacientes sofrem de complicações psicológicas e problemas de saúde mental que frequentemente não são reconhecidos nem tratados. Consequentemente, ainda pouco se sabe sobre a relação entre a DF e a saúde mental e a qualidade de vida (QV) dessas pessoas.
Objetivos
O objetivo deste estudo foi realizar um diagnóstico de saúde mental e qualidade de vida da população com doença falciforme na Paraíba, bem como identificar os fatores sociodemográficos, clínicos e de assistência à saúde associados a essas condições.
Metodologia
Foi realizado um estudo transversal com pessoas com DF na Paraíba. Diversos órgãos de saúde foram consultados para identificar as pessoas com essa doença. Dentre os 471 indivíduos residentes em 99 municípios do estado, 263 foram adultos e os que foram localizados, foram convidados a participar. Os dados foram coletados, por meio de entrevistas presenciais, com 119 participantes, em 42 municípios, entre os anos de 2024 e 2025. Foram utilizados três instrumentos: um formulário sociodemográfico e de saúde; o questionário Self Report Questionnaire (SRQ-20) para avaliar sintomas de transtornos mentais comuns (TMC); e o questionário World Health Organization Quality of Life-Bref para avaliar a QV.
Resultados
A prevalência de TMC foi de 57,6%, sendo maior entre as mulheres (67,2%), aqueles que não trabalhavam ou estudavam (68,4%), que possuíam outras doenças crônicas (77,3%) e que tiveram mais eventos de dor no último ano (80%). Já a média global de QV foi 56,9, sendo que os piores escores foram associados a: não ter companheiro(a), não trabalhar ou estudar, baixa renda familiar, presença de sintomas de TMC pelo SRQ-20, possuir outras doenças crônicas, ter sofrido AVC, ter tido maior frequência de dor e ter sofrido racismo durante atendimento. Além disso, a idade, os escores de TMC e a frequência de eventos de dor mostraram uma correlação negativa com a qualidade de vida.
Conclusões/Considerações
A prevalência de TMC na população com DF na Paraíba foi muito alta. Nossos achados reforçam o papel central dos fatores emocionais e clínicos, especialmente TMC e dor crônica, na QV de pessoas com DF, mostrando a necessidade urgente de políticas de saúde eficazes e intervenções clínicas que reconheçam e abordem de forma integrada tanto as manifestações físicas da doença quanto o elevado sofrimento psíquico desta população.
MULHERES QUILOMBOLAS: O ENTRELAÇAMENTO DE VULNERABILIDADES
Pôster Eletrônico
1 ufg
Apresentação/Introdução
O racismo, o sexismo e o classismo, dentre outros marcadores sociais, se entrelaçam nas histórias de mulheres negras gerando vulnerabilidades que têm impacto nas condições de vida. As situações às quais mulheres negras foram e são submetidas têm contribuído para múltiplas desigualdades (Waiselfisz, 2015; Ferreira; Nunes, 2020), produzindo diversas barreiras de acesso aos direitos.
Objetivos
Analisar as barreiras e as possibilidades de acesso à política pública de assistência social vivenciadas por mulheres negras de uma comunidade quilombola do estado de Goiás, Brasil.
Metodologia
Trata-se de uma pesquisa-ação, em desenvolvimento, de abordagem qualitativa com uma aproximação à práxis da interseccionalidade (Collins; Bilge, 2021). As estratégias de produção de dados são: entrevistas coletivas direcionadas por questões norteadoras e restituição de dados; e a observação participante com registro em diário de campo. O método analítico utilizado consiste na análise de conteúdo temática de Bardin (1977), que se organiza em pré-análise, exploração do material e o tratamento dos resultados, inferência e interpretação. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás.
Resultados
Identificou-se mecanismos de poder e controle, que se cruzam, com recortes de raça/cor, de gênero e de classe social desenvolvidos por agentes de organismos governamentais. As mulheres quilombolas participantes da pesquisa relatam práticas institucionais que culpabilizam, segregam, estigmatizam e invisibilizam suas demandas psicossociais. As mulheres quilombolas utilizam estratégias individuais e coletivas para o enfrentamento dessas opressões, como por exemplo, o uso de um tom de imposição e/ou de agressividade; o contato de sua rede pessoal para acessar os serviços; e a disseminação de informações via Associação Quilombola e redes sociais.
Conclusões/Considerações
A análise parcial dos dados tem apresentado um retrato sobre a inclusão e não inclusão de mulheres negras quilombolas nas políticas públicas, bem como a potencial força organizativa do grupo para que seja possível a construção de um plano de ação multisetorial que apresente novas perspectivas para o futuro e valorize a cultura local.
JUSTIÇA REPRODUTIVA PARA PESSOAS NEGRAS E SERVIÇO SOCIAL: UM ESTUDO A PARTIR DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM RESIDÊNCIAS EM SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 UFF
Apresentação/Introdução
A justiça reprodutiva representou um marco na luta dos direitos das mulheres, principalmente para mulheres negras, pois ampliou a concepção dos direitos reprodutivos e sexuais, realizando uma interlocução com a justiça social. Assim, é um conceito essencial para pensar a saúde de mulheres e o combate a formas de violência contra essas, sobretudo a partir da realidade de pessoas negras no Brasil.
Objetivos
Estudar a relação entre a justiça reprodutiva para pessoas negras e o processo de formação profissional a partir da produção teórica do Serviço Social, tendo como referência as Residências em Saúde.
Metodologia
O estudo foi conduzido através de levantamento bibliográfico através dos descritores: Justiça Reprodutiva, Violência Obstétrica, População Negra, Residência em Saúde e Serviço Social, nas revistas Katálysis e Serviço Social e Sociedade, duas das principais produções acadêmicas do Serviço Social, no período entre 2013 e 2023. Logo após foi averiguado se os textos encontrados dialogam com a temática, a fim de identificar o investimento teórico e prático do Serviço Social brasileiro sobre a temática, sendo utilizada análise de conteúdo como metodologia.
Resultados
Devido aos poucos artigos encontrados, utilizamos a interseccionalidade e elencamos palavras transversais ao objeto central, para analisar com melhor qualidade a produção teórica relacionada ao tema. Com isso, houve um ligeiro aumento resultando na porcentagem de 2,04%, de textos que abordavam o debate étnico-racial, demonstrando o pouco acúmulo da profissão sobre justiça reprodutiva para pessoas negras. Tal fato, evidencia a falta de empreendimento sobre a saúde de pessoas negras, que é fomentado pela Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN), que reflete na formação e atuação profissional na área da saúde, em especial nas Residências.
Conclusões/Considerações
Pode-se dizer que existe uma lacuna entre a formação profissional e a população usuária, que segundo o CENSO de 2022, é majoritariamente negra, o que afeta o tratamento que recebem em instituições de saúde e logo seu processo de saúde. Assim, durante a formação é essencial que seja considerada a realidade da população negra, como defende a PNSIPN e o Código de Ética do Serviço Social que sustenta a eliminação de todas as formas de preconceito.
RAÇA E SAÚDE: COMPLEXIDADE DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NA PRODUÇÃO DO CUIDADO NA ATENÇÃO BÁSICA
Pôster Eletrônico
1 Faculdade de Saúde Pública - USP
2 Universidade Federal da Bahia - UFBA
3 Universidade do Estado da Bahia - UNEB
Apresentação/Introdução
O cuidado tem sido debatido no campo da saúde coletiva com críticas às capturas tecnicistas dos processos de trabalho, aos atravessamentos do capitalismo na produção das políticas e seus efeitos na orientação das agendas, mas as relações étnico-raciais precisam de maior visibilidade já que o país é marcado por profundas diferenças que perpetuam violências sistemáticas na saúde de pessoas negras.
Objetivos
Dar visibilidade ao debate das relações étnico-raciais na produção do cuidado no Sistema Único de Saúde com ênfase na Atenção Básica.
Metodologia
Trata-se de um ensaio teórico realizado a partir das atividades do Coletivo Afrocentrar Saúde: Ilera Dudu, da Universidade do Estado da Bahia, que tem reunido esforços para investigar sobre saúde do povo negro por meio de práticas afrocêntricas e contracoloniais, considerando a formação, um dos dispositivos para a produção de outras subjetividades no cuidado. Assim, este resumo apresenta um capítulo de livro que compõe a obra intitulada “A produção do conhecimento contracolonial na formação em saúde: trilhando caminhos coletivos”, que propõe um debate na área de saúde a partir das especificidades e da agência negra por meio do compartilhamento de propostas didáticas.
Resultados
O capítulo intitulado: “Raça e saúde: complexidade das relações étnico-raciais na produção do cuidado na atenção básica” teve o intuito de dar visibilidade ao debate das relações étnico-raciais na produção do cuidado com ênfase na atenção básica visto que as prerrogativas textuais e discursivas desta política coloca este espaço como lócus de maior proximidade com as populações. O capítulo está organizado em três seções: “Racializando as desigualdades de acesso aos serviços de saúde na atenção básica”; “Produção do cuidado, processo de trabalho e as relações étnico-raciais no âmbito da atenção básica” e, por fim, uma proposta didática para operacionalizar o debate na formação.
Conclusões/Considerações
Considerando que o racismo implica diretamente nos modos de produção de saúde, cuidados e adoecimentos das pessoas negras faz-se necessário experiências curriculares que permitam tencionar os atravessamentos dos indicadores em saúde, por exemplo, com as relações étnico-raciais, trabalho e território na produção do cuidado confluindo com análises sócio-históricas para assim produzir cuidado contextualizado pertinente às realidades locais.
MAPEAMENTO DAS COZINHAS SOLIDÁRIAS ANCESTRAIS DE MATRIZ AFRICANA NO BRASIL
Pôster Eletrônico
1 Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)
Apresentação/Introdução
Apesar da alimentação estar consignada como direito social na Constituição brasileira desde 2009, diversas comunidades enfrentam a fome diariamente no país. Por isso, iniciativas da sociedade civil articulam ações solidárias autônomas para organizar doações e estrutura a fim de oferecer refeições a pessoas em territórios vulnerabilizados, na forma de Cozinhas Solidárias (CSol).
Objetivos
Mapear as Cozinhas Solidárias Ancestrais de Matriz Africana no Brasil, organizadas por estado e situação no Programa Cozinha Solidária (PCS).
Metodologia
Trata-se de um estudo transversal descritivo e quantitativo, realizado com uma amostra de conveniência a partir de dados secundários de CSol inscritas no Programa Cozinhas Solidárias até fevereiro de 2025. Para compor a amostra foram selecionadas as CSol com informações completas na base de dados e excluídas as duplicatas. Foi realizada uma análise descritiva simples das CSol Ancestrais de Matriz Africana que foram categorizadas por estado, situação no PCS e se eram provenientes de quilombos ou não.
Resultados
A partir do levantamento das CSol inscritas (n=5324), foi encontrado que cerca de 10% (n=540) são Ancestrais de Matriz Africana, dentre as quais 13% (n=71) são quilombolas. Os estados com maior número dessas cozinhas foram o Rio Grande do Sul (34,8%), seguido do Rio de Janeiro (18,7%). Os estados do Acre, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e Tocantins, não apresentaram Cozinhas Solidárias Ancestrais de Matriz Africana inscritas no programa. Em relação à situação da cozinha no PCS, as cozinhas foram classificadas em: 38% mapeadas, 32,6% retiradas, 12,8% habilitadas, 6,1% não habilitadas, 6% homologadas para habilitação, 4,1% em análise e 0,4% apresentavam pendências.
Conclusões/Considerações
Este mapeamento contribui para dar visibilidade às Cozinhas Solidárias Ancestrais de Matriz Africana existentes no Brasil e inscritas no Programa Cozinha Solidária. Os dados encontrados auxiliam o direcionamento do foco de estudos que pretendem aprofundar o conhecimento a respeito da realidade dessas comunidades em particular, visto que têm sido historicamente invisibilizadas, em consequência do racismo estrutural no país.
DIFERENTES OLHARES E SABERES NUMA CONSTRUÇÃO COLETIVA DE OFICINAS DE DEVOLUTIVA DE PESQUISA
Pôster Eletrônico
1 UFG
Apresentação/Introdução
Trata-se de um relato de experiência vivenciado em oficinas de devolutiva da pesquisa “Determinantes sociais da saúde e qualidade de vida de comunidades remanescentes de quilombos do estado de Goiás: uma pesquisa-ação”, coordenada pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Agroecologia e Saúde (Nepeas) da Universidade Federal de Goiás (UFG).
Objetivos
Relatar a experiência vivenciada em oficinas de devolutivas de pesquisa no território quilombola Kalunga, Goiás, Brasil.
Metodologia
O objetivo das oficinas foi construir um espaço de pensamento coletivo, com base crítica e reflexiva sobre os achados da pesquisa, capaz de promover a participação dos atores sociais e articulado às demandas locais. Realizou-se 13 oficinas com a participação de cerca de 318 pessoas. Os resultados da pesquisa foram apresentados e discutidos na perspectiva de educação popular em saúde, a partir do diálogo entre a diversidade de saberes, valorizando os saberes populares, a ancestralidade, o incentivo à produção individual e coletiva de conhecimentos e a inserção destes no SUS. Também foram elaboradas propostas de soluções para o desenvolvimento de políticas afirmativas de equidade em saúde.
Resultados
Nas oficinas observou-se uma participação significativa dos atores sociais, sendo quilombolas, lideranças e representantes do executivo, legislativo e judiciário. Os participantes construíram uma Carta da Promoção da Saúde das Comunidades Quilombolas Kalunga e proposições envolvendo a soberania e segurança alimentar e nutricional; a segurança hídrica; a garantia do direito à saúde, à educação do/no campo e a mobilidade humana; entre outras. O efeito das oficinas mostrou o potencial da educação popular no processo de valorização dos diferentes saberes, no fortalecimento da participação popular e no reconhecimento da capacidade do coletivo em elaborar planejamento participativo.
Conclusões/Considerações
Conclui-se, portanto, que para superar a desigualdade enfrentada pela população quilombola é necessária a continuidade de pesquisas com abordagem qualitativa, que contemplem os princípios da promoção da saúde e educação popular no processo de valorização dos saberes ancestrais e culturais dessa população, podendo intervir efetivamente nas políticas públicas afirmativas de equidade em saúde e proteção ambiental.
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE INTEGRAL DA POPULAÇÃO NEGRA EM ÂMBITO MUNICIPAL: APRENDIZADOS A PARTIR DA EXPERIÊNCIA DE GUARULHOS
Pôster Eletrônico
1 USP
Apresentação/Introdução
A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra- PNSIPN instituída em 2009, resulta de lutas históricas. Embora não tenha revertido o quadro das desigualdades raciais no SUS, apresenta-se como instrumento fundamental no enfrentamento do racismo. Estudamos sua implementação em Guarulhos-SP, onde 50,03% da população é negra, com base nos documentos adotados pelo município.
Objetivos
Conhecer e descrever a implementação da PNSIPN no município de Guarulhos e identificar o arcabouço normativo relacionado à implementação.
Metodologia
Empregada a pesquisa qualitativa, com utilização de análise documental, sendo considerados documentos: proposições da sociedade civil e representantes do governo nas Conferências Municipais e Regionais, as legislações, composta por Leis, Portarias e Decretos e instrumentos de gestão, como Plano Municipal de Saúde, Programação Anual de Saúde, Documento Norteador da Atenção Básica e Pactuação Interfederativa de Indicadores adotados pela Secretaria Municipal da Saúde. Houve recorte temporal de 2009 a 2024.
Resultados
Foram identificados 17 documentos, classificados em específicos(tratam diretamente a temática racial) e geral (elaborados pela Secretaria Municipal da Saúde que podem ou não contemplar a raça). Nota-se a importância das conferências de igualdade racial na agência da saúde, observa-se o arrefecimento das ações de formação consignadas no Plano Municipal de Saúde conforme avanço do tempo, ao mesmo tempo em que ganha espaço a institucionalização do quesito raça/cor na saúde e na administração municipal.
Conclusões/Considerações
A implementação do cuidado à população negra inicia antes da institucionalização da política, tendo o município adotado referenciais importantes, como a obrigatoriedade da coleta do quesito raça/cor, a constituição de um Grupo de Trabalho em saúde da população negra e a criação da Rede de Atenção aos Direitos Humanos. Destaca-se o engajamento de profissionais, a formação antirracista e ao mesmo tempo a persistência do racismo institucional.
PERFIL DA SAÚDE BUCAL DE CRIANÇAS QUILOMBOLAS DA AMAZÔNIA – UMA ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA EM ABAETETUBA, PARÁ
Pôster Eletrônico
1 UFPA
2 UFPA e UNB
Apresentação/Introdução
Levantamentos epidemiológicos são fundamentais para identificar os principais agravos que acometem a população, sendo essenciais para o planejamento adequado de ações de saúde. O Programa Brasil Sorridente realizou três levantamentos a nível nacional, porém estes não contemplaram territórios quilombolas. Na literatura ainda há poucos estudos envolvendo a saúde bucal de crianças destes grupos.
Objetivos
Descrever a prevalência de cárie e da perda dentária precoce, e sua relação com a utilização de serviços de saúde bucal, em crianças quilombolas residentes nos territórios do município de Abaetetuba, Pará, Amazônia.
Metodologia
Estudo epidemiológico descritivo, transversal, de abordagem quantitativa e qualitativa, realizado nas comunidades do Médio e Baixo Itacuruçá, território de maior população quilombola do Estado do Pará. O projeto foi aprovado pelo CEP-ICS-UFPA.
A amostra foi composta por crianças com 5 anos de idade (1 mês a 11 meses), a coleta foi realizada por cirurgiões-dentistas em trabalho de campo realizado nos domicílios, no período de março a maio de 2025. Utilizou-se o formulário de exame e entrevista validado para a Pesquisa Nacional de Saúde Bucal-SB Brasil 2023. Foram avaliados os agravos cárie dentária (índice ceo-d), relacionando a perda dentária precoce e a utilização de serviços de saúde bucal.
Resultados
Foram examinadas 72 crianças, 64% do sexo feminino, 70,83% autodeclaradas pardas e 25% pretas. Tiveram experiência de cárie 61,11 % e 13,89% perda dentária devido à cárie, a média do índice ceo-d (dentes com cárie não tratada, com restauração ou perdido devido à carie) foi de 2,74. Referiram dor dentária nos 6 meses anteriores 22,22%, com intensidade média de 6,56 na escalda 0 a 10. Considerando toda a amostra, 66,67% nunca foi ao dentista, 30,56% foi alguma vez, e 2,78% desconhece. O serviço mais procurado foi o público (63,64%). Dentre os participantes que nunca foram ao dentista 54,17% necessitavam de algum tipo de tratamento, sendo que 26,92% precisavam de tratamento de urgência.
Conclusões/Considerações
Os resultados evidenciam a grave situação da saúde bucal de crianças quilombolas. Enquanto no SB Brasil 2023, 50% das crianças estavam “livres de cárie”, em 2025 para as crianças quilombolas do Pará este indicador foi de 38,89%. Diante das iniquidades históricas, os dados evidenciam a necessidade de mais estudos sobre a população quilombola e a implementação de políticas públicas que garantam acesso aos serviços de saúde bucal nos territórios.
EQUIDADE NO ACESSO ÀS AÇÕES DO PSE EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO ESTADO DO PIAUÍ
Pôster Eletrônico
1 UFPI
Apresentação/Introdução
O Programa Saúde na Escola (PSE) promove ações intersetoriais voltadas à promoção da saúde e prevenção de agravos no ambiente escolar. No Piauí, onde há ampla presença de comunidades quilombolas, analisar o alcance do PSE é essencial para compreender se há equidade na implementação dessas ações nos territórios tradicionais.
Objetivos
Comparar a cobertura do PSE em municípios do estado do Piauí com presença de comunidades quilombolas, a fim de identificar desigualdades no acesso às ações do programa e subsidiar políticas públicas voltadas à equidade.
Metodologia
Estudo transversal com dados secundários de 41 municípios piauienses com comunidades quilombolas (1ª vigência/2025), obtidos do e-Gestor AB, IBGE e INEP. A variável dependente foi a cobertura do PSE (sim/não). Variáveis independentes: taxa de analfabetismo, acesso a saneamento, Bolsa Família, ruralidade, presença de eSF e escolas públicas. Os dados foram organizados no Excel e analisados no SPSS. Realizou-se análise descritiva, teste qui-quadrado de Pearson e regressão logística binária com OR ajustado e IC 95% para identificar fatores associados à cobertura do PSE.
Resultados
Dos municípios analisados, 61% apresentaram ações do PSE em comunidades quilombolas, enquanto 39% não tiveram cobertura. A presença de escolas públicas nos territórios quilombolas (0% vs. 88%) e de equipes de Saúde da Família (6% vs. 100%) mostrou forte associação com a realização do PSE. Municípios com maior proporção de famílias quilombolas beneficiárias do Bolsa Família (76% vs. 64%) também apresentaram maior cobertura. Esses dados indicam que a efetivação do PSE depende da existência de infraestrutura básica nos territórios, mais do que de diferenças socioeconômicas entre os municípios.
Conclusões/Considerações
No estado do Piauí, a cobertura do PSE em comunidades quilombolas ainda é desigual. A falta de infraestrutura básica, como escolas e eSF nos territórios, compromete o acesso, e investimentos em políticas intersetoriais com foco em equidade racial e territorial são urgentes para garantir justiça social e o direito à saúde das populações quilombolas.
INDICADORES DE SAÚDE MENTAL E DESEMPENHO ESCOLAR EM ADOLESCENTES NEGROS DA ZONA RURAL DO NORDESTE DO BRASIL
Pôster Eletrônico
1 UFPI
Apresentação/Introdução
A adolescência é marcada por intensas transformações biopsicossociais. Para adolescentes negros da zona rural, vulnerabilidades sociais e raciais ampliam os riscos à saúde mental e ao desempenho escolar. Investigar esses fatores é essencial para subsidiar políticas públicas voltadas à equidade e à inclusão de jovens em contextos rurais.
Objetivos
Analisar a associação entre indicadores de saúde mental e desempenho escolar em adolescentes negros residentes na zona rural da região Nordeste do Brasil, com base em dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE).
Metodologia
Estudo descritivo e analítico com dados da PeNSE (2019), incluindo estudantes do 9º ano, de 13 a 17 anos, residentes na zona rural do Nordeste e autodeclarados pretos ou pardos. Indicadores de saúde mental: tristeza frequente, insônia, automutilação e pensamento suicida. Indicadores escolares: reprovação, faltas e pertencimento escolar. Os dados foram organizados no Excel e analisados no SPSS, com estatística descritiva, teste qui-quadrado de Pearson e regressão logística binária, com OR ajustado e IC 95%, avaliando associações entre sofrimento psíquico e desempenho escolar.
Resultados
Os dados apontam alta prevalência de indicadores de sofrimento psíquico em adolescentes negros da zona rural. Cerca de 34% relataram sentir tristeza frequente e 27% apresentaram insônia por preocupação. A automutilação apareceu em 16% e o pensamento suicida em 11% dos casos. Em paralelo, mais de 30% relataram baixo rendimento escolar ou sensação de não pertencimento à escola. As análises bivariadas revelaram associação estatisticamente significativa entre sentimentos de tristeza frequente e maior incidência de reprovação e faltas escolares (p < 0,05). As meninas apresentaram maior prevalência de sofrimento mental, sugerindo necessidade de recorte de gênero nas intervenções.
Conclusões/Considerações
Os resultados indicam que adolescentes negros da zona rural enfrentam vulnerabilidades psicossociais que comprometem sua saúde mental e trajetória escolar. A negligência dessas juventudes em estudos e políticas públicas limita ações eficazes. Urge a criação de estratégias intersetoriais com foco em saúde mental, justiça racial e garantia do direito à educação no campo.
TRAUMAS RACIAIS NO IMPACTO NA SAÚDE MENTAL NO POPULAÇÃO NEGRA
Pôster Eletrônico
1 Instituição privada de saúde (Atendimento Psicológico Ambulatorial)
2 Instituição privada de saúde
Apresentação/Introdução
Introdução: A saúde mental da população negra ganha visibilidade frente à precariedade de políticas públicas específicas e ausência de profissionais capacitados. Salienta-se ainda que é essencial considerar o histórico de exclusão, violência e racismo, cujos traumas intergeracionais ainda afetam a saúde mental e o atendimento no SUS, marcado por estigmas e preconceito
Objetivos
Objetivos: Analisar o impacto histórico na população negra ao baixo acesso do SUS; Investigar a intergeracionalidade dos traumas raciais na saúde mental da população negra;
Metodologia
Metodologia: O presente trabalho trata-se de uma revisão qualitativa exploratória, com análise de artigos científicos publicados nos últimos 8 anos. A seleção foi realizada por meio de buscas nas bases de dados SciELO, LILACS, PePSIC e Google Scholar, utilizando os descritores: “saúde mental da população negra”, “trauma intergeracional”, “racismo estrutural” e “acesso ao SUS”
Resultados
Resultados: As marcas traumáticas são situações que geram uma refletem no sujeito e se faz presente na transmissão transgeracional. Ao abordar situações como o racismo, sexismo e desigualdade, o trauma tende a impactar de maneira social e psicológica. Tratando-se dos aspectos voltados à saúde mental da população negra, prevalece um baixo acesso ao SUS devido ao desconhecimento e experiências traumáticas vivenciadas no contexto de saúde. É notório que a oferta de destes serviços voltadas a população é escassa, e diante desses traumas desenvolvido frente ao contexto inibe que essa população possa ter acesso ao espaço de saúde.
Conclusões/Considerações
Conclusão: A manifestação psíquica frente aos traumas, ocasiona sintomas de negação, despersonalização, isolamento e entre outros.Sendo assim, é fundamental que os serviços de saúde validem e reconheçam essas experiências para um suporte adequado à população negra, dando notoriedade à elaboração de políticas públicas de saúde mental que considerem as especificidades raciais e promovam o cuidado de forma equitativa e antirracista.
IMPACTO DA RAÇA/COR NA MORTALIDADE INFANTIL NO BRASIL: UM ESTUDO ECOLÓGICO
Pôster Eletrônico
1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil
Apresentação/Introdução
A mortalidade infantil no Brasil tem apresentado declínio nas últimas décadas; entretanto, persistem desigualdades significativas entre diferentes grupos populacionais. Crianças negras (pretas e pardas) possuem determinantes sociais em saúde desfavoráveis em comparação com crianças brancas, refletindo em piores indicadores de morbidade.
Objetivos
Objetivo: Este estudo visa analisar a associação entre mortalidades por causas evitáveis e marcadores étnico raciais, das cinco macrorregiões do Brasil.
Metodologia
Este é um estudo ecológico transversal baseado em dados secundários do SIM. Foram coletadas e analisadas as mortes por causas evitáveis em crianças de 0 a 4 anos em 2023. A variável de exposição foi raça/cor (negra ou branca) e os desfechos foram as causas de morte classificadas segundo a CID-10 para cada uma das 5 regiões brasileiras. Inicialmente, foi calculada a prevalência proporcional de cada causa de óbito segundo raça/cor. Em seguida, estimou-se a razão entre as prevalências da população negra e da branca para cada causa. Os dados brutos utilizados na pesquisa estão disponíveis publicamente no repositório da Center for Open Science (OSF) e podem ser acessados pelo link: osf.io/8pqza
Resultados
No Brasil, as mortes evitáveis em crianças menores de 4 anos são mais prevalentes entre a população negra, representando 53% dos 37.317 óbitos infantis ocorridos em 2023. Dentre essas mortes, as maiores disparidades regionais incluem: doença hemolítica perinatal, seis vezes mais frequente em negros no Sul do Brasil, acidentes de transporte, cinco vezes no Centro-Oeste, sífilis congênita quatro vezes no Nordeste, complicações da placenta prévia ou descolamento, quatro vezes no Norte e afecções do cordão umbilical que apresentam prevalência três vezes maior na população negra no Sudeste brasileiro.
Conclusões/Considerações
Os dados reforçam a associação entre o quesito raça-cor e a mortalidade no Brasil. Desigualdades socioeconômicas e acesso desigual à saúde se expressam na mortalidade infantil, com disparidades evidentes entre pessoas negras e brancas. As políticas públicas voltadas à redução de pobreza, maior equidade racial e acesso à saúde são cruciais para mitigar essas desigualdades.
ATIVIDADE RELIGIOSA, ESPIRITUALIDADE E AUTOAVALIAÇÃO POSITIVA DE SAÚDE ENTRE IDOSOS QUILOMBOLAS DO MARANHÃO: DADOS DO IQUEBEQ
Pôster Eletrônico
1 UFMA
Apresentação/Introdução
O estudo visa verificar a influência da religiosidade e da experiência espiritual na autoavaliação positiva de saúde de pessoas idosas quilombolas tendo como base a Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS). O tema é pertinente, ao se considerar que o envelhecimento é uma consequência da transição demográfica que trouxe transformações multidimensionais à sociedade.
Objetivos
verificar a influência da religiosidade e da experiência espiritual na autoavaliação positiva de saúde de pessoas idosas quilombolas.
Metodologia
Trata-se de um estudo transversal, quantitativo, descritivo envolvendo associação entre variáveis. Os dados do estudo advêm da pesquisa Inquérito de Idosos Quilombolas de Bequimão (IQUEBEQ), município maranhense, e envolveu 11 comunidades. Para avaliação da prática religiosa foi utilizado o Índice de Religiosidade da Universidade de Duke (DUREL) e a prática espiritual foi avaliada pela Escala de Experiência Espiritual Diária (EEED). Por fim, a autoavaliação positiva de saúde foi verificada por meio da questão “Em geral, como o(a) sr.(a) avalia a sua saúde?”, presente no questionário sociodemográfico.
Resultados
Dos 223 idosos quilombolas avaliados, 41,3% participaram de atividades religiosas no último ano. Sentimentos espirituais diários foram altamente prevalentes: conexão com a vida (84,8%), força (87,4%), conforto (86,6%) e paz interior (87%). A autoavaliação positiva de saúde foi referida por 30,9%. Essa percepção foi maior entre praticantes religiosos (35,9%) em comparação aos não praticantes (27,5%). Sentimentos espirituais também se associaram a maiores proporções de autoavaliação positiva de saúde, com variações entre 30,8% e 32,1%, frente a 26,5% a 31% entre os que não os relataram. Portanto, percebe-se a relevância da prática religiosa e espiritual na vida desses idosos.
Conclusões/Considerações
Práticas religiosas e espirituais influenciam na autoavaliação positiva de saúde e servem de proteção e promoção da saúde, corroborando com a PNVS que centra práticas universais e orienta modelos de atenção à saúde no território com pessoas e grupos em situação de risco e vulnerabilidade. Elas aliam-se ainda às tradições culturais e crenças, permitindo a compreensão da saúde e do cuidado sob diversos aspectos.
AVANÇOS E DESAFIOS NA EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICOS-RACIAIS NA FORMAÇÃO EM SAÚDE: UMA ANÁLISE CURRICULAR DO CURSO DE NUTRIÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
Pôster Eletrônico
1 UERJ
Apresentação/Introdução
O impedimento da população negra ao acesso à educação é histórico. Em 2003, a UERJ foi uma das primeiras universidades a implantar cotas. No mesmo ano, a Lei 10.639 orienta o ensino da cultura afro-brasileira na educação básica, o que foi ampliado em 2004 para o ensino superior. A despeito disso, os currículos, na sua maioria, omitem a contruibuição de negros na construção do intelecto brasileiro.
Objetivos
O objetivo da pesquisa foi identificar a presença e a abordagem das relações étnicos-raciais, saúde da população negra e alimentação afro-brasileira no currículo de nutrição da UERJ.
Metodologia
A análise documental teve como referencial teórico as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais (DCNERER) e a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN). Foram analisados o conteúdo programático e a ementa das disciplinas ofertadas pelo curso de graduação em nutrição da UERJ, a partir dos seguintes eixos temáticos: racismo, história e cultura africana e afro-brasileira, saúde da população negra, corpo negro e políticas de ações afirmativas. O programa utilizado para realização das análises foi o Excel da Microsoft.
Resultados
A análise da ementa e conteúdo programático do curso foi realizado nas 26 disciplinas ofertadas pelo Instituto de Nutrição (INU), evidenciou que não há referência à saúde da população negra, ademais há ausência de disciplinas obrigatórias/eletivas e atividades curriculares que envolvam conteúdos e práticas relacionados à saúde da população negra e educação das relações étnico-raciais que sejam ofertadas pelo INU. Na avaliação do Projeto Político Pedagógico (PPP) das disciplinas, apenas uma disciplina, mencionou de forma explícita a PNSIPN, enquanto foi identificado outras 19 disciplinas com temáticas que, possivelmente, conversam sobre abordagens étnicos-raciais e a saúde da população negra.
Conclusões/Considerações
A escassez de pautas que abordam as questões raciais no ambiente acadêmico traz sérias implicações para a população negra, já que uma parte considerável destes enfrentam desafios expressivos, como a vivência em condições precárias de saúde, alimentação inadequada e situações de extrema pobreza. Logo, a inclusão dessas pautas nas disciplinas de Nutrição é crucial para abordar as disparidades e promover uma abordagem abrangente e equitativa na área.
FUNDAMENTOS CONCEITUAIS PARA AUXILIAR NA CONSTRUÇÃO DO MARCO CONCEITUAL DO OBSERVATÓRIO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA (OSPN): UMA REVISÃO DE ESCOPO
Pôster Eletrônico
1 Bolsista Fundação Oswaldo Cruz
2 Universidade Federal do Rio de Janeiro
3 Escola Nacional de Saúde Pública
Apresentação/Introdução
Os observatórios de saúde são tecnologias sociais e informacionais que auxiliam na promoção da equidade e da saúde. A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra resulta de reivindicações dos movimentos negros em seu pleito histórico por ações e políticas de enfrentamento e superação das iniquidades em saúde que acometem a população negra brasileira.
Objetivos
Mapear observatórios voltados à saúde e equidade racial a fim de identificar suas características estruturais e funcionais e subsidiar o marco conceitual e estrutural de um Observatório de Saúde da População Negra (OSPN) no Brasil.
Metodologia
Conduziu-se uma revisão de escopo de acordo com a metodologia PRISMA-ScR. Realizou-se buscas nas bases Biblioteca Virtual em Saúde, PubMed, Embase e Google acadêmico entre Outubro e Dezembro/2024. Utilizou-se o acrônimo PICo com os seguintes critérios de inclusão de estudos: Population: observatórios que abordam a saúde; Interest Phenomenon: fragilidades e potencialidades dos observatórios de saúde, relação dos observatórios com o princípio da equidade, estratégias de monitoramento e avaliação utilizadas e o uso dos observatórios em políticas e na tomada de decisões; Context: Políticas Públicas. Incluiu-se artigos em português, inglês e espanhol publicados em revistas científicas.
Resultados
As buscas recuperaram 2.125 registros não duplicados, dos quais 78 artigos foram incluídos na revisão. Poucos observatórios abordam a questão da raça/cor na ótica da determinação social da saúde apesar de muitos focarem na equidade. Eles usam diferentes estratégias de avaliação e monitoramento, dependendo dos objetos de interesse estudados. Os observatórios apresentam diversas potencialidades como seu uso para a participação e controle social, e para políticas informadas por evidências. A maioria é gerida e financiada pelo setor público, influencia tomadores de decisão e políticas públicas. Fragilidades como financiamento e contexto político são ameaças à sustentabilidade dos observatórios.
Conclusões/Considerações
O OSPN será uma importante tecnologia de avaliação e monitoramento de ações e políticas voltadas para a população negra brasileira. Assim, há a necessidade de um OSPN que considere uma abordagem racializada da promoção da saúde da população negra por meio da participação dos movimentos sociais e subsidie a tomada de decisão por parte dos diferentes grupos interessados e com componente de sustentabilidade com certa previsibilidade.
DISPARIDADES RACIAIS NAS CAUSAS DE ÓBITOS ENTRE POPULAÇÕES NEGRAS E BRANCAS NAS REGIÕES DO BRASIL EM 2023
Pôster Eletrônico
1 Grupo para Ciência Aberta em Saúde (GoCA Saúde), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre – RS, Brasil
Apresentação/Introdução
As iniquidades raciais em saúde resultam de desigualdades históricas e estruturais nos determinantes sociais, refletindo-se de forma contundente nos padrões de adoecimento e mortalidade. No contexto brasileiro, o racismo limita o acesso equitativo a recursos e serviços de saúde, contribuindo para disparidades persistentes nos determinantes em saúde entre diferentes grupos raciais.
Objetivos
Comparar a prevalência das diferentes causas de morte entre a população negra e a população branca nas cinco regiões do Brasil, segundo os últimos registros disponibilizados pelo Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM).
Metodologia
Trata-se de um estudo ecológico baseado em dados secundários do SIM, referentes ao ano de 2023. A variável de exposição foi raça/cor (negra ou branca), e os desfechos foram as causas de morte classificadas segundo a CID-10 para cada uma das 5 regiões brasileiras. Inicialmente, foi calculada a prevalência proporcional de cada causa de óbito segundo raça/cor. Em seguida, estimou-se a razão entre as prevalências da população negra e da branca para cada causa. Os dados brutos utilizados na pesquisa estão disponíveis publicamente no repositório da Center for Open Science (OSF) e podem ser acessados pelo link: https://osf.io/x3fjz/.
Resultados
Foram analisados 1.465.608 óbitos: 47% negros, 50% brancos e 3% outros. Os negros tiveram no mínimo o dobro da prevalência proporcional de óbitos em uma média de 29 causas (24%), enquanto os brancos em 10 (8%). Na região Sul, Norte e Nordeste, as intervenções legais e operações de guerra foram de 4 a 5 vezes mais comuns entre negros. No Sudeste, a Toxoplasmose causou 7 vezes mais mortes na população negra. E no Centro-Oeste, a exposição ao fogo resultou em 4 vezes mais óbitos entre negros. Para a população branca, as neoplasias foram de 2 a 4 vezes mais comuns, seguida por Alzheimer 3 vezes mais comum no Nordeste e o traumatismo de parto, 7 vezes mais prevalente no Centro-Oeste.
Conclusões/Considerações
Os resultados mostraram desigualdade racial na mortalidade, com maior prevalência proporcional de óbitos evitáveis e por fatores sociais entre a população negra, como mortes violentas. Já a branca teve mais mortes por doenças crônicas, como câncer e Alzheimer. Essas diferenças destacam a necessidade de políticas públicas voltadas à equidade racial na saúde e segurança.
DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE INTEGRAL DA POPULAÇÃO NEGRA: RACISMO INSTITUCIONAL E ACESSO À SAÚDE EM UM INSTITUTO NO RIO DE JANEIRO
Pôster Eletrônico
1 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)
Apresentação/Introdução
Este estudo em andamento analisa a implementação da PNSIPN em um instituto público de referência no tratamento da doença falciforme. Observa-se a fragilidade dessa política no cotidiano do SUS, marcada pela escassa formação dos profissionais, pouca informação aos usuários e naturalização do racismo institucional como barreira ao acesso da população negra à saúde.
Objetivos
Analisar como profissionais de saúde, em centro de referência para doença falciforme no RJ, percebem o racismo institucional e a aplicação da PNSIPN, contribuindo para o debate e fortalecimento dessa política no SUS.
Metodologia
A investigação adota uma abordagem qualitativa através da qual a pesquisa parte de inquietações vividas no campo prático, transformadas em objeto de reflexão e análise. Contempla levantamento bibliográfico e análise documental sobre a PNSIPN, além da observação de práticas profissionais em contexto institucional. O estudo encontra-se em fase exploratória, com foco na percepção dos profissionais acerca do racismo institucional, da aplicação (ou ausência) da política e das implicações dessas dimensões na atenção à saúde da população negra. Considera-se a coleta do quesito raça/cor e o uso de dados epidemiológicos como ferramentas estratégicas para formulação de políticas públicas efetivas.
Resultados
Os dados preliminares revelam a frágil incorporação da PNSIPN nos serviços de saúde, mesmo em instituições que atendem majoritariamente a população negra. A política é pouco conhecida entre os profissionais e raramente orienta ações de cuidado. Faltam estratégias educativas para trabalhadores e usuários, ampliando a distância entre diretrizes e prática. O racismo institucional é pouco problematizado, naturalizado no cotidiano, e a ausência de espaços de formação compromete respostas mais eficazes às demandas da população negra.
Conclusões/Considerações
O estudo reafirma a urgência de fortalecer a implementação da PNSIPN por meio da formação crítica dos profissionais de saúde, da valorização da coleta e análise de dados étnico-raciais, e da ampliação do acesso à informação qualificada para usuários do SUS. O enfrentamento do racismo institucional deve ser assumido como uma prioridade política e técnica, com vistas à construção de um sistema de saúde equânime e comprometido com a justiça social.
PRÁTICAS ALIMENTARES DE CRIANÇAS QUILOMBOLAS DO MARANHÃO: O DIÁLOGO ENTRE O MÉTODO PHOTOVOICE E A TEORIA DE PIERRE BOURDIEU
Pôster Eletrônico
1 UFMA
Apresentação/Introdução
A população quilombola mantém práticas alimentares enraizadas em seus modos de vida e cultura, possuindo questões identitárias e afetivas na relação com a alimentação. Contudo, diante das transformações que vêm ocorrendo com a urbanização e a oferta de alimentos processados, surgem interrogações de como as crianças quilombolas estão se alimentando atualmente.
Objetivos
Conhecer as práticas alimentares de crianças quilombolas do Maranhão através do método Photovoice à luz de Pierre Bourdieu.
Metodologia
Trata-se de um estudo exploratório de abordagem qualitativa, realizado no período de março a maio de 2024, na comunidade quilombola Ariquipá no município de Bequimão-MA. A comunidade situa-se na zona rural do município, na microrregião do Litoral Ocidental Maranhense, ficando a cerca de 10 km da sede municipal, sendo o trajeto realizado por estrada de terra, A amostra foi do tipo intencional, com crianças residentes na comunidade escolhida. Para a coleta de dados, inicialmente, foi utilizado o método Photovoice (fotografia participativa) e Grupo Focal. No tratamento dos dados, aplicou-se a Análise Temática de Bardin.
Resultados
Serão apresentados à luz de Bourdieu (habitus, campo e capital). Participaram 9 crianças, 5 meninos e 4 meninas, de 8 a 10 anos. As práticas alimentares mostraram o cultivo de alimentos para consumo e a criação de animais combinados com a aquisição de alimentos da zona urbana. Entre os produzidos destacaram- se: aves, suínos, peixes, frutas típicas, milho e mandioca e entre os ultraprocessados foram: salsicha, linguiça e refrigerante. Apesar da influência do capital cultural externo, as crianças mantêm um vínculo identitário com os alimentos tradicionais, que representam seu capital cultural e social. Esse habitus é transmitido através das figuras materna, paterna e da comunidade.
Conclusões/Considerações
Evidenciou-se a relação das crianças com seu território, onde a maioria dos alimentos consumidos são produzidos. No entanto, a urbanização e a presença crescente de alimentos ultraprocessados, demonstra uma provável mudança de habitus. Essa tensão entre tradições alimentares e influências externas evidencia a dificuldade das famílias quilombolas em manter práticas alimentares saudáveis diante de condições econômicas adversas.
O SILENCIAMENTO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA NA AMAZÔNIA: REVISÃO CRÍTICA E LACUNAS NA IMPLEMENTAÇÃO DA PNSIPN
Pôster Eletrônico
1 ILMD/Fiocruz
2 ENSP/Fiocruz
Apresentação/Introdução
A escassez de estudos sobre saúde da população negra na Amazônia reflete um silenciamento histórico dessa população na região, reverbera na ineficácia e inefetividade da implementação do objetivo XII da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) e reforça o racismo estrutural e desigualdades raciais em saúde.
Objetivos
Analisar criticamente a produção científica sobre a saúde da população negra na Amazônia relacionado ao objetivo XII da PNSIPN e identificar lacunas no conhecimento científico sobre racismo e saúde na região.
Metodologia
Estudo qualitativo com abordagem crítica, baseado em revisão comparativa sobre racismo e saúde. Foram realizadas buscas sistemáticas nas bases BVS-LILACS, BDTD, SciELO e PUBMED nos últimos 5 anos, de estudos sobre racismo e saúde publicados em inglês e português. Comparativamente, justificada pela escassez, realizou-se revisão livre, incluindo teses, dissertações e artigos científicos sobre saúde da população negra na Amazônia.
Resultados
A revisão revelou uma produção científica incipiente sobre racismo e saúde da população negra na Amazônia. Destacam-se estudos sobre iniquidades em saúde (insegurança alimentar e ausência do Estado ao garantir acesso à saúde), modos de vida, saberes tradicionais e práticas de cura da população quilombola. Contudo, existem lacunas de conhecimento sobre análise de implementação da PNSIPN, escassez de estudos de abordagem epidemiológica, racismo obstétrico, barreiras de acesso à saúde enfrentadas por quilombolas e imigrantes negros, repercussões do racismo na saúde mental em intersecção com as especificidades do território e trajetórias de profissionais de saúde negros na região.
Conclusões/Considerações
A baixa produção científica e a ausência de políticas efetivas indicam um grave silenciamento da saúde da população negra na Amazônia e reflete na não efetiva implementação da PNSIPN. É urgente preencher as lacunas identificadas, garantir a efetivação da política, consolidar agenda de pesquisa que articule racismo e saúde na Amazônia em intersecção com as especificidades do território como potência e Determinante Social da Saúde na região.
ANCESTRALIDADE GENÔMICA, FATORES SOCIOECOLÓGICOS, SINAIS E SINTOMAS DA DOENÇA FALCIFORME NA AMAZÔNIA BRASILEIRA
Pôster Eletrônico
1 Laboratório de Estudos Bioantropológicos em Saúde e Meio Ambiente – LEBIOS
2 UFPA, UNB
Apresentação/Introdução
A Doença Falciforme (DF) é a síndrome genética mais prevalente em todo o mundo. No estado do Pará, Amazônia brasileira, a forma mutante da hemoglobina (Hb SS) está presente em cerca de 1% da população, que enfrenta múltiplas manifestações clínicas, elevada vulnerabilidade biossocial, estigmas raciais e dificuldades de acesso aos serviços de saúde pública.
Objetivos
Esta pesquisa visou evidenciar as características e os impactos da ancestralidade genômica (AG), dos fatores socioecológicos, renda, sexo, idade e da raça/cor autodeclarada nos sinais e sintomas da DF no estado do Pará, na Amazônia brasileira.
Metodologia
Investigou-se a situação biológica e sociocultural de pessoas com DF e as conexões entre raça/cor e Ancestralidade Genômica (AG) em 60 indivíduos (11 a 46 anos), voluntários previamente identificados com DF (Hb SS), em tratamento no hemocentro regional de Belém, capital do Pará. Amostras de sangue foram coletadas no hemocentro e testes foram realizados para identificar a AG na Universidade Federal do Pará (UFPA), onde 62 Marcadores de Informação de Ancestralidade (AIMs) foram analisados via PCR multiplex. Dados socioecológicos e clínicos foram obtidos por meio de entrevistas semiestruturadas com os voluntários.
Resultados
As manifestações mais comuns da DF, como dor abdominal, infecções e acidente vascular cerebral podem estar relacionadas à AG e à classificação de raça/cor autodeclaradas. Ao analisar diferenças envolvendo genética, gênero/sexo, idade, renda familiar e raça/cor autodeclarada, observou-se que as manifestações clínicas da doença variam consideravelmente, sugerindo que o status socioeconômico e a genética explicam parcialmente a heterogeneidade dos sinais e sintomas da DF. Outros fatores, como racismo institucional e social, variações de polimorfismos de DNA e condições ecológicas de vida também devem ser investigados mais aprofundadamente para se entender as manifestações clínicas da DF.
Conclusões/Considerações
Para compreender as manifestações clínicas da DF e implementar políticas públicas e serviços de saúde mais eficientes é importante analisar as mutações genéticas de forma coletiva e/ou individualizada, os padrões epidemiológicos e socioculturais da população brasileira considerando suas características étnico-raciais, que são o resultado da combinação histórica de populações africanas, europeias e indígenas nas diferentes regiões do país.
FATORES SOCIOECOLÓGICOS E HIPERTENSÃO ARTERIAL EM POPULAÇÕES QUILOMBOLAS DO PARÁ, AMAZÔNIA, BRASIL
Pôster Eletrônico
1 UFPA, UNB
2 USP
3 UEPA
Apresentação/Introdução
A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma das principais causas de mortalidade no mundo. No Brasil, cerca de 30% da população adulta sofre de HAS, a prevalência tem aumentado e há muitas pessoas sem diagnóstico adequado, especialmente entre os grupos rurais. No caso das populações quilombolas, há ainda poucas investigações no país, com importante lacuna de informações sobre a região Amazônica.
Objetivos
Investigar a frequência de ocorrência de HAS e outras doenças crônicas associadas a diferentes fatores socioecológicos em populações quilombolas da Amazônia paraense.
Metodologia
Estudo de corte transversal, exploratório, oportunístico, descritivo realizado em populações rurais. Todas as comunidades envolvidas concordaram em participar voluntariamente da pesquisa. As medidas de pressão arterial foram feitas com esfigmomanômetro aneróide, por profissional treinado, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde. Os dados antropométricos (circunferência da cintura, peso e altura) e socioecológicos (sexo, idade, condições sanitárias, de habitação, renda, tabagismo e etilismo) foram coletados em indivíduos com 18 anos ou mais de idade, de três comunidades quilombolas, situadas em diferentes municípios e ecossistemas do estado do Pará.
Resultados
Um total de142 mulheres e 122 homens foram investigados. Dentre os voluntários, 81,55% tem entre 18 e 59 anos. A maioria das casas quilombolas é de madeira, não tem água ou esgoto tratado e a maioria das famílias ganha cerca de um salário mínimo mensal. Entre homens e mulheres, a frequência da HAS é de 22,11% e 30,72%, respectivamente. Mais mulheres do que homens apresentam HAS estágio II e há correlação entre idade e HAS. A população apresenta elevada taxa de sobrepeso e obesidade (34,96%). Porém, mais mulheres do que homens estão acima do peso.
Conclusões/Considerações
Fatores biológicos e situações socioecológicas como racismo estrutural, baixo status socioeconômico, consumo de ultraprocessados, uso de álcool, tabagismo e falta de acesso a serviços de saúde entre os quilombolas têm sido associados à alta prevalência de HAS. Os achados nessa amostra paraense reforçam a necessidade de uma abordagem holística para a compreensão da HAS entre essas populações visando a adequada implementação das políticas públicas.
ENTRE ÁGUAS, ENCANTOS E RESISTÊNCIAS: IMPACTOS DO RACISMO AMBIENTAL E ALTERNATIVAS COLETIVAS EM UMA COMUINIDADE QUILOMBA DO RECÔNCAVO BAIANO
Pôster Eletrônico
1 UFBA
2 COLETIVO DE JOVENS QUILOMBOLAS E UFRB
Apresentação/Introdução
As águas do Paraguaçu moldam os modos de vida no território da Bacia e Vale do Iguape, em Cachoeira – Bahia, onde quilombolas enfrentam o racismo ambiental. A contaminação do rio impacta saúde, renda e espiritualidade, mas encontra resistências que impulsionam reorganizações a partir de práticas de cuidado coletivo ancoradas na ancestralidade, no território e nos saberes tradicionais.
Objetivos
Analisar os impactos do racismo ambiental na saúde e no modo de vida da comunidade quilombola Engenho da Ponte, e as estratégias coletivas construídas para resistir e reorganizar a vida a partir do território.
Metodologia
Pesquisa qualitativa de base etnográfica, com observação participante, escuta sensível e registro fotográfico realizada na comunidade quilombola Engenho da Ponte. Foram realizadas conversas informais e rodas de diálogo com marisqueiras, lideranças e jovens. O estudo articula a Teoria Ator-Rede, o pensamento de Nêgo Bispo, Roberto Lacerda e Leda Maria Martins, destacando as ideias-força de envolvimento, tempo espiralar, biointegração e territorialidades quilombolas como fundamentos de análise.
Resultados
A pesquisa revelou que a contaminação das águas do Paraguaçu impacta diretamente a saúde física e mental, a economia e a espiritualidade local. Em resposta, surgem alternativas coletivas lideradas por mulheres e jovens: reconfiguração de práticas econômicas, valorização dos saberes ancestrais e ações de educação ambiental. O Coletivo de Jovens Quilombolas da comunidade quilombola Engenho da Ponte se destaca ao articular ações de saúde, agroecologia e mobilização política, afirmando o território como espaço de cuidado, resistência e futuro.
Conclusões/Considerações
O racismo ambiental, ao comprometer o modo de vida tradicional, produz impactos adoecedores. No entanto, a comunidade mobiliza saberes ancestrais, juventude e práticas de cuidado que reafirmam o território como lugar de vida e resistência. As alternativas construídas expressam uma ética antimanicolonial que articula cuidado, resistência e ancestralidade.
MORTALIDADE MATERNA E DISPARIDADES RACIAIS EM MATO GROSSO DE 2014 A 2023
Pôster Eletrônico
1 UFMT
Apresentação/Introdução
A morte materna é uma grande tragédia evitável que atinge as mulheres de forma desigual, a maior parte vitimada são as mulheres negras. A mortalidade materna é um importante indicador de saúde, que aponta possíveis problemas na assistência à saúde da mulher no ciclo gravídico-puerperal, definida como óbito da mulher na gestação até os 42 dias pós parto ocasionada ou agravada pela gestação.
Objetivos
Analisar as disparidades na mortalidade materna no estado de Mato Grosso por grupo de causas, segundo raça/cor da pele da mãe, no período de 2014 a 2023.
Metodologia
Estudo ecológico com dados dos sistemas de informação de mortalidade (SIM) e do sistema de nascidos vivos (SINASC). A Razão de Mortalidade Materna (RMM) foi analisada por ano segundo raça/cor (branca, preta, parda e indígena) da mãe, sendo excluído a raça/cor amarela (um óbito no período). Foi considerada a RMM média do período em cada raça/cor segundo faixa etária (10 a 19, 20 a 29, 30 a 39 e 40 a 49 anos), macrorregiões de saúde (centro-norte, sul, leste, oeste e centro-noroeste) e grupos de causas de acordo com a OMS (diretas e indiretas). A fins de comparação foi realizada a RMM média entre pretas/brancas, pardas/brancas e indígenas/brancas. As análises foram realizadas no STATA.
Resultados
Foram registrados 428 óbitos maternos em Mato Grosso. A RMM média do período foi de 79,1/100.000 nascidos vivos em mulheres da raça/cor branca, 100,7 em mulheres da raça/cor preta, 68,1 em mulheres da raça/cor parda e 125,6 da raça/cor indígena. Quando comparada a média de RMM no período foi quase três vezes maior em mulheres pretas e duas vezes em indígenas, quando comparadas as brancas no ano de 2022. Em 2018, a RMM entre indígenas chegou a ser 9 vezes maior que a registrada entre brancas. Quanto as macrorregiões de saúde, a sul apresentou RMM três vezes maior em mulheres pretas e duas vezes maior entre indígenas comparada as brancas nas macro sul, oeste e centro-noroeste.
Conclusões/Considerações
O estado de Mato Grosso apresenta disparidades raciais importantes na mortalidade materna no período, com pior cenário nos anos de 2020, 2021 e 2022 e maior risco para mulheres pretas e indígenas, além de variações heterogêneas nas macrorregiões de saúde. Tais disparidades devem ser consideradas no enfrentamento e redução das mortes materna. O estado de Mato Grosso ocupa o 7º lugar com pior RMM no país, distante da meta estabelecida no ODS.
TRABALHO, EXCLUSÃO E SOFRIMENTO PSÍQUICO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE CONDIÇÕES LABORAIS E SAÚDE MENTAL DE QUILOMBOLAS EM MATO GROSSO
Pôster Eletrônico
1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT)
Apresentação/Introdução
A população quilombola enfrenta desigualdades históricas que se expressam na precariedade do trabalho e no adoecimento psíquico. No estado de Mato Grosso, essas desigualdades são agravadas pela invisibilidade institucional e ausência de políticas públicas eficazes voltadas à saúde mental dessa população.
Objetivos
Analisar os impactos das condições de trabalho na saúde mental de trabalhadores quilombolas em Mato Grosso, por meio de uma revisão integrativa da literatura.
Metodologia
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com abordagem qualitativa. A busca foi realizada nas bases SciELO, BVS, Google Acadêmico e repositórios institucionais, com publicações entre 2013 e 2024.Utilizaram-se descritores combinados por operadores booleanos. Os critérios de inclusão focaram em estudos sobre quilombolas, trabalho e saúde mental. Foram analisadas cinco publicações por meio de análise temática (Minayo, 2010), organizadas em eixos: racismo, precarização do trabalho, acesso à saúde mental e invisibilidade institucional.
Resultados
Os estudos indicam que a precarização das relações de trabalho, a informalidade e a ausência de vínculos formais são marcadores recorrentes entre trabalhadores quilombolas. Essas condições, somadas ao racismo estrutural e à negligência das políticas públicas, contribuem diretamente para o sofrimento psíquico. Há também barreiras geográficas e institucionais de acesso aos serviços de saúde mental, bem como invisibilidade estatística e negligência nas estratégias intersetoriais de cuidado.
Conclusões/Considerações
O sofrimento psíquico entre trabalhadores quilombolas está intrinsecamente ligado às desigualdades estruturais. A pesquisa aponta a necessidade urgente de políticas públicas intersetoriais, antirracistas e territorializadas, que garantam o acesso digno à saúde mental e reconheçam a especificidade dos territórios quilombolas.
MULTIMORBIDADE ENTRE PESSOAS IDOSAS QUILOMBOLAS NO MARANHÃO: ANÁLISE COM CLASSES LATENTES
Pôster Eletrônico
1 UFMA
Apresentação/Introdução
As multimorbidades são um problema de saúde pública global que afeta a qualidade de vida e o bem-estar. Populações idosas de áreas remotas como as de quilombo enfrentam diversos desafios para a assistência aos seus agravos de saúde.
Objetivos
Este estudo buscou identificar padrões de multimorbidades em pessoas idosas quilombolas, examinando a associação dos padrões identificados com as suas características socioeconômicas, demográficas e de saúde.
Metodologia
Trata-se de estudo transversal de base populacional realizado com censo de 236 idosos (≥60 anos) de 11 comunidades quilombolas da cidade de Bequimão (IQUEBEQ), Maranhão, Brasil. Foram investigadas a presença das seguintes doenças crônicas: asma, colesterol, diabetes, doença do coração, doença osteo-esquelética, doença pulmonar-respiratória e hipertensão. A Análise de Classe Latente foi utilizada para se identificar padrões mais comuns dessas morbidades. Foram calculadas as frequências relativas e verificadas associações entre as variáveis socioeconômicas, demográficas, multimorbidades e de saúde com as classes latentes por meio do teste de qui-quadrado de Pearson ou de Teste de Mann-Whitney (α=0,05).
Resultados
Hipertensão (55,5%) teve a maior prevalência, seguida das doenças osteo-esqueléticas (39,8%) e colesterol (24,2%). Já as menores: doença pulmonar-respiratória (3,0%) e asma (6,8%). Foram identificados dois padrões de morbidades: ‘Relativamente saudável, mas com Doenças Osteo-esqueléticas’ (43,6%) e ‘Hipertensão, Agravos metabólicos (Hipercolesteremia e Diabetes) e Osteo-esqueléticos (56,4%)’. Além disso, aspectos socioeconômicos, demográficos e de saúde estiveram significativamente associados aos padrões identificados.
Conclusões/Considerações
Os idosos quilombolas apresentaram padrão de agravos que caracteriza acúmulo de morbidades crônicas que afetam diferentes dimensões da vida e saúde. Ações específicas são essenciais para reduzir a carga de agravos e ajudá-los a manejar as multimorbidades. Oportunidades sociais e de saúde mais equitativas podem atender às várias demandas e necessidades de saúde dos idosos e favorecer um envelhecimento mais saudável dos quilombolas.
INSEGURANÇA ALIMENTAR E PERFIL ANTROPOMÉTRICO DE CRIANÇAS QUILOMBOLAS MENORES DE 10 ANOS NO MARANHÃO
Pôster Eletrônico
1 UFMA
Apresentação/Introdução
Crianças quilombolas enfrentam múltiplas vulnerabilidades sociais e nutricionais, com riscos aumentados de insegurança alimentar, anemia e atrasos no crescimento.
Objetivos
Analisar a condição alimentar e os indicadores antropométricos de crianças menores de 10 anos em comunidades quilombolas de Bequimão-MA.
Metodologia
Trata-se de estudo transversal, realizado com 143 crianças quilombolas entre 5 e 9 anos, residentes em 11 comunidades de Bequimão-MA. A coleta ocorreu entre 18 e 26 de maio de 2022 em escolas públicas e espaços comunitários. Foram coletados dados demográficos, socioeconômicos e antropométricos (peso, altura, IMC e estatura para idade), além de hemoglobina e segurança alimentar com uso da EBIA. A análise antropométrica seguiu critérios da OMS e SISVAN. A coleta de dados foi realizada por estações utilizando tablets com REDCap e os dados foram analisados no RStudio com testes estatísticos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética (CAAE 21625819.0.0000.5087).
Resultados
A insegurança alimentar foi observada em 81,8% das famílias, com 50,3% em grau moderado ou grave. A maioria das crianças vivia em classes socioeconômicas D e E (83,2%) e 37,8% em domicílios sem água tratada. A anemia ferropriva foi identificada em 11,4% e a pressão arterial alterada em 36,6%. O IMC indicou eutrofia em 84,6%, magreza em 5,6% e obesidade em 9,8%. A baixa estatura foi identificada em 4,9%.
Conclusões/Considerações
O estudo identificou elevada prevalência de insegurança alimentar e alterações antropométricas em crianças quilombolas, evidenciando desigualdades sociais persistentes. Embora a maioria esteja em eutrofia, a presença de anemia e alterações pressóricas indica que esse indicador, isoladamente, pode ocultar deficiências nutricionais. Os achados urgem políticas públicas voltadas à segurança alimentar e fortalecimento da atenção primária à saúde.
DESIGUALDADES NO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA INFECÇÃO POR HIV NA REGIÃO SUL DO BRASIL EM 2022. UMA ANÁLISE ESPACIAL E POR RAÇA/COR.
Pôster Eletrônico
1 UFPR
Apresentação/Introdução
No Brasil, o HIV ainda é um problema de saúde pública. Nesse cenário, a Região Sul se encaixa como um importante nicho epidemiológico com características próprias. Por isso, é fundamental analisar essas particularidades considerando iniquidades em saúde, como questões étnico-raciais, que contribuem para as desigualdades no risco, diagnóstico e vivência da infecção por HIV por determinados grupos.
Objetivos
Investigar disparidades na incidência de infecção por HIV conforme a distribuição espacial e por raça/cor nos estados do Paraná (PR), Santa Catarina (SC) e Rio Grande do Sul (RS) no ano de 2022, à luz dos determinantes sociais da saúde.
Metodologia
Estudo transversal descritivo e retrospectivo realizado com base em dados secundários do DATASUS (Sinan). Foram selecionados casos de HIV cuja notificação foi realizada em 2022 nos estados do sul brasileiro, na faixa etária de 10 a 65 anos e considerando a população branca e negra (pardos e pretos). Para cálculo da taxa de incidência por 100 mil habitantes, foram utilizados dados populacionais do IBGE (Censo 2022), estratificados por estado e por raça/cor. Por fim, foram avaliados indicadores-chave extraídos do Relatório de Monitoramento Clínico do HIV 2022, tais como diagnóstico tardio, óbitos relacionados à infecção e supressão viral, comparando desfechos entre as duas populações.
Resultados
Em 2022, o Rio Grande do Sul liderou o número absoluto de casos de HIV (1.150) na Região Sul, seguido por SC (980) e PR (780). Contudo, SC tem a maior taxa de incidência, com maior proporção de casos. Destacando a importância de comparações proporcionais para relações equivalentes. A população negra, minoria nos três estados, apresenta maior taxa de incidência nos três estados em 2022, revelando maior vulnerabilidade. Nacionalmente, negros concentraram 60,3% das notificações, tiveram mais diagnóstico tardio, menor supressão viral e maior mortalidade (61,7%) que brancos. Tais dados mostram que condicionantes de saúde atingem com mais força a população negra, exigindo ações focadas em equidade
Conclusões/Considerações
O estudo identificou uma maior incidência nos residentes do estado de SC com possível relação a fatores sociais e de acesso. A raça/cor é um determinante social de saúde, podendo estar associada a maior vulnerabilidade da população negra, impactando inclusive os desfechos do HIV. Isso sugere a necessidade de estudos futuros para aprofundamento das causas dessas disparidades, bem como a implementação de políticas públicas mais equitativas.
AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO SOBRE SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA NO BRASIL (2015-2024): DESVELANDO SENTIDOS PARA O CAMPO DA SAÚDE COLETIVA
Pôster Eletrônico
1 UECE
Apresentação/Introdução
A produção de conhecimento científico sobre a população negra no Brasil é permeada pelo epistemicídio. Essa produção tem crescido no âmbito das Ciências da Saúde, mas sob que ordenamentos intelectuais? Esta pesquisa se fundamenta na necessidade de desvelar essa produção na área da saúde, identificando os sentidos teóricos e epistemológicos com apontamentos críticos para o campo da Saúde Coletiva.
Objetivos
Avaliar a produção de conhecimento científico sobre saúde da população negra no Brasil, identificando as principais referências teóricas e metodológicas, no período de 2014 a 2024.
Metodologia
Trata-se de revisão bibliográfica com seis dimensões analíticas: objetivos; marcos teóricos; categorias analíticas; metodologias; resultados alcançados; e problematização do lugar epistemológico do pesquisador. A amostra consiste em produções científicas sobre saúde da população negra no Brasil, em formato de artigos publicados em periódicos nacionais e dissertações e teses de programas de pós-graduação de Saúde Coletiva, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e Sociais e Interdisciplinar, no período de 2014 a 2024. Procedeu-se com busca nas bases de dados SciELO, BVSalud e LILACS e na biblioteca da CAPES. Após aplicação de critérios, analisou-se 21 artigos, 39 dissertações e 6 teses.
Resultados
A análise revelou alguns padrões críticos: 85% das produções se concentram em análise de políticas públicas de saúde, enquanto só 12% citam e fazem interlocução com autores clássicos de estudos raciais, expondo fragilidade conceitual e analítica; pesquisadores adaptam conceitos de raça/racismo sem diálogo interdisciplinar, resultando em análises reducionistas; lacunas operacionais, com 92% dos profissionais desconhecendo a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra; dados raciais subnotificados; manutenção de iniquidades, pois apenas 20% dos estudos propõem ações e 8% abordam epistemologias decoloniais, refletindo um modelo burocrático-epistêmico da produção científica.
Conclusões/Considerações
A produção científica sobre saúde da população negra no Brasil está marcada pela concentração na análise de políticas públicas, fragilidade teórica, pouco diálogo interdisciplinar e baixa interlocução com categorias analíticas fundamentais dos estudos raciais. Observa-se endogenia epistemológica da Saúde Coletiva para lidar com a temática. Romper com esse ciclo é fundamental para promover conhecimento que contribua efetivamente para a equidade.
SUBREPRESENTAÇÃO DO QUESITO RAÇA-COR A PARTIR DA PESQUISA NACIONAL DE SAÚDE (PNS): UM ESTUDO META-EPIDEMIOLÓGICO DE ESTUDOS DERIVADOS DA PNS
Pôster Eletrônico
1 Graduação em Saúde Coletiva, Escola de Enfermagem e Saúde Coletiva (EENFSC), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre - RS, Brasil. Laboratório de Atividade Física, Diabetes e Doença Cardiovascular (LADD), Hospital de Clínicas de Po
2 Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde: Cardiologia e Cardiovascular, Universidade, Porto Alegre - RS, Brasil. Laboratório de Atividade Física, Diabetes e Doença Cardiovascular (LADD), Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Porto Alegre – RS
3 Programa de Pós-graduação em Epidemiologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. Laboratório de Atividade Física, Diabetes e Doença Cardiovascular (LADD), Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Porto Alegre – RS, Brasil.
4 Programa de Pós-Graduação em Cardiologia e Ciências Cardiovasculares, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. Laboratório de Atividade Física, Diabetes e Doença Cardiovascular (LADD), Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA),
Apresentação/Introdução
O quesito étnico-racial é um marcador essencial para a compreensão das desigualdades em saúde, mas sua utilização ainda é negligenciada em artigos científicos. A ausência de representação em questões raciais na pesquisa epidemiológica contribui para a perpetuação de desigualdades. Portanto, é importante compreender como a taxonomia étnico-racial é aplicada nesses estudos.
Objetivos
Analisar o uso de termos referentes ao quesito raça-cor em publicações. de 2014 a 2023 com uso de dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS).
Metodologia
Foi realizada uma revisão de artigos disponíveis na base Scielo. O critério de seleção foi o uso dos dados derivados da PNS de 2013 e/ou 2019, publicados de 2014 a 2023. A identificação da utilização do quesito raça/cor foi realizada por meio da pesquisa dos seguintes termos: raça, cor, raça/cor, etnia, raça/etnia, afrodescendente, preto, negro, racial e racismo. Os termos foram analisados em todas as seções dos artigos para verificar a menção à raça/cor
Resultados
Foram incluídos 329 artigos, dos quais 78,7% mencionaram ao menos um termo relacionado ao quesito raça/cor, enquanto 21,3% não fizeram qualquer menção. Em 2015 e 2016, a mediana anual de menções foi de 12, com uma queda para 4 em 2017. A partir de 2018, houve um aumento progressivo, atingindo 15 menções em 2023. As referências à raça/cor concentraram-se nas seções de Resultado e Metodologia, sendo raras na Introdução e Discussão. s termos “racismo” e “racial” foram identificados em apenas 3 (0,9%) e 7 (2,1%) artigos na Introdução, e em 14 (4,3%) e 23 (7%) estudos na Discussão, respectivamente.
Conclusões/Considerações
Embora tenha havido um aumento no uso de termos relacionados à raça/cor em publicações com dados da PNS, ainda persiste uma lacuna quanto à interpretação crítica dessas categorias. Esse cenário evidencia que o racismo estrutural e institucional continua sendo um obstáculo significativo ao avanço científico, limitando a produção de conhecimentos que realmente contribuam para a promoção da saúde da população negra.
ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE INTEGRAL DA POPULAÇÃO NEGRA (PNSIPN) NUMA REGIÃO DE SAÚDE DA GRANDE SÃO PAULO: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO
Pôster Eletrônico
1 FSP/USP
Apresentação/Introdução
No Brasil, os avanços para a garantia do acesso à saúde ocorreram inicialmente com a expansão da Atenção Primária em Saúde (APS). Porém, estudos indicam que ainda há barreiras no acesso equânime para a população negra. A PNSIPN foi a estratégia utilizada para dirimir as barreiras, mas enfrenta desafios na sua implementação (Werneck, 2016; Faustino, 2017).
Objetivos
Identificar estratégias e ações da PNSIPN implementadas em municípios paulistas. Apresentar resultados da fase exploratória de Pesquisa de Mestrado que investigou o conhecimento e a capilaridade da PNSIPN em municípios paulistas.
Metodologia
Longe de ser um diagnóstico, a fase exploratória é uma “apreciação situacional” realizada no nível da Gestão, influente nas mudanças de modelos assistenciais (Mattus, 1989; Cecílio, 2014). Nesta fase, utilizou-se questionário, por formulário eletrônico, com perguntas fechadas para gestores da APS de 7 municípios. As perguntas contemplaram quatro dimensões: Conhecimento sobre a PNSIPN, Estratégias previstas na política, Linhas de cuidado e Protocolos de acesso à saúde da população negra. Neste trabalho, serão retratados resultados de apenas duas dimensões: conhecimento e implementação de estratégias previstas.
Resultados
Em relação ao conhecimento sobre a política, dentre 7 respostas, 5 demonstraram nível médio a bom e indicaram esforços para sua implementação, uma desconhece a política e outra a conhece superficialmente. As principais estratégias identificadas para ampliar o acesso da população negra na AB incluem: critérios de risco e vulnerabilidade e capacitação para preenchimento do quesito raça/cor em quatro municípios. Apenas um município implementou a linha de cuidado para Doença Falciforme, e dois implementaram políticas municipais de saúde da população negra. Os dados revelaram uma significativa disparidade entre o conhecimento e a aplicação da PNSIPN nos municípios estudados e reflete o cenário nacional.
Conclusões/Considerações
A frágil implementação da PNSIPN revela o racismo institucional no SUS. A negligência com as necessidades da população negra gera barreiras ao cuidado, aumentando os agravos e as mortes evitáveis. A efetivação da política, como reparação histórica baseada na equidade, seria um avanço para a saúde e a sociedade, mas, infelizmente, é uma realidade distante.
INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA SOBRE O RACISMO INSTITUCIONAL E SUAS CONEXÕES NO CAMPO DA SAÚDE: UMA REVISÃO DE ESCOPO.
Pôster Eletrônico
1 UEVA
Apresentação/Introdução
O racismo enfrentado pela população negra, manifesta-se no Sistema Único de Saúde (SUS), influenciando o trabalho em saúde e a formação de profissionais. Faz-se necessário divulgar informações sobre a saúde negra, promover reflexões dialógicas e alinhar a formação profissional à redução da segregação racial, garantindo equidade e cumprimento dos princípios do SUS no cuidado à população negra.
Objetivos
Analisar a produção acadêmica referente ao racismo institucional e suas interações no campo da saúde nos últimos dez anos.
Metodologia
Seguiu-se o método do Instituto Joanna Briggs (JBI), com estratégia PCC (População: Negra; Concepção: Racismo Institucional; Contexto: Serviços de Saúde). A pergunta norteadora foi: qual a produção científica sobre racismo institucional nos serviços de saúde nos últimos dez anos? O protocolo foi registrado no Open Science Framework (DOI: 10.17605/OSF.IO/YKHR3). Utilizou-se as bases de dados: Medical Literature Analisys and Retrieval System Online (MEDLINE), Web of Science, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scopus e literatura cinzenta. Realizou-se três etapas: leitura de títulos e resumos, leitura completa e sumarização das informações relevantes.
Resultados
Obteve-se um total de 180 publicações que, após adequação aos critérios de inclusão e exclusão, resultaram em 49 artigos. Excluíram-se 16 por estarem repetidos, totalizando em 33 artigos. Obteve-se 215 teses/dissertações que, após a aplicação dos filtros, resultaram em 95 publicações, e após leitura completa, 13 foram selecionadas. Destaca-se que ficaram 46 obras para análise final, com ênfase para as publicadas no ano de 2023 (17) e de estudos em inglês (29). Abordou-se sobre iniquidades em saúde, violência obstétrica direcionada às mulheres negras; racismo institucional nas políticas de saúde sexual/reprodutiva e importância de formação permanente dos profissionais da área.
Conclusões/Considerações
Com base na análise das obras, observa-se que o racismo institucional se manifesta amplamente nos diferentes serviços de saúde, fundamentado em dinâmicas de poder que controlam e marginalizam a população negra, limitando seu acesso equitativo à assistência e às instituições de saúde. Nessa dinâmica, a efetivação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) é um mecanismo importante de enfrentamento ao racismo em saúde.
KO SÌ ÀRÙN (QUE NÃO HAJA DOENÇAS): INTERLOCUÇÕES E DESAFIOS ENTRE O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) E AS COMUNIDADES TRADICIONAIS DE TERREIRO.
Pôster Eletrônico
1 UFRB
Apresentação/Introdução
Ko Sì Àrun, expressão em língua Yorubá, significa “não haja doenças”. Mais do que uma simples afirmação, essa expressão carrega uma concepção ampla de saúde, intrinsecamente ligada à espiritualidade, à cosmovisão e às práticas de cuidado dos povos africanos. Logo, Ko Sì Àrun, não se refere apenas à ausência de doenças, mas a um estado de equilíbrio entre corpo, espírito e comunidade.
Objetivos
Analisar os impactos do racismo no acesso do povo de terreiro ao Sistema Único de Saúde. Contribuir para o fortalecimento da Política Nacional de Saúde da População Negra e valorizar os conhecimentos tradicionais de saúde dos terreiros.
Metodologia
A proposta metodológica ancorou-se em revisão bibliográfica, examinando estudos e documentos que abordavam a interação entre práticas de saúde afro-brasileiras e SUS, a história da subalternização das tradições africanas e as iniciativas para implementação da PNSIPN. Esta pesquisa foi sistematizada através do debate produzido entre 2009 e 2024 acerca da interface entre os terreiros de Candomblé e o Sistema Único de Saúde (SUS). Optou-se pelas bases SciELO, Biblioteca Virtual em Saúde (que inclui a LILACS) e Portal de Periódicos da CAPES porque esses repositórios congregam, simultaneamente, produção em saúde coletiva, ciências humanas, antropologia da religião e estudos decoloniais.
Resultados
O desafio colocado não é apenas ampliar o acesso físico aos serviços, mas reconhecer os saberes ancestrais como parte constitutiva das políticas públicas de saúde. Enquanto o SUS mantiver as práticas de terreiro na categoria do exótico ou do supersticioso, desperdiçará um patrimônio terapêutico secular que atua, justamente, onde o Estado não chega. A robustez da análise sustenta, portanto, a defesa de um modelo de atenção que incorpore os princípios da PNSIPN, estabeleça protocolos culturalmente competentes de referência e contrarreferência e, sobretudo, confronte o racismo institucional que ainda compromete o direito de a população negra usufruir de uma saúde verdadeiramente integral.
Conclusões/Considerações
A pesquisa evidenciou a importância de uma abordagem antirracista e decolonial para efetivar a saúde integral das populações negras, reconhecendo o candomblé como espaço de acolhimento e promoção de bem-estar. Pois não basta assegurar formalmente a universalidade do SUS, se as populações negras, em especial as que vivem em comunidades tradicionais de terreiro, continuarem a ser excluídas ou discriminadas.
CÁRIE DENTÁRIA, MORBIDADE BUCAL REFERIDA E ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE POR ESCOLARES QUILOMBOLAS DE UM MUNICÍPIO DO INTERIOR DO NORDESTE
Pôster Eletrônico
1 UFPB
2 UFRN
Apresentação/Introdução
Populações quilombolas apresentam altos índices de doenças bucais, resultado das vulnerabilidades sociais e iniquidades em saúde vivenciadas ao longo do tempo.
Objetivos
O objetivo deste estudo foi identificar a prevalência e severidade de cárie dentária, morbidade bucal referida e acesso a serviços de saúde por escolares remanescentes da Comunidade Serra Feira do município de Cacimbas/PB.
Metodologia
Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo, observacional de corte-transversal. Foi realizado um censo com escolares da escola municipal da Comunidade Quilombola Serra Feia, na idade de 12 anos. O examinador foi calibrado para índice CPO-D (número de dentes permanentes cariados, perdidos e obturados) obtendo kappa inter-examinador: 0,62. Previamente à coleta, foi conduzido estudo-piloto com 5 alunos matriculados na escola que não participariam do censo. Procedeu-se então a coleta por exame clínico para índice CPO-D e aplicação de questionário de morbidade bucal referida e acesso aos serviços de saúde. O projeto foi aprovado pelo CEP do CCS-UFPB sob parecer substanciado 5.810.211.
Resultados
Participaram do estudo 15 escolares, 60% do sexo feminino e 40% do sexo masculino. A prevalência de cárie foi 86,7% com CPO-D médio de 2,5 (±2 ,6), predominando o componente “cariado”. Sobre a morbidade bucal referida e acesso aos serviços de saúde, a dor de dente nos últimos 6 meses foi relatada por 53,3% dos indivíduos e todos que procuraram serviços odontológicos foram atendidos. No último ano anterior à coleta, 66,3% procuraram algum serviço odontológico, entretanto, 20% nunca foram ao dentista. O serviço público foi relatado por todos os indivíduos que procuraram atendimento odontológico e os principais motivos foram extração dentária (33,3%), restauração (33,3%) e dor de dente (6,7%).
Conclusões/Considerações
A população possui alta prevalência de cárie. Apesar de existir serviço público odontológico, alguns indivíduos relataram nunca ter ido ao dentista. Porém, aqueles que procuraram o serviço foram atendidos, referindo como motivos as consequências da cárie não tratada. O serviço de saúde bucal necessita de reorientação para melhorar o acesso e fortalecer Políticas Públicas voltadas às populações quilombolas do interior do nordeste brasileiro.
SAÚDE BUCAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO QUILOMBO DO NORDESTE DO BRASIL
Pôster Eletrônico
1 UFPB
2 UFRN
Apresentação/Introdução
Os remanescentes de Comunidades Quilombolas apresentam altos índices de agravos em saúde bucal, resultado da vulnerabilidade social e acesso a serviços vivenciados por esses povos
Objetivos
Avaliar a condição de saúde bucal de crianças e adolescentes remanescentes quilombolas da Comunidade Serra Feia de Cacimbas/PB
Metodologia
Trata-se de um estudo descritivo, observacional e transversal. Foi realizado um censo com 50 escolares com 5-6 e 12 anos. O examinador foi previamente treinado (k=0,62). Foram realizados exames clínicos para aferir os índices de ceo-d/CPO-D, necessidade de tratamento, PUFA/pufa, má oclusão de Foster e Hamilton, Índice de Estética Dental (DAI) e urgência de tratamento
Resultados
A prevalência de cárie na população total foi de 94%, sendo 97,1% aos 5 e 6 anos e 86,7% aos 12 anos. Os escolares de 5 e 6 anos apresentaram ceo-d 5,8 (±3,7), pufa =1,3 (±1,7), prevalência das consequências clínicas da cárie não tratada de 23,8% e prevalência de algum grau de oclusopatia de 60%. Nos escolares de 12 anos, o CPO-D foi de 2,5 (±2,6), PUFA = 0,7 (±1,3) prevalência das consequências clínicas da cárie não tratada de 15%, e 80% apresentaram alteração na oclusão. As necessidades de tratamento mais prevalentes foram restauração de uma superfície, restauração de duas ou mais superfícies, remineralização de mancha branca e tratamento endodôntico.
Conclusões/Considerações
A população quilombola apresentam condição de saúde bucal precária. Diante disso, é importante o acesso aos serviços de saúde bucal de base territorial e comunitária. Medidas de promoção, prevenção e educação na saúde devem ser desenvolvidas nessa comunidade.
PRÁTICAS CORPORAIS E RACISMO: DETERMINANTES SOCIAIS E DESIGUALDADES NO ACESSO À ATIVIDADE FÍSICA NA POPULAÇÃO NEGRA DO RIO DE JANEIRO
Pôster Eletrônico
1 UFRJ
Apresentação/Introdução
O racismo estrutural constitui um determinante social das desigualdades em saúde. Este estudo analisa como as práticas corporais e atividades físicas da população negra do município do Rio de Janeiro são impactadas por barreiras raciais que limitam o acesso, a adesão e a permanência em espaços de cuidado e promoção da saúde.
Objetivos
Investigar a relação entre racismo, condições socioeconômicas e o acesso às práticas corporais e atividades físicas da população negra do município do Rio de Janeiro.
Metodologia
Estudo quantitativo, transversal, realizado com 1.159 participantes autodeclarados pretos, pardos e brancos residentes no município do Rio de Janeiro. A coleta ocorreu via questionário online e presencial, utilizando amostragem por conveniência. As variáveis socioeconômicas foram: sexo, faixa etária, escolaridade, renda per capita, carga horária semanal de trabalho, número de moradores no domicílio, ser ou não chefe de família e quantidade de doenças crônicas. A análise descritiva foi associada ao teste de qui-quadrado (p<0,05) para avaliar possíveis associações entre cor da pele e os determinantes sociais, econômicos e de saúde relacionados às práticas corporais.
Resultados
Houve desigualdades estatisticamente significativas na faixa etária, escolaridade, renda, posição de chefe de família e número de doenças crônicas. Pessoas pretas e pardas apresentaram maior proporção em baixa escolaridade (≤8 anos) e menor renda. No estrato de renda ≥10 salários-mínimos, 73% eram brancos, contra 5,41% de pretos e 21,6% de pardos. Pretos e pardos também concentraram mais chefias de família e maior prevalência de uma ou duas doenças crônicas, refletindo condições socioeconômicas e de saúde mais precárias. Sexo, carga horária, moradores no domicílio e situação conjugal não apresentaram associação significativa com a cor da pele.
Conclusões/Considerações
O estudo evidencia que o racismo estrutura desigualdades que impactam negativamente a saúde e o acesso às práticas corporais da população negra. A intersecção entre raça, classe e território reforça barreiras no cuidado, no lazer e na promoção da saúde, demandando ações intersetoriais e políticas públicas antirracistas para enfrentamento das iniquidades.
EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA AFROCENTRADA NO CAMPO DA FORMAÇÃO EM SAÚDE NO SUS
Pôster Eletrônico
1 UFPE
Apresentação/Introdução
A educação permanente em saúde da população negra pode ser compreendida como campo teórico importante no Sistema Único de Saúde (SUS). O tema é complexo e singular, e carece de produção cientifica que apresente alternativas teóricas ancoradas em pensamentos dos povos africanos, e segue inquietando docentes, pesquisadores, trabalhadores da saúde e movimentos sociais antirracistas.
Objetivos
O objetivo central desse estudo foi compreender como os participantes da pesquisa, caracterizavam a educação permanente em saúde da população negra e centralizam os saberes africanos a partir da Teoria da Afrocentricidade (Asante, 2009).
Metodologia
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que utilizou entrevista semiestruturada para coletar de dados. Como instrumento de análise dos dados aplicou-se o software livre iramutec (Nascimento & Menandro, 2006), instrumento estruturante desse estudo. Analisou-se que a Teoria da Afrocentricidade dá um caráter enegrecido aos processos de educação permanente em saúde da população negra, e que os sujeitos da pesquisa em sua maioria, não centralizam os saberes da população negra na Educação Permanente em Saúde.
Resultados
Como resultado, observou-se que as visões dos sujeitos da pesquisa variam, mas existem pontos em comum, entre esses, os vazios e as demandas para a realização de ações educativas que diminuam as carências educativas sobre saúde da população negra. Precisa-se incorporar visões afrocentradas nos processos educativos sobre temas que digam respeito à saúde da população negra.
Conclusões/Considerações
E conclui-se que outras pesquisas necessitam ser feitas para chegar-se a uma maior equidade no atendimento a essa população alijada por séculos de seus direitos fundamentais. E produziu-se a consciência de que essa pesquisa contribuiu substancialmente para essa área.
HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES AUTOREFERIDA EM QUILOMBOLAS DO PARÁ: CONDIÇÕES DE SAÚDE E FATORES ASSOCIADOS NAS COMUNIDADES DE ÁFRICA E LARANJITUBA, MOJÚ, AMAZÔNIA.
Pôster Eletrônico
1 FACULDADE SÃO LEOPOLDO MANDIC
2 FACULDDE DE ODONTLOGIA GAMALIEL
Apresentação/Introdução
A saúde da população quilombola insere-se na agenda da Saúde Coletiva como questão de justiça social e equidade. Marcadas por vulnerabilidades históricas, essas comunidades enfrentam desafios ao acesso a APS e exposição a doenças crônicas. Este estudo avalia a relação entre hipertensão, diabetes autoreferida e seus determinantes sociais em duas comunidades quilombolas do Pará.
Objetivos
Analisar a prevalência de hipertensão arterial e diabetes autorreferidas em adultos quilombolas, identificando fatores associados e contribuindo para o fortalecimento da APS e formulação de políticas públicas equitativas e culturais.
Metodologia
Estudo epidemiológico, observacional, transversal, de base populacional, realizado entre fevereiro e maio de 2024 nas comunidades quilombolas de África e Laranjituba, no Pará, com 263 adultos. Coletaram-se dados por meio de questionários estruturados com variáveis socioeconômicas, comportamentais e clínicas, além de aferição de pressão arterial, glicemia capilar e medidas antropométricas(IMC e circunferência abdominal). A análise estatística foi descritiva e inferencial com qui-quadrado e regressão linear. A abordagem teórica baseou-se na Saúde Coletiva, considerando os determinantes sociais, racismo institucional e as iniquidades em saúde que atingem a população negra rural e tradicional.
Resultados
A prevalência de hipertensão foi de 29,28% e a de diabetes, 9,51%. Foram observadas associações significativas com sedentarismo, obesidade, uso de medicamentos e consumo excessivo de sal e açúcar. O IMC e a circunferência abdominal elevada estiveram presentes em mais da metade da amostra. A maioria vive com até 1,5 salários-mínimos, com alta dependência do SUS e programas de transferência de renda. A taxa de desemprego atingiu mais de 65%. Os dados revelam um cenário de risco elevado e um perfil epidemiológico que reforça a vulnerabilidade sanitária das comunidades quilombolas, muitas vezes invisibilizadas pelas políticas públicas intersetoriais.
Conclusões/Considerações
As condições de vida das comunidades quilombolas favorecem o desenvolvimento de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, agravadas pelo racismo institucional e desigualdades sociais. É urgente efetivar políticas como a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra e fortalecer a APS em territórios quilombolas. Estratégias intersetoriais e culturalmente adequadas são essenciais para garantir o direito à saúde e a justiça social.
NEGRITUDE, SAÚDE COLETVA E EQUIDADE: UM ESTUDO DE CASO SOBRE RACISMO AMBIENTAL EM SOBRAL/CE
Pôster Eletrônico
1 UVA/UFRN
2 RENASF/UVA
3 UVA/Universidade de Kolm
4 UVA/CREDE 5
5 UVA/Universidade de Aveiro
Apresentação/Introdução
Esta comunicação aborda sobre a saúde da população negra, com ênfase na equidade, dignidade e potencialidade. Esse contingente populacional habita nas sendas abissais do racismo. O fenômeno do racismo institucional acarreta danos e vulnerabilidades, que maculam o princípio da dignidade humana. Trata de um Estudo de caso dos impactos do Racismo Ambiental na Saúde de pessoas negras, em Sobral/CE
Objetivos
Compreender se o racismo ambiental provoca tensões e demandas de saúde coletiva, dentro do contexto do Bairro Alto da Expectativa. Analisar as políticas públicas de Saúde de atendimento à população negra de Sobral a partir das interseccionalidades
Metodologia
Nesta pesquisa foram utilizados recursos metodológicos de pesquisas qualitativas. Buscando aproximar-se do objeto da pesquisa através de uma abordagem de natureza teórica e de um Estudo de Caso, juntamente da pesquisa documental e bibliográfica. Neste sentido, a pesquisa qualitativa auxiliará na compreensão dos objetivos proposto no processo investigativo. Foi no campo de pesquisa, no Bairro Alto da Expectativa, que ocorreu o contato direto entre pesquisadora e os sujeitos sociais. No Estudo de Caso, os vínculos se estabelecem entre o universo da pesquisadora e as singularidades históricas e culturais dos envolvidos com suas subjetividades.
Resultados
A relação existente entre saúde, meio ambiente e políticas públicas no Brasil, está presente há muitas década. E foi consolidada, com a Constituição de 1988, a partir de demandas acionadas pelos dos movimentos sociais e outros sujeitos políticos. No Brasil, o Racismo é um fenômeno que está fundamentado na política, moral, étnica, econômica e principalmente na perda de dignidade, no processo de abandono, exclusão e extermínio de grande parte da população. Nessas circunstâncias, sobre a mira das interseções entre o recorte étnico e as políticas de saúde coletiva que buscamos compreender o acesso aos direitos
Conclusões/Considerações
De acordo com a pesquisa, foi registrado que o acesso aos cuidados de saúde, para pessoas negras são realizados com muitos obstáculos e muitas deficiências. Esse fenômeno frequentemente se agrava quando se trata dos territórios descartáveis e pauperizados
A MULHER NEGRA QUILOMBOLA E A INTERFACE CUIDADO-RACISMO: DESAFIOS FRENTE ÀS POLÍTICAS DE SAÚDE VOLTADAS PARA A POPULAÇÃO NEGRA NO BRASIL
Pôster Eletrônico
1 USP
Apresentação/Introdução
No contexto dos atuais debates em torno dos efeitos do colonialismo sobre a determinação social da saúde e dos desafios para a permeabilidade da interface cuidado-racismo nas políticas de saúde voltadas para a população negra no Brasil, este estudo busca refletir sobre o impacto dos marcadores de raça, gênero e território na produção e na prática do cuidado em saúde da mulher negra quilombola.
Objetivos
Analisar, à luz de teorias contracoloniais, como o sexismo, o racismo e o colonialismo têm sido considerados nas políticas de saúde voltadas para a mulher negra e quilombola no Brasil.
Metodologia
A partir de uma análise crítica das políticas de saúde voltadas para a população negra e quilombola, buscar-se-á discutir como os marcadores de raça, gênero e território têm sido incorporados e utilizados na produção de práticas de cuidado em saúde direcionadas para mulheres negras quilombolas. Considerando o referencial teórico contracolonial e o uso da interseccionalidade enquanto categoria analítica, analisa-se como o sexismo, o racismo e o colonialismo são entendidos e considerados na produção nacional do conhecimento científico e nas políticas públicas voltadas para esta população, com vista a refletir sobre a atuação institucional destes marcadores na produção do cuidado em saúde.
Resultados
A saúde da mulher negra quilombola é fortemente influenciada por determinantes territoriais, raciais e de gênero, que se cruzam e intensificam a exclusão a partir do racismo estrutural e institucional. A ausência de políticas públicas específicas e a invisibilidade dada pelos serviços de saúde às demandas etnico-raciais, são achados que anunciam ser o corpo racializado, feminino e geograficamente localizado um lugar atravessado pela lógica da governamentalidade racista e biomédica. A mulher negra quilombola tanto deixa de receber cuidado em saúde, quanto adoece, por ser alvo da persistência destes dispositivos coloniais de controle e poder sobre corporeidades negras.
Conclusões/Considerações
Diante da combinação dos resultados apresentados pela literatura e dos desafios frente às políticas de saúde voltadas para a população negra no Brasil, temos que a interseccionalidade é uma categoria analítica essencial para compreender a complexidade com que marcadores de raça, gênero, território e outros, conformam corporeidades vivenciadas por cruzos da diferença, anunciando necessidades específicas de cuidado em saúde.
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SAUDÁVEL E SUSTENTÁVEL. ESTUDO DE CASO DO QUILOMBO MESQUITA
Pôster Eletrônico
1 Fiocruz Brasília
Apresentação/Introdução
O relato de pesquisa analisou os impactos do desenvolvimento territorial com base no estudo de caso do território quilombola Mesquita (Cidade Ocidental-GO), inserido na Ride-DF. A urbanização crescente tem ameaçado o modo de vida local e o meio ambiente. O estudo busca identificar os principais desafios à luz da Agenda 2030, visando a permanência e sustentabilidade da comunidade no território.
Objetivos
Apresentar os impactos da urbanização no território do quilombo Mesquita, vinculado à Ride-DF, entre 2018 e 2022, evidenciando os desafios à sua permanência e à preservação de seu modo de vida.
Metodologia
A pesquisa adotou o estudo de caso qualitativo, com base em Minayo(2014), para investigar os impactos da urbanização no quilombo Mesquita (GO) para o período de 2018 a 2022, o quilombo faz parte da Ride-DF. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com moradores e lideranças locais, como critério de inclusão foi adotado o fato de ser morador do quilombo e ter alguma influência ou participação estabelecida na comunidade por amostragem “bola de neve” (Vinuto,2014), totalizando dez participantes. A coleta ocorreu entre fev. e maio 2023. As falas foram sistematizadas com uso do software Iramuteq, conforme Souza et al. (2018), permitindo análise lexical e categorial.
Resultados
A análise revelou que o avanço urbano ameaça diretamente a permanência do quilombo Mesquita, impactando sua identidade, território e cultura. A especulação fundiária, o crescimento de condomínios e a presença de fazendeiros provocam insegurança, fragmentação social e perda de vínculos culturais. A desvalorização das tradições, como a produção do marmelo, e a falta de políticas públicas efetivas fragilizam a sucessão geracional. O território resiste por meio da memória afetiva e da luta comunitária por reconhecimento e permanência.
Conclusões/Considerações
observou-se o declínio do principal bio produto que gera renda para a comunidade, problemas hídricos e sanitários e a progressiva transformação do quilombo de rural para urbano.
O PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE DOENÇA PERIODONTAL EM SAÚDE BUCAL EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS DE ÁFRICA E LARANJITUBA NO MUNICÍPIO DE MOJÚ, PARÁ, AMAZÔNIA.
Pôster Eletrônico
1 FACULDAE DE ODONTOLOGIA GAMALIEL
2 UFPA/UNB
Apresentação/Introdução
As comunidades quilombolas, formadas por descendentes de africanos escravizados, apresentam identidade cultural própria e enfrentam profundas desigualdades sociais. Tais condições influenciam negativamente sua saúde bucal, com altas prevalências de cárie, edentulismo e doença periodontal, o que exige atenção especial do SUS e políticas públicas equitativas.
Objetivos
Conhecer a realidade das comunidades quilombolas em relação aos cuidados com a saúde bucal, com ênfase na prevalência de agravos periodontais, conforme preconizado pela Política Nacional de Saúde Bucal do Ministério da Saúde.
Metodologia
Estudo descritivo e quantitativo, realizado com 80 pacientes das comunidades quilombolas de África e Laranjituba, nos municípios de Abaetetuba e Mojú, Pará. Utilizou-se o Índice Periodontal Comunitário (IPC), avaliando 480 sextantes dentários com base nos critérios da OMS. Os agravos observados foram sangramento gengival, cálculo dental e bolsa periodontal, registrados por sextante. Foram excluídos 85 sextantes, principalmente de pacientes idosos, por ausência de dentes funcionais. Os dados foram analisados em frequências absolutas e relativas, com distribuição dos agravos por sextante e condição periodontal geral da amostra.
Resultados
A maioria dos pacientes (70%) apresentou algum grau de doença periodontal. O sangramento gengival foi mais prevalente nos sextantes 16/17 e 26/27 (35%). O cálculo dental foi predominante nos sextantes 31 (42,5%) e 26/27 (38,75%). A presença de bolsa periodontal foi mais frequente no sextante 26/27 (15%). O sextante 11 apresentou maior proporção de saúde periodontal (57,5%). Foram excluídos 85 sextantes por ausência de dentes funcionais, principalmente em idosos. Apenas 20% da amostra apresentava condição periodontal saudável, e 10% não foram avaliados.
Conclusões/Considerações
Os achados revelam uma elevada prevalência de agravos periodontais nas comunidades quilombolas estudadas, refletindo desigualdades históricas e estruturais no acesso à saúde bucal. Reforça-se a necessidade de fortalecer políticas públicas com base na equidade, respeitando os determinantes sociais da saúde e assegurando o cuidado integral às populações tradicionais.
CONDIÇÕES DE SAÚDE BUCAL E IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS E RURAIS NO BRASIL: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA
Pôster Eletrônico
1 UFG
2 UFSB
Apresentação/Introdução
A saúde bucal exerce forte influência sobre a qualidade de vida e o bem-estar social. Em comunidades tradicionais, como quilombolas e rurais, o acesso precário a cuidados odontológicos agrava condições como cáries e perdas dentárias. Esta revisão integrativa busca contribuir com o debate sobre desigualdades em saúde e seus impactos na vida cotidiana dessas populações.
Objetivos
Identificar, na literatura científica, as condições de saúde bucal e seus impactos na qualidade de vida de comunidades e povos tradicionais quilombolas e rurais no Brasil.
Metodologia
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura cientifica, com análise de estudos qualitativos e quantitativos. A coleta foi realizada em maio de 2024, na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando descritores controlados relacionados à condição de saúde bucal, seu impacto na qualidade de vida e populações tradicionais. Foram incluídos estudos realizados no Brasil, com foco em populações quilombolas, ribeirinhas e comunidades rurais, sem restrição temporal. Excluíram-se estudos duplicados, sem texto completo, e focados apenas na validação de instrumentos.
Resultados
Foram incluídos 24 estudos: 16 sobre quilombolas e 8 sobre populações rurais. As pesquisas, publicadas entre julho/2002 a maio/2024 revelaram prevalência elevada de cárie, doença periodontal, edentulismo, má oclusão e higiene bucal inadequada, autopercepção negativa da saúde bucal e acesso irregular a serviços odontológicos. A condição de saúde bucal e os impactos na qualidade de vida foram mais acentuados entre ribeirinhos e outras comunidades rurais, em comparação com as urbanas. Os achados apontam a associação entre fatores socioeconômicos e condições bucais precárias nos grupos populacionais estudados.
Conclusões/Considerações
As evidências indicam que desigualdades estruturais e barreiras de acesso comprometem a saúde bucal e a qualidade de vida de povos tradicionais no Brasil. Políticas públicas intersetoriais que assegurem o direito à saúde bucal integral e culturalmente sensível são necessárias, incluindo o fortalecimento da atenção básica com estratégias voltadas a populações vulnerabilizadas no meio rural e tradicional.
MEMÓRIAS, TRADIÇÕES E ANCESTRALIDADE NAS PRÁTICAS CURA: ORALIDADE E NARRATIVAS DOS SABERES INTERGERACIONAIS EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS CEARENSES
Pôster Eletrônico
1 UECE
2 URCA
Apresentação/Introdução
As tradições mantidas nas comunidades quilombolas transcendem gerações, mantendo os ancestrais vivos na memória e na oralidade, como forma de resistência e preservação da cultura quilombola. Assim, o saber e fazer, ensinar e aprender, criar e cuidar, proteger e curar, compõem as histórias e saberes intergeracionais sobre as relações com a natureza e os rituais de cura.
Objetivos
Apresentar as memórias, tradições e manifestações culturais expressivas das práticas de cura, por meio da oralidade e narrativas de saberes herdados pelos seus ancestrais em territórios quilombolas cearenses.
Metodologia
Estudo de natureza qualitativa, com enfoque participativo, parte da pesquisa de campo realizada em três comunidades quilombolas localizadas na zona rural de um município do interior cearense. Durante as visitas nas comunidades, associações quilombolas e domicílios, evidenciamos por meio dos diálogos, registros no diário de campo, observação participante e fotografias como recurso de pesquisa social, a aproximação dos vínculos intergeracionais, suas tradições e identidades de resistência, preservando os valores da sua ancestralidade pelos olhares das memórias e da oralidade. Respeitaram-se às exigências da Resolução nº 510/2016, sendo a pesquisa aprovada pelo Parecer n° 6.990.876/2024.
Resultados
Os saberes associados à ancestralidade afro-brasileira demarcam o pertencimento aos territórios quilombolas, fortalecidos pela tradição oral, memórias e identidades coletivas cheias de significados, sabedoria e cuidado. As narrativas demonstram um vasto conhecimento sobre plantas e ervas medicinais, partilhados por raizeiros(as), erveiros(as), benzedeiros(as), ancorados pelos saberes intergeracionais abertos para acolher, cuidar e curar, sempre cautelosos com a toxicidade de algumas plantas medicinais. Nesses espaços de aquilombamento, as conexões com as memórias, pertencimentos e ancestralidades coletivizam afetos no saber-fazer-cuidar de sua própria saúde e da coletividade.
Conclusões/Considerações
As comunidades quilombolas demonstram as memórias coletivas e os simbolismos de suas próprias histórias e das herdadas pelos seus ancestrais. Nas trilhas dessa caminhada, as narrativas reforçam a importância da preservação da ancestralidade, da vivificação das memórias e da semeadura dos saberes intergeracionais para germinar, crescer e frutificar os diálogos sobre sua cultura, identidade e resistência negra. E para isso, é preciso aquilombar-se!
INTERVENÇÕES PSICOSSOCIAIS NA SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO NEGRA BRASILEIRA: RESULTADOS PARCIAIS DE UMA REVISÃO DE ESCOPO
Pôster Eletrônico
1 IPqFMUSP
2 UNIFESP - Baixada Santista
3 FMUSP
4 FEnF-UNICAMP
5 UCB
6 UFAC
7 FFCLRP-USP
8 SMSRJ
9 EERP-USP
Apresentação/Introdução
A população negra brasileira apresenta maior exposição ao sofrimento mental, motivada por desigualdades históricas e racismo estrutural. Intervenções psicossociais culturalmente orientadas podem promover práticas em saúde mental mais equitativas. A escassez de revisões que sistematizem essas experiências motivou a presente revisão de escopo.
Objetivos
Mapear as evidências disponíveis sobre intervenções psicossociais voltadas à saúde mental da população negra brasileira.
Metodologia
Trata-se de uma revisão de escopo conduzida segundo a metodologia JBI e as diretrizes PRISMA-ScR. Foram realizadas buscas em bases nacionais e internacionais (MEDLINE, PsycINFO, Embase, CINAHL, Scopus, BVS), além de literatura cinzenta. A seleção e extração dos dados foi conduzida por três revisores independentes. Foram incluídos estudos empíricos sobre intervenções psicossociais aplicadas à população negra brasileira, nos diversos contextos de cuidado. Estudos focados exclusivamente em intervenções biomédicas ou com imigrantes negros foram excluídos.
Resultados
A construção desta revisão de escopo envolveu pesquisadores negros engajados na produção de conhecimento situado e comprometido com a equidade racial em saúde. O processo de seleção e análise dos estudos foi marcado por intensos debates éticos, metodológicos e políticos sobre os sentidos das intervenções psicossociais voltadas à população negra. A ausência de dados padronizados e o apagamento de marcadores raciais nos estudos geraram indignação. A partilha de vivências acadêmicas e pessoais possibilitou a construção de vínculos afetivos e o amadurecimento coletivo. A revisão, mais do que um exercício técnico, consolidou-se como um dispositivo de cuidado, memória e resistência.
Conclusões/Considerações
A revisão de escopo possibilitou a articulação de pesquisadores negros em torno de práticas científicas antirracistas, fortalecendo vínculos afetivos e o compromisso com a equidade em saúde. O processo evidenciou que a produção de conhecimento pode ser também espaço de cuidado, memória e resistência diante das marcas do racismo na saúde mental da população negra brasileira.
PERFIL NUTRICIONAL E SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR ENTRE USUÁRIOS DA PRIMEIRA COZINHA COMUNITÁRIA QUILOMBOLA DO BRASIL
Pôster Eletrônico
1 UFMA
2 UNICEUMA
Apresentação/Introdução
A insegurança alimentar e nutricional (InSAN) é um problema de saúde pública que afeta, de forma desproporcional, a população quilombola no Brasil. A Cozinha Comunitária Quilombola de Marudá, no Maranhão, configura-se como uma estratégia de enfrentamento à insegurança alimentar e resistência.
Objetivos
Avaliar a prevalência da insegurança alimentar e nutricional e o estado nutricional entre chefes de família usuários da primeira Cozinha Comunitária Quilombola do Brasil, localizada na comunidade de Marudá, no município de Alcântara (MA).
Metodologia
Trata-se de um estudo analítico, transversal, realizado em fevereiro de 2025, com 81 chefes de família cadastrados na Cozinha Comunitária Quilombola de Marudá, em Alcântara (MA). A amostra incluiu jovens e adultos, de ambos os sexos, com idade entre 18 e 59 anos. A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário contendo informações sociodemográficas, avaliação antropométrica e aplicação da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA). Foram aferidos peso, altura, circunferências da cintura e do quadril, além da Razão Cintura-Quadril (RCQ). A análise dos dados foi realizada no Excel®. O estudo seguiu os preceitos éticos, conforme parecer nº 6.793.715 do CEP/UFMA.
Resultados
Foram avaliados 81 chefes de família, dos quais 71,60% eram mulheres, 95,06% possuíam renda inferior a um salário-mínimo e 54,32% apresentavam escolaridade de até nove anos de estudo. Quanto ao estado nutricional, 59,25% estavam com excesso de peso e 44,44% apresentavam circunferência da cintura dentro da normalidade. A análise da RCQ indicou risco cardiovascular elevado em 72,83% dos participantes. Em relação à segurança alimentar, a prevalência de insegurança alimentar grave foi de 58,02%, refletindo um cenário crítico de vulnerabilidade e insegurança alimentar e nutricional.
Conclusões/Considerações
Evidencia-se que a InSAN vivenciada pelos usuários da Cozinha Comunitária é determinada por processos estruturais de racismo, pobreza e deslocamento compulsório. O Equipamento embora constitua uma estratégia para a promoção da segurança alimentar e nutricional, é insuficiente frente à negação de direitos básicos. Reforça-se a urgência de políticas públicas intersetoriais e territorializadas, pautadas na soberania alimentar e na justiça social.
VISIBILIDADES, TERRITÓRIOS E NARRATIVAS DE MULHERES NEGRAS: ESCREVIVÊNCIAS COMO POTÊNCIA NA PRODUÇÃO DE SAÚDE E VIDA
Pôster Eletrônico
1 IFRS
2 Prefeitura Municipal de Alvorada
Apresentação/Introdução
Este estudo integra o projeto de pesquisa Participação social e as iniciativas de produção de saúde e de vida no território e emerge do reconhecimento das escrevivências de mulheres negras como estratégias de resistência. Por meio da Exposição FotoViveres e de um e-book, dá visibilidade a suas narrativas, enfrentando silenciamentos estruturais.
Objetivos
Dar visibilidade de mulheres negras, por meio de produções artísticas, orais e escritas, promovendo o reconhecimento de suas potências e contribuições à saúde coletiva, à cultura e à construção de territórios mais equitativos.
Metodologia
A metodologia baseia-se na escrevivência como perspectiva epistemológica e política (Evaristo, 1995; 2023), articulando cartografia afetiva e pesquisa-intervenção. Utilizou-se fotografia, arte visual e registros orais como formas de produção de conhecimento. As sessões fotográficas foram acompanhadas de diário de campo e caderno de anotações, que compõem o material do e-book. Fragmentos de teses, poesias e livros de autoras negras foram entrelaçados à experiência vivida com as participantes. O processo contou com uma equipe formada por mulheres negras, reconhecendo o protagonismo de seus saberes e práticas.
Resultados
Os primeiros resultados evidenciam que a produção de narrativas visuais e escritas, com base na experiência e na memória, promove pertencimento, autoestima e reconhecimento. As imagens e textos ativam afetos, denunciam silenciamentos e inauguram novas possibilidades de existir no território. A exposição revelou-se um potente dispositivo de diálogo com a comunidade e com a escola, articulando saúde, arte e política. O e-book reúne fragmentos das mulheres envolvidas, compondo um tecido de sentidos compartilhados. Destaca-se o protagonismo das participantes na construção coletiva dos conteúdos, fortalecendo processos de educação permanente e inovação comunicacional no território.
Conclusões/Considerações
O trabalho demonstra que a escrevivência é uma potente estratégia de visibilização, enfrentamento do racismo estrutural e produção de saúde e vida. A atuação coletiva, estética e afetiva contribui para processos de formação crítica e emancipatória. A proposta será expandida por meio de circuito cultural em escolas, fomentando novas narrativas e fortalecendo a cidadania cultural e epistêmica de mulheres negras.
DISPARIDADES RACIAIS NA PERSISTÊNCIA DE SINTOMAS DA COVID-19 EM TRABALHADORAS(ES) DO SUS NO MUNICÍPIO DE SALVADOR, BAHIA
Pôster Eletrônico
1 UFBA
Apresentação/Introdução
Introdução: A COVID-19 evidenciou desigualdades entre trabalhadores da saúde, especialmente os negros, mais expostos a cargas de trabalho intensas, falta de EPIs e condições precárias. Esses trabalhadores enfrentam diferentes formas de adoecimento por COVID-19, refletindo desigualdades estruturais e raciais no SUS.
Objetivos
Objetivo: Analisar a incidência da COVID-19 e persistência de sintomas, assim como fatores associados às disparidades raciais entre trabalhadores de saúde da rede municipal de saúde de Salvador, Bahia.
Metodologia
Método: Estudo epidemiológico transversal e exploratório, realizado com 691 trabalhadores de saúde do Sistema Único de Saúde de Salvador, que analisou a persistência dos sintomas após a COVID-19 e os fatores associados às disparidades raciais segundo características sociodemográficas. Foram respeitados todos os aspectos éticos, com aprovação do estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa.
Resultados
Resultados: Dos 691 trabalhadores de saúde incluídos na amostra do estudo, a maioria era trabalhadores negros (86,5%), mulheres (75,3%), com idade 41-59 anos (58,6%). A maioria foi diagnosticada pelo método RT-PCR ou testagem rápida para antígeno (60,6%). Os sintomas pós-COVID mais prevalentes em negros em relação a não negros foram: nevoeiro cerebral (23,9% vs 15%), fadiga (16% vs 13%), ansiedade (15,4% vs 14%), insônia (12,2% vs 3,2%), dor de cabeça (11,2% vs 2,1%), palpitação (8,4% vs 0%), entre outros. A Depressão foi maior em não negros (7,5% vs 4,2%).
Conclusões/Considerações
Conclusão: A crise da COVID-19 revelou um agravamento das desigualdades, com vulnerabilidades que impedem indivíduos socialmente vulneráveis de acessarem recursos necessários para a prevenção e promoção da saúde. Para enfrentar tais impactos, é preciso confrontar essas desigualdades com políticas públicas que promovam a equidade racial, melhorem as condições de trabalho e garantam o acesso igualitário a cuidados de saúde de qualidade e testagem.
RACISMO AMBIENTAL E A LUTA POR SANEAMENTO NO RIO MARANGUAPINHO, FORTALEZA-CE
Pôster Eletrônico
1 PPGSP/UFC
Apresentação/Introdução
O Rio Maranguapinho é um caso emblemático de degradação ambiental que afeta
uma população majoritariamente negra (pretos e pardos). A inércia do poder público em
promover saneamento básico na região se alicerça em uma prática de racismo ambiental,
inserindo-se no debate global sobre os direitos da natureza e a necessidade de protegê-la de
forma independente aos interesses socioeconômicos.
Objetivos
Relatar, a partir da vivência de moradores, a prática de racismo ambiental na bacia do
Rio Maranguapinho, evidenciada pela ausência e/ou precariedade de políticas públicas de
saneamento básico em bairros periféricos de Fortaleza-CE.
Metodologia
Trata-se de um estudo de caso descritivo, com dados coletados em 2023.
Utilizou-se análise documental, registros de campo, entrevistas individuais e grupo focal com
roteiros semiestruturados. A pesquisa envolveu 19 interlocutores, vinculados a uma Unidade
Básica de Saúde no bairro Granja Lisboa (Fortaleza/CE), parte da região do Grande Bom Jardim
(GBJ), um território com alta concentração de população negra autodeclarada.
Resultados
Resultados: O bairro Granja Lisboa, com a maior proporção de moradores negros de Fortaleza,
cresceu às margens do Rio Maranguapinho. Um morador há 28 anos relata o descaso: falta de
saneamento e limpeza precária de canais, gerando doenças. Embora o Projeto Rio
Maranguapinho, gerenciado pelo governo estadual, tenha promovido melhorias como novas
moradias e ampliação do esgotamento, a poluição hídrica persiste, evidenciando falhas na rede
de tratamento. Essa limitação para universalizar o saneamento reflete a morosidade do poder
público, num processo de periferização mediado pelo racismo ambiental.
Conclusões/Considerações
Conclusões: A segregação residencial racial é causa direta de disparidades na saúde. É urgente
avançar na justiça socioambiental com políticas públicas antirracistas de urbanização, garantindo
saneamento básico e qualidade de vida nas periferias. A proteção jurídica da natureza,
conferindo-lhe direitos, emerge como uma ferramenta essencial para uma sociedade mais justa e
equitativa.
EXPECTATIVA DE VIDA AO NASCER DE MULHERES NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (2019-2020): RAÇA, GÊNERO E IMPACTO DA COVID-19
Pôster Eletrônico
1 ENSP/Fiocruz
Apresentação/Introdução
As interpretações sobre esperança de vida geralmente não consideram o racismo e suas interseccionalidades como chaves analíticas dos processos de saúde e doença, adotando perspectivas universalizantes que assumem mulheres e homens brancos como padrão. A maioria dos estudos indica que as mulheres vivem mais que os homens, mas afinal, a que mulher se espera viver mais?
Objetivos
O estudo teve como objetivo estimar a expectativa de vida ao nascer das mulheres na cidade do Rio de Janeiro em 2019 e 2020, considerando diferenças por raça/cor e gênero, bem como avaliar o impacto da COVID-19 na variação dessa expectativa.
Metodologia
Trata-se de um estudo ecológico descritivo que utilizou dados secundários de acesso livre, do município do Rio de Janeiro no período de 2019 a 2021, correspondente ao período pré-pandêmico e da pandemia de Covid-19, respectivamente. Os dados da população estratificada por raça/cor em 2019 e 2020, foram estimados a partir do modelo geométrico RIPSA, para os menores de um ano, utilizamos os dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos. Foi estimada a esperança de vida ao nascer para os anos de 2019 e 2020, através de tábuas de vida construídas com dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade, desagregadas pelos marcadores sociais da diferença de raça, gênero e idade.
Resultados
A expectativa de vida estimada para as mulheres, considerando os marcadores de raça e idade, revela disparidades dentro do grupo. Nascer do sexo feminino e preta (76,2 anos) reduz em 8 anos a expectativa de vida em relação às mulheres brancas (84,2 anos). Essa disparidade, já observada em 2019, foi acentuada durante a pandemia, com uma redução de 4,5 anos na expectativa de vida ao nascer comparada às mulheres brancas. Além disso, em 2020, as mulheres pretas tiveram expectativa de vida ao nascer menor do que a dos homens brancos, com uma diferença de 0,2 anos.
Conclusões/Considerações
O estudo refuta a premissa de que a expectativa de vida das mulheres é sempre maior que a dos homens. Essa premissa, baseada em análises generalizantes e reducionistas, invisibiliza e apaga a dimensão racial. Ao incluir raça/cor nas análises, verificamos que as mulheres que vivem mais não são as negras; a expectativa de vida ao nascer para elas é menor que das mulheres e dos homens brancos.
CHAVE DE BUSCA CONCEITUAL SOBRE A SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA PARA PESQUISA NOS PLANOS DE GESTÃO DO DIGISUS
Pôster Eletrônico
1 FO-UFRJ - ENSP/FioCruz
2 ENSP/FioCruz
3 FO-UFRJ/ ENSP/FIOCRUZ
Apresentação/Introdução
A população negra, maioria no Brasil (56,1%), enfrenta graves iniquidades em saúde, refletidas em indicadores de vida, doença e mortalidade (Werneck, 2016; Batista et al., 2022). A PNSIPN (2009) busca mitigar essas iniquidades, promovendo a SPN de forma integral. Neste sentido, os Planos de Gestão do DigiSUS são ferramentas cruciais para monitorar e avaliar ações voltadas à saúde dessa população.
Objetivos
Objetivo é descrever o processo metodológico da criação de uma chave conceitual com descritores sobre a Saúde da População Negra para a mineração de dados e ações nos Planos de Gestão do DigiSUS voltados para a SPN.
Metodologia
A construção da chave de busca conceitual com foco SPN seguiu as seguinte etapas: 1) treinamento teórico/prático das três pesquisadoras; 2) elaboração da questão norteadora PICo População (Negra), Intervenção/Interesse (condições de saúde, programas e ações) e Contexto (Planos de Gestão); 3) definição/seleção dos descritores MeSH/Decs, com complemento de termos sobre a PNSIPN (artigos, glossário do MS, Painel SAGE, boletins epidemiológicos SPN (2023) e chave de busca da revisão de escopo do Observatório de SPN); 4) Indexação dos termos (hierarquia, conceito,ano, ID e MeSH/DeCS); 5) combinação com operadores booleanos (AND, OR, NOT); e 6) verificação de sensibilidade PubMed/Google Scholar.
Resultados
Os 10 primeiros artigos de cada base foram analisados sem restrições de ano, idioma ou data, garantindo a avaliação da sensibilidade dos termos. Selecionaram-se 39 termos categorizados em cinco constructos: Grupos e Populações, Fatores e Políticas Raciais, Acessibilidade e Iniquidades em Saúde, Serviços e Promoção de Saúde, e Participação Social e Educação. A questão norteadora, baseada na estratégia PICo, guiou a escolha dos descritores MeSH, complementados por termos da PNSIPN. A indexação refinou a estrutura semântica e hierárquica. Operadores booleanos foram aplicados, assegurando alta sensibilidade, validada em buscas exploratórias no PubMed e Google Scholar.
Conclusões/Considerações
A chave de busca final qualifica a mineração de dados nos Planos de Gestão do DigiSUS, permitindo análises da SPN e o monitoramento da PNSIPN. Representa um avanço metodológico essencial para sistematizar a busca e avaliar ações no SUS. Dada a sub-representação populacional e indicadores críticos, instrumentos robustos são urgentes. Sua aplicação viabiliza políticas equitativas e eficazes, garantindo reprodutibilidade na análise de dados.
EXPOSIÇÃO CRÔNICA À DISCRIMINAÇÃO PERCEBIDA E TRANSTORNOS MENTAIS COMUNS (TMC) EM MULHERES NEGRAS DA COORTE ELSA-BRASIL
Pôster Eletrônico
1 ISC/UFBA
2 Universidade do Porto, Portugal.
3 Instituto Gonçalo Moniz - FIOCRUZ-BA
4 CIDACS/Fiocruz/Bahia
5 IOC-Fiocruz-RJ
6 UFMG
Apresentação/Introdução
A literatura científica tem acumulado evidências sobre a relação entre percepção de discriminação e problemas de saúde mental, como os transtornos mentais comuns (TMC). Apesar das evidências, poucos estudos utilizam metodologias adequadas para investigar os efeitos da cronicidade da exposição a discriminação percebida na saúde mental de mulheres negras no Brasil e no mundo.
Objetivos
Esse estudo tem como objetivo investigar a associação entre a exposição crônica a discriminação percebida e a prevalência de Transtornos Mentais Comuns (TMC) em mulheres negras participantes da coorte Elsa-Brasil.
Metodologia
Trata-se de um estudo transversal, que utilizou os dados da Onda 3 do ELSA-Brasil. Foram incluídas mulheres pretas e pardas (n=2.891) com objetivo destacar o efeito da discriminação percebida, evitando vieses de comparação com grupos que não a vivenciam ou a experienciam de forma distinta. A exposição foi medida pela Everyday Discrimination Scale (EDS utilizando uma categorização baseada em cronicidade que reflete a intensidade e a recorrência das experiências da discriminação percebida. Os TMC foram mensurados pelo instrumento Clinical Interview Schedule-Revised (CIS-R).Utilizou-se regressão logística para estimar Odds Ratios (OR) e IC 95%. As análises foram realizadas no Stata 14.
Resultados
Os resultados deste estudo evidenciaram a associação entre discriminação percebida e saúde mental entre mulheres negras. Após o ajuste por idade, escolaridade, renda familiar per capita e cuidado de outras pessoas, observou-se um aumento nas chances de TMC conforme aumentavam os níveis de discriminação percebida, com Odds Ratios de 1,71 para discriminação baixa, 2,78 para moderada e 5,21 para alta. Além disso, a análise estratificada por união conjugal evidenciou que a associação entre discriminação percebida e TMC foi mais intensa entre mulheres sem companheiro(a), com valores de OR variando de 2,6 para discriminação baixa a 7,2 para discriminação alta.
Conclusões/Considerações
A experiência de discriminação percebida está associada a maiores chances de TMC entre mulheres negras, refletindo os efeitos do racismo estrutural. Esse processo histórico tem produzido um acúmulo de experiências negativas que contribuem para o adoecimento crônico dessas mulheres. Evidenciar a discriminação e o racismo como fenômenos contínuos é essencial para orientar políticas públicas que atuem de forma estrutural em relação ao problema
TUBERCULOSE NA POPULAÇÃO NEGRA NO ESTADO DE MATO GROSSO: ANÁLISE DOS CASOS E DA DESCONTINUIDADE DO TRATAMENTO
Pôster Eletrônico
1 UFR
Apresentação/Introdução
A tuberculose representa um grave problema de saúde pública no Brasil, afetando desproporcionalmente a população preta e parda. Esta desigualdade também interfere no sucesso do tratamento farmacológico. É necessário analisar o perfil e os fatores associados aos desfechos da tuberculose nesta população, para que haja proposições de políticas que busquem a equidade e controle da doença.
Objetivos
Analisar os casos de tuberculose e de descontinuidade do tratamento na população negra residente no estado de Mato Grosso, nos anos de 2007 a 2022.
Metodologia
Trata-se de um estudo analítico, retrospectivo dos casos de tuberculose notificados no estado de Mato Grosso durante o período 2007 a 2022. Foram incluídos todos os casos novos notificados no período em estudo. Os dados foram coletados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, disponível no DATASUS. Foi considerada a raça/etnia conforme registrado no banco de coleta de dados. Foi realizada a estatística descritiva e regressão múltipla para determinar a associação entre a descontinuidade do tratamento com raça/etnia. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Rondonópolis, com número de parecer 6.679.133.
Resultados
Foram notificados 14.604 casos de tuberculose em população autodeclarada como preta e parda, correspondendo a 76,71% dos casos. Predominaram os homens (70,03%); pardos (80,84%), 20 a 39 anos (13,69%), tuberculose pulmonar (90,36%), com baciloscopia de escarro (52,39%), radiografia de tórax (75,31%) e teste para HIV negativo (56,63%), sem cultura de escarro (87,87%), sem exame histopatológico (88,49%). A frequência de interrupção ao tratamento na população parda foi de 12,62% e na negra foi15,68%. A raça/etnia parda (OR: 1,27; IC95% 1,11-1,45) e preta (OR: 1,56; IC95%1,31-1,85) foram associadas à maior risco de descontinuidade da terapia farmacológica quando comparadas à raça/etnia branca.
Conclusões/Considerações
Os dados evidenciam que a tuberculose no estado de Mato Grosso acomete predominantemente os homes, pardos e adultos. Deve-se ampliar a realização de testes de diagnóstico e de acompanhamento da doença. A raça/etnia preta e parda é um determinante social que impacta na descontinuidade do tratamento da tuberculose. Se faz necessário ações de saúde voltadas para essa população, bem como a promoção da equidade em saúde.
BARREIRAS DE ACESSO À SAÚDE EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO PIAUÍ
Pôster Eletrônico
1 UFPI
2 FIOCRUZ
Apresentação/Introdução
As comunidades quilombolas no Piauí enfrentam barreiras históricas e estruturais para acessar os serviços de saúde, especialmente em razão da distância dos centros urbanos e dos custos elevados de deslocamento. Este estudo analisa essas dificuldades com base em dados de campo coletados em diferentes municípios do estado, evidenciando as desigualdades no acesso à atenção básica e hospitalar.
Objetivos
Analisar as dificuldades de acesso à saúde em comunidades quilombolas do Piauí, considerando a distância até os hospitais de referência e os custos médios de transporte utilizados pelos moradores.
Metodologia
Trata-se de Estudo de abordagem qualitativa e quantitativa realizado em cinco comunidades quilombolas de Queimada Nova, Amarante e Esperantina (PI). A coleta foi feita por meio de entrevistas semiestruturadas com moradores e lideranças, além da medição das distâncias entre residências e hospitais de referência. Estimou-se o custo médio de deslocamento (ida e volta) via carro, moto e transporte público, quando disponível. Além disso, as informações foram organizadas em tabelas comparativas, permitindo a análise do impacto socioeconômico gerado nessa população.
Resultados
A partir da análise, observa-se que as comunidades enfrentam altos custos de deslocamento para acesso à saúde. Em Caldeirão, o custo médio é de R$ 80 (carro) e R$ 31 (moto); em Curralinhos, R$ 30 e R$ 13,19; em Tapuio, R$ 17,50 e R$ 21,12; em Sumidouro, R$ 12,20 e R$ 19; e em Pitombeira, R$ 32,25 e R$ 16,48. Além disso, mais de 70% da população de Sumidouro, Tapuio e Pitombeira não possui renda fixa, assim como 50% em Caldeirão e 63,64% em Curralinhos. Ademais, a distância média até o hospital é de 35 km (Caldeirão), 10 km (Curralinhos), 15 km (Tapuio), 10 km (Sumidouro) e 25 km (Pitombeira). Por fim, estradas precárias e transporte escasso agravam o acesso à saúde.
Conclusões/Considerações
Os dados mostram que distância, custos de deslocamento e estradas precárias são barreiras reais ao acesso à saúde nas comunidades quilombolas do Piauí. Assim, é urgente a criação de políticas públicas que garantam transporte acessível, melhorias na infraestrutura e fortalecimento da atenção básica, promovendo equidade e ampliando o cuidado em saúde a essas populações historicamente vulnerabilizadas.
DESENVOLVIMENTO DE GUIA EDUCATIVO PARA PREVENÇÃO DO RACISMO ESTRUTURAL NO ACESSO À SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 UFRN
2 FACENE
3 IFPB
4 UFPB
Apresentação/Introdução
A saúde da população negra é uma questão que ainda requer mais atenção e mudanças, especialmente na formação e educação de profissionais de saúde sobre essa temática. Isso ressalta a importância da geração de conhecimento nesse campo, como, por exemplo, a criação de materiais educativos direcionados aos profissionais de saúde sobre a população negra, com o objetivo de capacitá-los adequadamente.
Objetivos
Desenvolver um guia educativo voltado aos profissionais de saúde para prevenção do racismo estrutural no acesso à saúde.
Metodologia
Estudo metodológico, descritivo, com abordagem qualitativa para desenvolvimento de um guia educativo, realizado entre os meses de julho a outubro do ano de 2024. Os participantes do estudo foram profissionais de saúde autodeclarados negros. O guia educativo foi construído em três etapas: revisão bibliográfica, grupo focal e elaboração do layout. A coleta de dado consistiu na técnica de grupo focal visando a construção do guia através da análise de conteúdo de Bardin em conjunto com uma revisão integrativa para ideação do conteúdo e layout do material.
Resultados
Os profissionais de saúde reconheceram a importância de um guia educativo de caráter inovador para contribuir na assistência da população negra voltado para prevenção do racismo. Através da análise do grupo focal surgiram os seguintes eixos temáticas que foram utilizados no desenvolvimento do guia: conceito de saúde; racismo; doenças mais comuns na população negra; determinantes sociais; dimensão histórica; política da população negra e dentre outras temáticas.
Conclusões/Considerações
O guia educativo desenvolvido poderá minimizar as iniquidades em saúde e combater o racismo estrutural quando for possível sua utilização dentro dos serviços de saúde.
DESAFIOS NO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA COMUNIDADE LAGOAS EM SÃO RAIMUNDO NONATO (PI)
Pôster Eletrônico
1 UFPI
2 FIOCRUZ
Apresentação/Introdução
Comunidades quilombolas no Piauí vivenciam barreiras históricas e estruturais no acesso à saúde, intensificadas pela distância dos centros urbanos e pelos altos custos de deslocamento. Este estudo analisa essas limitações com base em dados de campo obtidos na comunidade Lagoas, evidenciando desigualdades persistentes no acesso tanto à atenção básica quanto aos serviços hospitalares.
Objetivos
Mapear os principais obstáculos enfrentados pelas comunidades que integram o Quilombo Lagoas no deslocamento até os serviços públicos de saúde, considerando fatores como distância média , condições das vias, acesso a transporte e custos envolvidos.
Metodologia
Trata-se de estudo com abordagem quantitativa, realizado no território quilombola Lagoas (PI), considerado terceiro maior quilombo do país. Apesar de contar com 119 comunidades, foram analisadas oito, entre elas, Lagoas, Umburana, Boa Vista, Fazenda do Meio, Angical, Boi Morto, Lagoa do Moisés e Boa Vista dos Bráz. A coleta incluiu observações e entrevistas com moradores e lideranças, por meio da aplicação de questionários semi estruturados. Dessa forma, estimou-se o custo médio de deslocamento via carro, moto e transporte público, quando disponível. As informações foram organizadas para análise do impacto desses entraves na vida da população.
Resultados
As comunidades apresentam distâncias variáveis até a sede de São Raimundo Nonato, com média de 17 km. Os custos de transporte são altos: R$ 44,00 por carro e R$ 18,06 por moto, o que compromete o acesso frequente aos serviços de saúde. A ausência de transporte público regular e a má constituição das estradas aumentam as dificuldades.Dessa forma, apesar da relativa proximidade, as condições logísticas tornam o acesso desigual e oneroso, tendo em vista que aproximadamente 70 % da população não possui renda fixa, prejudicando, assim, o cuidado contínuo das famílias quilombolas.
Conclusões/Considerações
Apesar da distância média até a sede municipal, o acesso à saúde nas comunidades quilombolas de São Raimundo Nonato é dificultado pelos altos custos de transporte e pelas condições precárias das estradas. Essas dificuldades reforçam a necessidade urgente de políticas públicas que assegurem transporte acessível, melhorias na infraestrutura viária e o fortalecimento da atenção básica nessas comunidades.
PRÁTICAS DE AUTOCUIDADO EM MULHERES NEGRAS PÓS-MENOPAUSADAS COM DOENÇAS CRÔNICAS NO ESTADO DA BAHIA: DADOS PRELIMINARES DE UM ESTUDO OBSERVACIONAL TRANSVERSAL
Pôster Eletrônico
1 UFBA
Apresentação/Introdução
Mulheres negras pós-menopausadas vivenciam desafios marcados por desigualdades sociais e racismo estrutural, agravados pelo enfrentamento de condições de saúde comumente associadas à doenças crônicas. Suas práticas de autocuidado atravessadas pela ancestralidade e pelos saberes comunitários, revelam caminhos potentes para um cuidado mais justo e culturalmente sensível.
Objetivos
Compreender as práticas de autocuidado e o gerenciamento de sintomas em mulheres negras pós-menopausadas com doenças crônicas residentes no estado da Bahia e analisar os impactos gerados por fatores socioculturais, econômicos e de acesso à saúde.
Metodologia
Trata-se de um estudo observacional transversal, com abordagem quantitativa, integrado ao projeto de pesquisa "Mapeamento das condições de saúde da população negra residente no Estado da Bahia", (CAAE: 47433421.5.0000.5662). A amostragem é composta até o momento por 110 mulheres negras, com até 60 anos, pós-menopausadas e com diagnóstico de ao menos uma doença crônica não-transmissível. Os dados foram coletados via questionário online estruturado, divulgado em redes sociais e grupos comunitários. As variáveis abordaram aspectos sociodemográficos, clínicos, culturais e de qualidade de vida (SF-36). Os dados preliminares foram analisados de forma descritiva e seguem em expansão.
Resultados
A hipertensão arterial sistêmica (62,6%), osteoartrite (35,5%) e diabetes mellitus (26,2%) foram mais prevalentes. Quanto ao autocuidado, 67,3% das mulheres pós-menopausadas seguem orientações médicas, porém 36,4% nunca realizaram práticas voltadas à saúde mental. O sedentarismo foi reportado por 38,3% das mulheres. Dificuldades econômicas (48,6%) e falta de acesso a recursos (73,3%) são barreiras relevantes do autocuidado. A falta representação racial entre profissionais impactou negativamente a experiência de cuidado para 49,5% das mulheres. Uma percepção negativa dos serviços públicos de saúde e o baixo conhecimento sobre políticas específicas também foram evidenciados.
Conclusões/Considerações
Os achados preliminares revelam que o autocuidado em mulheres negras pós-menopausadas está profundamente atravessado por fatores estruturais e simbólicos. A ancestralidade e os saberes comunitários emergem como potências, mas são negligenciados pelos serviços de saúde. O estudo reforça a urgência de políticas e práticas de saúde afrocentradas e interseccionais, voltadas à promoção da equidade no cuidado à saúde da mulher negra.
SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE: INFLEXÕES A PARTIR DA OBRA DE BELL HOOKS
Pôster Eletrônico
1 Universidade Federal da Bahia/Instituto Multidisciplinar em Saúde
Apresentação/Introdução
A saúde da população negra enfrenta desigualdades, disparidades e discriminação no acesso. O racismo institucional é a principal ferramenta para avaliar e transformar os serviços. Superá-lo exige sensibilização e formação profissional, que, atualmente, negligencia questões sociais e humanas devido à formação biomédica. O desafio é materializar a PNAISPN na Saúde e Educação.
Objetivos
Frente a essas considerações, pretendemos apresentar reflexões teórico-críticas a partir da obra de Bell Hooks, seu diálogo com a obra de Paulo Freire e possibilidades de criação de práticas educativas para a saúde da população negra.
Metodologia
A técnica de análise interpretativa de dados documentais orientou a busca e a organização das informações mais relevantes para este estudo. Essa metodologia é largamente utilizada para estabelecer um ponto de partida para novos estudos, mais aprofundados no campo da saúde.
Resultados
Para Bell Hooks, a educação emancipadora exige a ruptura com práticas tradicionais. É impossível incluir os historicamente excluídos sem transformar as práticas sociais e descolonizar as instituições que perpetuam as desigualdades. A educação, embora possa reforçar modos de pensar e agir, é também um espaço crucial para a transformação. Assim, a obra de Bell Hooks dialoga com Paulo Freire ao apontar para a necessidade de criar condições para o surgimento do sujeito como criador/autor do conhecimento. Para isso é necessário desenvolver ferramentas pedagógicas que valorizem o diálogo, que instigue o sujeito e promova nele o desejo de criar.
Conclusões/Considerações
A pedagogia de Hooks e Freire sustentam uma filosofia pedagógica em torno da noção de liberdade. Tanto Freire como Hooks veem a necessidade de superação do racismo como condição para uma educação capaz de transformar a realidade social, e é neste sentido que as práticas pedagógicas para a formação em saúde devem se direcionar, afastando-se de reproduções estigmatizadoras e que impactam nos indicadores de saúde do povo negro.
CONSUMO E INSEGURANÇA ALIMENTAR ENTRE USUÁRIOS DA PRIMEIRA COZINHA COMUNITÁRIA QUILOMBOLA DO BRASIL
Pôster Eletrônico
1 Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
2 Universidade CEUMA
Apresentação/Introdução
A insegurança alimentar reflete as desigualdades sociais, econômicas e raciais que atravessam a população quilombola. Este estudo analisa o consumo alimentar dos chefes de família usuários da Cozinha Comunitária Quilombola de Marudá, no Maranhão, contextualizando como as violações territoriais impactam os padrões alimentares, a nutrição e a segurança alimentar.
Objetivos
Descrever o consumo alimentar e avaliar a situação de insegurança alimentar entre os chefes de família usuários da primeira Cozinha Comunitária Quilombola do Brasil, localizada no município de Alcântara (MA).
Metodologia
Trata-se de um estudo transversal, analítico, realizado em fevereiro de 2025 com 81 chefes de família, de ambos os sexos, com idades entre 18 e 59 anos, cadastrados na Cozinha Comunitária Quilombola de Marudá, Alcântara-MA. Os dados foram coletados por meio de um questionário estruturado, incluindo recordatório alimentar de 24 horas e aplicação da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA). A análise do consumo alimentar considerou os alimentos consumidos no dia anterior e sua frequência. As análises foram realizadas no software Excel®. O projeto foi aprovado sob o parecer nº 6.793.715 do CEP/UFMA. A análise dos dados foi realizada no Excel®.
Resultados
Foram avaliados 81 chefes de família. O consumo alimentar revelou baixa diversidade e padrão marcado por alimentos básicos e tradicionais, como arroz (96,3%), feijão (93,8%) e café (92,6%). Observou-se consumo elevado de açúcar (74%) e baixa ingestão de frutas (38,3%) e hortaliças (32,1%). Ocorre consumo relevante de alimentos ultraprocessados, como biscoitos doces (42%) e refrigerantes (34,6%). A prevalência de insegurança alimentar grave foi de 58,02%, refletindo a relação direta entre consumo alimentar e as condições de insegurança alimentar impactadas pelo deslocamento compulsório e que dialogam com os desafios estruturais enfrentados pelo território.
Conclusões/Considerações
O consumo alimentar dos usuários reflete um cenário de insegurança alimentar, baixa diversidade alimentar e consumo de processados e ultraprocessados, associados às condições de vulnerabilidade social e territorial. A Cozinha Comunitária representa uma importante estratégia de enfrentamento à fome, mas não supre sozinha as violações de direitos. É necessário fortalecer políticas públicas que assegurem soberania alimentar e justiça social.
“LÁ É LUGAR DE PRETO!” RACISMO ESTRUTURAL E INIQUIDADES NO ACESSO DA POPULAÇÃO QUILOMBOLA AO CUIDADO PSICOSSOCIAL, O CASO DE UBATUBA (SP)
Pôster Eletrônico
1 Instituto de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
Apresentação/Introdução
Este estudo investiga o acesso e a atenção à saúde mental da população quilombola, articulando análise do arcabouço legal, levantamento de prontuários e entrevistas com moradores e profissionais de saúde. Busca compreender as especificidades culturais, as barreiras institucionais e as concepções divergentes que influenciam o cuidado psicossocial desses grupos tradicionais.
Objetivos
Investigar o modo de acesso da população quilombola de Ubatuba aos CAPS AD e CAPS I, analisando a atuação e a percepção dos profissionais da rede da atenção básica, para propor melhorias na mobilidade, comunicação e qualidade do cuidado psicossocial
Metodologia
Pesquisa documental sobre políticas de saúde mental e de populações específicas; levantamento de 6501 prontuários dos CAPS Adulto (2013-2023) e de 4107 de Álcool e Drogas de Ubatuba (2020-2023)entrevistas em profundidade com 2 gestores e 5 profissionais das equipes de saúde da família e 1 dos CAPS, além de rodas de conversa com moradores dos quilombos,5 da Fazenda e 4 do Camburi.A análise do corpus foi realizada empregando as abordagens das práticas discursivas e produção de sentidos no cotidiano e da interseccionalidade.O estudo nos possibilitou identificar de que maneira o racismo estrutural e a discriminação racial produzem iniquidades no acesso ao cuidado psicossocial dessa população.
Resultados
A maioria das normas generaliza a atenção à saúde mental, com raras menções a quilombola; apenas um decreto (2023) explicita esse direito. Nos prontuários foram identificados 2 quilombolas no CAPS AD e nenhum no Adulto, indicando sua baixa presença nos serviços. Entre as barreiras de acesso, estão a distância e a precariedade do transporte público entre os quilombos e os CAPS. As diferenças na estrutura comunitária entre quilombos, especialmente de lideranças ativas e organização coletiva, fortalecem o sentimento de pertencimento comunitário.Há concepções divergentes sobre saúde mental entre profissionais e quilombolas, que indicam obstáculos institucionais ao cuidado psicossocial.
Conclusões/Considerações
Apesar de avanços normativos, persiste a invisibilidade das especificidades quilombolas na saúde mental. O baixo registro em prontuários de quilombolas e a compreensão generalista dos profissionais reforçam barreiras estruturais e históricas. É imprescindível fortalecer o território quilombola, valorizar saberes tradicionais e promover ações intersetoriais para garantir acesso equitativo e reduzir desigualdades persistentes.
PERFIL DA MORTALIDADE MATERNA CARIOCA: O RACISMO COMO UM DEFINIDOR DE VIDA OU MORTE
Pôster Eletrônico
1 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
2 Instituto Aggeu Magalhães - Fiocruz Pernambuco
Apresentação/Introdução
A mulher negra é impactada por múltiplos determinantes sociais de saúde que se interseccionam, aumentando a vulnerabilidade social desse grupo. Sendo o município do Rio de Janeiro amplamente desigual, faz-se importante compreender o perfil da mortalidade materna no território, reconhecendo lacunas no cumprimento das diretrizes do SUS e evidenciando os impactos do racismo institucionalizado na rede.
Objetivos
Identificar o perfil da mortalidade materna carioca, a partir da variável raça/cor, dos últimos 6 anos (2018-2024), buscando identificar quais condições tendem a aumentar a vulnerabilidade das mulheres negras no município do Rio de Janeiro.
Metodologia
Estudo de abordagem quantitativa, transversal, observacional, dados coletados do Sistema de Informação de Saúde (TABNET) do município do Rio de Janeiro, na aba SIM e SINASC. Os dados são dos anos de 2018 a 2024, sendo extraídos em tabelas de Excel cujo colunas contém dados da variável raça/cor, que foi cruzada a outras 5 variáveis nas linhas: faixa etária, escolaridade, situação conjugal, território de residência e local do óbito. Foi calculada a Razão de Mortalidade Materna para avaliar o impacto entre negras (pretas e pardas) e não negras em cada uma das 5 demais variáveis. A população indígena não está contemplada nesse estudo.
Resultados
A mortalidade materna no Rio de Janeiro se apresenta na forma de uma mãe solo negra, usuária do SUS, em idade fértil, com baixa escolaridade, moradora da Zona Norte ou Zona Oeste. Identifica-se maior taxa de mortalidade materna em mulheres negras (145/100mil nascidos vivos/ano), com idade entre 20 a 34 anos (87/100mil nascidos vivos/ano), ensino fundamental (87/100mil nascidos vivos/ano), sem cônjuge (102/100mil nascidos vivos/ano), residente da Zona Norte ou Zona Oeste do município (48/100mil nascidos vivos/ano), usuária do sistema público de saúde (SUS) (108/100mil nascidos vivos/ano).
Conclusões/Considerações
Piores desfechos obstétricos em mulheres negras perpassam desde as desigualdades regionais até mesmo as socioafetivas. Mulheres solo apresentaram maiores razões de mortalidade. A zona norte e oeste do Rio afirma seu baixo IDH nos índices de mortalidade materna identificados. A vulnerabilidade aumenta se interseccionamos mais variáveis, fazendo-se urgente a aplicação de políticas públicas locais para reduzir determinantes que atravessam esse grupo.
UMA ANÁLISE FENOMENOLÓGICA-PRAXIOGRÁFICA DAS MÚLTIPLAS VERSÕES DO ADOECIMENTO POR COVID-19 COMPARTILHADAS POR PESSOAS NEGRAS NO YOUTUBE
Pôster Eletrônico
1 UFBA
Apresentação/Introdução
Face à necessidade de reconstrução ética, política e técnica do cuidado em saúde diante de um agravo que tanto marcou a história da Saúde Pública e que “veio pra ficar”, reitera-se a indispensabilidade de sankofiar. Dessa forma, assumimos os vlogs como sendo um meio particular para acessar as experiências de saúde-doença-cuidado de populações vulnerabilizadas.
Objetivos
Identificar e compreender as práticas de cuidado realizadas por vloggers negros, e compartilhadas no YouTube, para que fosse possível lidar com a covid — e os atores (humanos e não-humanos) envolvidos nesse processo.
Metodologia
A coleta dos vídeos foi feita usando o descritor “peguei+covid”, publicados entre janeiro de 2020 e dezembro de 2022, através da plataforma YouTube Data Tools, totalizando 421 vídeos. Cada um dos vídeos foi assistido na íntegra (velocidade 1.5x ou 2x) para heteroidentificação do quesito raça/cor confrome preconizado pelo IBGE. Finalmente, tem-se 101 vídeos analisados com base em abordagem fenomenológica-praxiográfica. Em conformidade com o Conselho Nacional de Saúde, empreendeu-se uma vigilância contínua e permanente para atender aos princípios éticos que se dirigem sobretudo na direção da anonimação e exposição fragmentada dos dados.
Resultados
Fez-se possível identificar um conjunto de elementos heterogêneos que juntos atuaram quatro versões da COVID-19, são elas: a covid roleta-russa evidencia o fracasso institucional em comunicar a crise; a “covid como doença de consciência” sublinha o higienismo que tanto impregna a Saúde Pública nacional e internacionalmente; a covid em-devir demonstra as contradições, as tensões, o caráter interseccional de como diferentes praticalidades foram realizadas no cotidiano; e a covid diagnóstica explicita e reatualiza os desafios da vigilância em saúde, assim como o racismo institucional e a iatrogenia das instituições de saúde.
Conclusões/Considerações
As diferentes versões da covid dizem muito mais do que uma contribuição teórica, uma tensão ontológica que coloca como objeto de disputa os sentidos sobre corpo, saúde e doença. Trata-se de implicações práticas que podem contribuir sobremaneira na clínica, na vigilância e na educomunicação em saúde, tanto no caso das crises sanitárias que virão, quanto para lidar com a(s) covid que ficaram no mundo pós-pandêmico.
A SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA: CAMINHOS DE RESISTENCIA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL
Pôster Eletrônico
1 Universidade de São Paulo
Apresentação/Introdução
A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) foi a primeira política a inserir a equidade racial como temática central, abordando as assimetrias raciais. Reconhece o racismo e o racismo institucional como determinantes no adoecimento da população negra brasileira e estabelece diretrizes para os entes federados, com o objetivo de superar as iniquidades raciais em saúde.
Objetivos
Este resumo se propõe a relatar parte de uma pesquisa sobre a análise da PNSIPN no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS).
Metodologia
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, analítica e exploratória que visa realizar uma investigação da PNSIPN. Este estudo se propõe a analisar esta política em seu momento histórico, político, socioeconômico, suas conquistas, como também os desafios que enfrentou em seu processo de implementação, além de explorar as perspectivas futuras. O método dialético se torna a base para a análise, destacando-se a necessidade de uma abordagem crítica que se adapte às demandas raciais e do setor saúde. Assim como o capitalismo exerce influência estrutural na organização da sociedade, o racismo emerge como um dos elementos estruturantes que moldam o estado e suas tomadas de decisão.
Resultados
Os anos que se seguiram à publicação da PNSIPN foram marcados por retrocessos seletivos, em grande parte provocados pela natureza explicitamente racial da política. Ao longo dos últimos 18 anos, o Brasil atravessou diferentes contextos políticos — incluindo quatro mandatos presidenciais, uma pandemia que resultou em inúmeras mortes entre a população negra e o avanço de discursos reacionários que enfraqueceram a compreensão e o enfrentamento do racismo na sociedade. Até os dias de hoje, a PNSIPN precisa reafirmar a sua relevância, enfrentando um cenário em que a equidade racial no setor saúde oscila entre o reconhecimento institucional e a negação velada ou explícita de sua importância.
Conclusões/Considerações
Apesar de todas as fragilidades, a política avançou com a implementação de comitês estaduais e municipais, que elaboraram ações mais regionalizadas. Novas portarias foram publicadas, como a que tornou obrigatória a marcação do quesito raça/cor nos serviços de saúde. A PNSIPN busca estratégias internas e externas no setor saúde para a afirmação e o fortalecimento da equidade racial no SUS.
MAPEAMENTO SOCIAL DE PRÁTICAS DE CUIDADO ANCESTRAIS DE MATRIZ AFRO BRASILEIRA NO INTERIOR DE PERNAMBUCO
Pôster Eletrônico
1 UFPE
Apresentação/Introdução
Esta pesquisa consiste em um mapeamento social sobre os saberes ancestrais de cura e cuidado de saúde, praticados pelas comunidades de terreiros no interior de Pernambuco. Parte-se do pressuposto de que há um desafio para construção da equidade em saúde, no que diz respeito ao atendimento integral as necessidades de saúde no contexto da diferença e da diversidade cultural.
Objetivos
1) Mapear os saberes ancestrais de cura e cuidado de saúde de matriz afro-brasileira no interior de Pernambuco; 2) Identificar os/as praticantes de saberes ancestrais de cura e cuidado de matriz afro-brasileira.
Metodologia
Trata-se de uma pesquisa de abordagem socioantropológica, na perspectiva teórico-metodológica do mapeamento social, uma ferramenta analítica que consiste na identificação de potencialidades e de vulnerabilidades socioculturais de um dado território, por meio de mapas participativos. O mapeamento foi realizado com as lideranças de matriz afro-brasileira, localizadas no interior de Pernambuco, a partir de entrevistas semiestruturadas nos moldes da técnica da história de vida. As narrativas informadas foram analisadas à luz da análise temática, das quais emergiram categorias analíticas e categorias temáticas, além do mapeamento propriamente dito das práticas ancestrais de cuidado.
Resultados
Os saberes ancestrais de cura e cuidado praticados nas comunidades de terreiros constituem-se numa forma de resistência e constituição da identidade afro-brasileira, representando para os territórios de saúde em que estão localizados uma rede complementar e integrativa de cuidado à saúde. As práticas de cuidado são realizadas não apenas pelos integrantes da comunidade de terreiros, mas também pelos não pertencentes, que encontram na comunidade o acolhimento para as suas necessidades de saúde. No que se refere a relação das comunidades de terreiro e no território de saúde, observou-se um desconhecimento do contexto sociocultural e das políticas de equidade voltados à comunidade.
Conclusões/Considerações
Espera-se com a proposta cooperar com o estabelecimento das novas propostas curriculares na formação dos profissionais de saúde, que prevê a valorização e o respeito as práticas de cuidado ancestrais de saúde das comunidades tradicionais brasileira no SUS. Ademais, as práticas de cuidado comunitário nos terreiros podem ser o fio condutor para a consolidação da equidade e o acolhimento no SUS.
PERFIL SOCIOECONÔMICO E DE ADOECIMENTO POR COVID-19 DE LIDERANÇAS QUILOMBOLAS DA AMAZÔNIA
Pôster Eletrônico
1 Universidade Federal do Rio de Janeiro
2 Universidade de Brasília / Universidade Federal do Pará
Apresentação/Introdução
A pandemia de covid-19 foi uma emergência de saúde pública de importância internacional. No Brasil atingiu drasticamente comunidades quilombolas observando-se invisibilização dos casos, subnotificação e negligência que dificultaram sua mensuração entre o grupo. É necessário considerar que vulnerabilidades históricas em saúde expôs o grupo a condições mais vulneráveis.
Objetivos
Caracterizar o perfil socioeconômico e de adoecimento por Covid-19 de lideranças quilombolas da Amazônia.
Metodologia
Estudo realizado entre setembro de 2022 e fevereiro de 2023, com lideranças quilombolas, maiores de 18 anos, recrutadas pela técnica bola de neve, que vivenciaram o papel de liderança durante a pandemia. Os dados foram captados por instrumento contendo questões sobre o perfil socioeconômico e adoecimento pela SARS-CoV-2, processados no software Microsoft Excel, aplicada estatística descritiva e discutidos com base na literatura científica.
Resultados
Participaram 30 lideranças de 14 municípios do estado do Pará, sendo 16 mulheres e 14 homens, com média de 40,5 anos, prevalência de católicos e solteiros, com escolaridade de nível superior (73,3%), 60% recebiam dois salários-mínimos ou mais, 40% eram lideranças há mais de 10 anos, e mais da metade contraiu Covid-19.
Conclusões/Considerações
O predomínio de religiões cristãs acompanha o curso da história, com influências na cultura das comunidades. A escolaridade de nível superior se sobressaiu, mas não corresponde a diversidade de postos de trabalho informados; a renda salarial foi maior do que é relatado nas comunidades quilombolas da Amazônia. O adoecimento por Covid-19 acompanhou a situação vivenciada no país, evidenciando que as lideranças estavam sujeitas riscos de infecção.
A EXPERIÊNCIA DA MATERNIDADE DE MULHERES NEGRAS NO CUIDADO EM SAÚDE DE SEUS FILHOS EM UM AMBULATÓRIO PÚBLICO DA REDE DO SUS
Pôster Eletrônico
1 UERJ
Apresentação/Introdução
Este deriva de dissertação de mestrado sobre a experiência da maternidade de mulheres negras na relação de cuidado da saúde de seus filhos em um ambulatório publico da rede do SUS. Propusemos um diálogo entre o que as interlocutoras trouxeram na entrevista, a forma como narramos o que elas trouxeram, priorizando a oralidade. Interpretamos em diálogo com autoras feministas e negras.
Objetivos
Compreender a maternidade de mulheres negras no cuidado; refletir sobre as questões transgeracionais nas experiências de mulheres-mães-negras e discutir o cuidado em contextos de violência, racismo estrutural e vulnerabilidade social.
Metodologia
Estudo narrativo a partir de uma empreitada de investigação localizada e não necessariamente particular. A partir de um viés de construção, mediação e representação do real no processo de elaboração da experiência social, no diálogo com mulheres pesquisadoras que colocam a “narrativa no feminino”, mas também de forma racializada, o que significa falar de um lugar localizado. Discorremos acerca de três histórias de mulheres mães negras cuidadoras, embasadas no conceito de escrevivência. Para o início da conversa, propusemos a leitura de mitos, apostando em um modo de fazer pesquisa com mais cuidado ético e profissional e de produzir uma comunicação não-violenta na pesquisa.
Resultados
Resultou que a possibilidade ou não do cuidado de si dessas mulheres impacta, diretamente, no cuidado com seus filhos. Para elas, o cuidado é estabelecido a partir dos parâmetros de cuidados recebidos por suas mães e/ou outras mulheres que fizeram parte desse cuidado, assim como ensinamentos passados através da oralidade, seja pela família consanguínea ou por laços de aliança e sociais que foram se construindo ao longo da vida, formando um jeito próprio de maternar. Em se tratando de mulheres negras e em situação de vulnerabilidade, o cuidado de outros, em casas de família ou contextos institucionais sacrificam, em alguma medida, aquele destinado aos seus próprios filhos.
Conclusões/Considerações
Essas histórias retrata muitas mulheres-mães-negras. Mulheres que trazem, muitas vezes, no corpo, talvez refletindo as marcas da rigidez e exigências da vida. Mas, que também fizeram desse lugar potência e resistência. Assim, o cansaço e a sobrecarga materna, em especial da mulher negra não deve ser normalizados e naturalizados. Ela faz parte de um processo de construção colonial e que ainda hoje fazem parte do nosso cenário cotidiano.
“NÃO DEIXAR NINGUÉM PARA TRÁS”: IGUALDADE RACIAL E EQUIDADE EM SAÚDE NA AGENDA 2030 E NO FUTURO DO DESENVOLVIMENTO
Pôster Eletrônico
1 Instituto René Rachou
2 Instituto René Rachou ; Associação Brasileira de Saúde Coletiva; Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz
Período de Realização
Janeiro de 2024 e ainda em curso
Objeto da experiência
Construção da meta da saúde do 18° Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS 18) - Igualdade Étnico-Racial
Objetivos
Reconhecer e combater as desigualdades raciais no Brasil, promovendo a equidade racial como um componente central e institucionalizado das políticas de desenvolvimento, incluindo a saúde como uma área prioritária.
Descrição da experiência
A experiência na Câmara Temática do ODS 18 da Comissão Nacional dos ODS foi dividida em dois momentos: identificação das fragilidades e lacunas da Agenda 2030 em atender as demandas de saúde de populações minorizadas e na identificação de áreas prioritárias de desenvolvimento; sistematização dessas evidências transformando-as em uma meta de saúde a ser alcançada, e em indicadores que cumprirão o papel de análise situacional e de monitoramento do alcance da meta.
Resultados
Construiu-se, a partir de deliberação coletiva, a meta e os indicadores da saúde no ODS 18 com foco na fragilidade do acesso aos serviços que impactam nos desfechos em saúde de populações minorizadas. A meta definida visa assegurar atenção à saúde de qualidade, assim sendo, seus indicadores avaliam áreas prioritárias como saúde materna e infantil, cobertura dos serviços de saúde, imunização, acesso ao tratamento de câncer e planos de ações da PNSIPN.
Aprendizado e análise crítica
A efetividade do ODS 18 na busca pela equidade racial em saúde dependerá do comprometimento institucional para superar o racismo estrutural e propor políticas que o reconheçam e o enfrentem em suas múltiplas dimensões. Seu sucesso exigirá ações contínuas, financiamento adequado e a participação ativa das comunidades indígenas e afrodescendentes na formulação, implementação e monitoramento das políticas de saúde no contexto da agenda de desenvolvimento sustentável.
Conclusões e/ou Recomendações
A construção da meta da saúde, assim como todo o ODS 18, se baseia no princípio de “Não deixar ninguém para trás”, e reafirma a necessidade de abordar desigualdades de maneira interseccional e ampla, e garantir que todas as populações sejam contempladas nas ações e benefícios do progresso global. Ademais, este processo evidencia a necessidade da contínua ampliação o debate sobre justiça racial dentro da agenda de desenvolvimento sustentável.
AÇÃO EDUCATIVA SOBRE HIPERTENSÃO E PNSIPN: ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO SAL NO SEMINÁRIO MULTIPROFISSIONAL DE PATOLOGIA - SEMULPATO - UFRB
Pôster Eletrônico
1 UFRB
Período de Realização
Realizado em 25 de julho de 2024, na Escola Municipal Dr. Luiz Viana Filho, Muritiba-Bahia.
Objeto da experiência
Promoção da saúde da população negra por meio da educação sobre hipertensão, com foco na Política Nacional de Saúde Integral da População Negra.
Objetivos
Difundir conhecimentos sobre a PNSIPN, prevenção da hipertensão arterial e estratégias para substituição do sal; sensibilizar o público sobre os impactos da HA na população negra; estimular hábitos de vida saudáveis por meio de práticas educativas lúdicas e interativas.
Descrição da experiência
A atividade foi desenvolvida durante o SEMULPATO, no componente Biointeração III, a partir da construção de um estande temático sobre a PNSIPN e a hipertensão. Foram utilizados materiais didáticos e recursos lúdicos, como banner, degustação de azeite saborizado, distribuição de temperos naturais e mudas de ervas, além de dinâmicas educativas. As ações visaram sensibilizar sobre os riscos da hipertensão e a importância da redução e substituição do sódio, com enfoque na equidade em saúde.
Resultados
Houve engajamento do público, que demonstrou interesse pelos conteúdos abordados. A atividade esclareceu a relação entre a hipertensão e os determinantes sociais da saúde que afetam a população negra. Os participantes compreenderam melhor a PNSIPN, além de adquirirem informações sobre fisiopatologia, farmacoterapia e estratégias de prevenção da HA. A utilização de jogos, dinâmicas e materiais sensoriais facilitou o aprendizado, tornando-o mais acessível, interativo e significativo.
Aprendizado e análise crítica
A experiência evidenciou o potencial transformador da educação em saúde, aliada a estratégias participativas e inclusivas. Demonstrou a importância de contextualizar o cuidado à realidade da população negra, reconhecendo desigualdades estruturais e promovendo ações afirmativas. A abordagem lúdica favoreceu a autonomia e o protagonismo comunitário. O conhecimento foi construído de forma horizontal, valorizando saberes diversos e refletindo sobre racismo institucional.
Conclusões e/ou Recomendações
A prática mostrou-se eficaz na promoção de saúde e na divulgação da PNSIPN, ainda desconhecida por muitos. Recomenda-se a ampliação de ações semelhantes, com metodologias interativas e foco na equidade. É essencial fortalecer políticas públicas que combatam o racismo estrutural e garantam o cuidado integral. A inserção do tema na formação acadêmica contribui para práticas de saúde mais sensíveis, críticas e comprometidas com a justiça social.
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E SAÚDE COLETIVA: VIVÊNCIAS EM UM TERRITÓRIO QUILOMBOLA JUNTO À EQUIPE DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO SUS
Pôster Eletrônico
1 Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá/UNESA-IDOMED - Rio de Janeiro/RJ - Brasil
2 Enfermeira da Estratégia Saúde da Família na Prefeitura do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - Brasil.
3 Agente comunitária de saúde da Estratégia Saúde da Família na Prefeitura do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - Brasil.
4 Quilombo Sacopã
Período de Realização
O projeto de extensão foi desenvolvido no primeiro semestre de 2025.
Objeto da experiência
Extensão universitária de Medicina em comunidade quilombola no Rio de Janeiro com ações de saúde sobre hipertensão arterial sistêmica e saberes tradicionais.
Objetivos
Contribuir para a formação antirracista de estudantes de Medicina de uma universidade do Rio de Janeiro, promovendo reflexão crítica sobre as iniquidades em saúde enfrentadas pela população negra, com ênfase nos territórios quilombolas.
Descrição da experiência
A primeira visita à comunidade quilombola ocorreu em 15 de março, com escuta das demandas de saúde locais. A segunda ida teve como foco o acompanhamento de uma visita domiciliar com a equipe de saúde. Em 17 de maio, foi realizado o “Mutirão da Hipertensão”, com aferição de pressão arterial dos participantes. Todas as ações foram conduzidas de forma participativa, promovendo o diálogo com a comunidade e valorizando os saberes tradicionais sobre saúde.
Resultados
As atividades extensionistas proporcionaram aos discentes uma compreensão mais profunda sobre o racismo estrutural e sobre as iniquidades em saúde enfrentadas pela população quilombola. Através dessas experiências e do compartilhamento de saberes com a comunidade quilombola, mostrou-se a importância do exercício de uma prática profissional sensível às especificidades culturais dessa população.
Aprendizado e análise crítica
A experiência proporcionou aprendizados sobre a luta quilombola e os desafios na permanência no território e na promoção da saúde. Observou-se que, mesmo com a presença da equipe de saúde e o contexto urbano, há barreiras no acesso aos serviços. A vivência reforçou a importância de respeitar e valorizar os saberes tradicionais da comunidade, reconhecendo-os como parte essencial do processo de cuidado.
Conclusões e/ou Recomendações
A extensão promove ações interdisciplinares e aproxima os discentes de diferentes setores da sociedade, como as populações quilombolas. Assim, contribui para a formação de futuros profissionais de saúde, ao estimular um olhar crítico sobre os determinantes sociais da saúde da população negra, destacando o racismo como fator patogênico.
ATIVIDADE EDUCACIONAL E LÚDICA NO POVOADO QUILOMBOLA SACO DO TIGRE: O QUE NOS INFORMA A TIMIDEZ?
Pôster Eletrônico
1 UFS
Período de Realização
01.04.25 a 06.06.25
Objeto da experiência
Apresentar a proposta do projeto Fortalece PSE Lagarto para a Escola Esmeralda Flora no Povoado Quilombola Saco do Tigre
Objetivos
Verificar as potencialidades locais para o desenvolvimento do projeto Fortalece PSE Lagarto
- Destacar a importância da atividade física para a saúde das crianças, utilizando brincadeiras como ferramenta de inclusão e socialização.
Descrição da experiência
Atividade do Programa de Saúde na Escola do Projeto Fortalece PSE Lagarto, realizou-se com a visita ao Povoado Quilombola Saco do Tigre do município de Lagarto/SE, em 03.04.2025. O objetivo foi destacar a importância da atividade física para a saúde das crianças, utilizando brincadeiras como ferramenta de inclusão e socialização. Atividades realizadas: Roda de apresentação, desenho da família, atividades físicas, brincadeiras, cantoria e dança. A timidez foi o sentimento inicial predominante.
Resultados
Participaram da ação, 12 crianças, na faixa de 3 a 10 anos, pretos e pardos. A professora e o auxiliar administrativo recepcionaram os pesquisadores. Verificamos a ausência do pai em muitos desenhos ou em papel não relevante. Nas atividades lúdicas as crianças cooperaram umas com as outras e foram dóceis com os monitores. Mostraram avidez por informações. O sentimento prevalente, a timidez foi se transformando à medida que foram aderindo às atividades propostas.
Aprendizado e análise crítica
Quilombo foi uma organização de resistência onde a fala era franqueada, o que não era possível à sombra da chibata. A timidez das crianças também é verificada nos seus pais. Nesta comunidade um tocador de zabumba reunia a comunidade para a música e dança de coco. Idoso e acamado as atividades foram interrompidas. Todos venciam a timidez quando se expressavam pela música, pela cultura e pelas artes. O que essa timidez que avança nos dias atuais nos informa? A reflexão é aprendizado.
Conclusões e/ou Recomendações
A timidez não necessariamente é algo ruim e se dissipa na realização das atividades, nas brincadeiras e nas manifestações culturais. O projeto Fortalece PSE Lagarto oportuniza aos envolvidos o conhecimento da realidade da região, uma população predominantemente negra, com famílias grandes e dificuldade no acesso aos bens de consumo. Epidemiologia crítica e determinação social devem orientar novos estudos conectando a diversidade cultural.
DA RAIZ AO FLORESCER: RELATO DE EXPERIÊNCIA DOS RESISTENTES FRUTOS NEGROS NO PROJETO BAOBÁ
Pôster Eletrônico
1 UERJ
Período de Realização
As atividades no Projeto de Prodocência Baobá iniciaram em agosto de 2022 e estão em andamento.
Objeto da experiência
O protagonismo de estudantes, sobretudo negras/os, na análise e na proposta de ações voltadas à inserção de questões étnico-raciais no currículo.
Objetivos
Relatar as vivências dos estudantes no projeto Baobá, que propôs reformulação das ementas do curso de Nutrição a fim da inclusão de conteúdos acerca da saúde e alimentação da população negra, além de promover espaços de debate e formação com estudantes e professores.
Metodologia
Em 2022 brotou o Baobá, Projeto de Prodocência fruto da interlocução entre o Coletivo Pérolas Negras da Nutrição junto a uma das duas professoras negras do Instituto de Nutrição (INU) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). O Baobá firmou suas raízes fortes e oportunizou para as estudantes que o compõem leitura de referências importantes, organização de eventos, produção de materiais físicos e virtuais, refletindo na qualidade da formação e inimagináveis e gratificantes experiências.
Resultados
As contribuições das estudantes, da nutricionista bolsista e professoras resultaram em inovadores e relevantes frutos, como revisão das ementas; inclusão de abordagem racial nas disciplinas; criação do Instagram como ferramenta de disseminação dos conteúdos; três eventos na agenda do Movimento “nos 21 dias de combate ao racismo”; um trabalho de conclusão de curso; concurso de professor com perfil de relações étnico-raciais; o Repositório. Essas ações refletem a implementação da Lei nº 10.639/03.
Análise Crítica
Ser o Baobá, da raiz aos frutos, é uma oportunidade única e que reverbera de muitas formas nas estudantes. As mudanças, mesmo que iniciais, apontam que é possível transformar quando nos reconhecemos e nos organizamos. Os diálogos com outros coletivos, como o CulinAfro e suas vivências com os quilombolas, revelaram potentes articulações fora dos muros da universidade, mas com ela. Contudo, o protagonismo é ancestral. O Baobá ampliou os horizontes e as sementes foram lançadas, não regride mais.
Conclusões e/ou Recomendações
Apesar das resistências encontradas para implementar as discussões necessárias propostas pelo Baobá dentro das salas de aula, o projeto revolucionou um curso onde aquelas estudantes negras do Pérolas não se viam e, hoje, as estudantes negras que compõem o Baobá encontraram um quilombo organizado, combativo e transformador. As ações do projeto são exemplos para que demais cursos da saúde de todas as universidades façam esse levante que é urgente.
A EXPERIÊNCIA DO PROJETO ECOILÊ NA CARTOGRAFIA SOCIAL COM AS COMUNIDADES TRADICIONAIS DE MATRIZ AFRICANA E DE TERREIROS DA RIDE-DF.
Pôster Eletrônico
1 FIOCRUZ
Período de Realização
Entre outubro/2024 e junho/2025
Objeto da experiência
Cartografia Social com Comunidades e Povos Tradicionais de Matriz Africana e Terreiros
Objetivos
Realizar a cartografia social com as comunidades de matriz africana e de terreiros integrantes do Projeto Ecoilê, visando a identificação de necessidades territoriais para ancoragem do projeto.
Descrição da experiência
Foi realizada Cartografa Social com os 8 terreiros integrantes do projeto abordando situações de conflitos e desafios, visando identificar necessidades territoriais de ancoragem para seu desenvolvimento. Utilizada técnica de IFuturo, ação desenvolvida por Picaps/FIOCRUZ que se baseia nos 17 ODS, e incluímos mais 3 ODS que estavam em discussão junto à sociedade e ao governo. Para classificação de risco dos fatores investigados, foi adicionada uma nova categoria “Sagrado” para essas comunidades.
Resultados
Como resultado dessa investigação, foram identificadas a partir dos discursos dos grupos formados em cada comunidade e a classificação de risco as políticas e suas lacunas voltadas para essa comunidade, bem como ações necessárias de promoção da saúde e sustentabilidade do território para o avanço e o fortalecimento das tradições, cultura e práticas realizadas pelas comunidades e povos de matriz africana.
Aprendizado e análise crítica
O olhar do projeto para esses povos possibilita o fortalecimento das práticas voltadas a saúde, agroecologia e sustentabilidade do indivíduo, corpo, natureza e sagrado. Entender que a saúde para os povos de terreiros vem do completo bem-estar físico, mental, social e espiritual, e fortalecer esse equilíbrio é o potencial que o projeto pode oferecer.
Conclusões e/ou Recomendações
A experiência proporcionada pelo projeto gera desdobramentos para subsidiar políticas públicas saudáveis, sustentáveis e mais eficazes para as comunidades e povos tradicionais e de terreiros, reconhecendo sua cultura, saberes e práticas que devem se somar as ações de saúde nos territórios.
A QUESTÃO RACIAL, CRISE CLIMÁTICA E SAÚDE NAS ÁGUAS: CONSTRUÇÃO DE AGENDA COLETIVA COM PESCADORAS DA ILHA DE DEUS/PE
Pôster Eletrônico
1 Instituto Aggeu Magalhães/Fiocruz Pernambuco
Período de Realização
Atividades realizadas entre outubro de 2024 e Junho de 2025 na Ilha de Deus, Recife/PE.
Objeto da experiência
Elaboração coletiva de estratégias para promoção da saúde de mulheres negras pescadoras, articulando saberes tradicionais, enfrentamento ao racismo e à crise climática.
Objetivos
Promover espaços dialógicos que articulem as dimensões da determinação social da saúde em territórios pesqueiros, com enfoque nas dimensões raciais, crise climática e práticas coletivas de cuidado em saúde.
Metodologia
Foram realizadas rodas de conversa na Escola de Remo da ONG Saber Viver, com predominância de mulheres, lideranças locais e movimentos sociais. As discussões abordaram violência, comunicação não-violenta, saúde mental, racismo estrutural e soberania alimentar. Destacou-se a Cozinha Solidária como prática concreta para garantir alimentação saudável e autonomia, envolvendo parcerias locais e estratégias de cuidado coletivo.
Resultados
Identificou-se o protagonismo das mulheres negras na luta contra o racismo estrutural e a insegurança alimentar. A Cozinha Solidária emergiu como uma resposta política que articula cuidado, geração de renda e soberania alimentar. As rodas revelaram a força das redes comunitárias, o valor da espiritualidade como suporte e a importância de espaços seguros para escuta e fortalecimento do autocuidado.
Análise Crítica
A experiência revelou como a opressão estrutural, baseada na exploração econômica e racial, condiciona a saúde e a vida das pescadoras. O "progresso" é expressão das contradições do modo de produção capitalista, que destrói modos tradicionais de vida. A construção coletiva fortalece a resistência popular, evidenciando o cuidado e a solidariedade como armas contra a lógica excludente do sistema.
Conclusões e/ou Recomendações
Os momentos coletivos demonstraram a força da organização popular na resistência às opressões estruturais. A combinação de saberes tradicionais, solidariedade e práticas coletivas reafirma a capacidade das mulheres negras da pesca em construir autonomia e saúde integral, mesmo diante das contradições do sistema capitalista que perpetua desigualdades e violações em seus territórios.
INVISIBILIDADE DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS: AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PNAE EM MUNICÍPIOS GOIANOS COM PRESENÇA DE POVOS TRADICIONAIS
Pôster Eletrônico
1 UFG
Período de Realização
De outubro de 2024 a março de 2025
Objeto da experiência
Análise da ausência de compras da agricultura familiar quilombola para o PNAE, por municípios goianos com comunidades tradicionais
Objetivos
Investigar a efetividade da prioridade legal fornecida à agricultura familiar oriunda de comunidades quilombolas no âmbito do PNAE, com identificação de barreiras operacionais e institucionais em municípios goianos que possuem comunidades tradicionais formalmente reconhecidas.
Descrição da experiência
Entre outubro de 2024 e março de 2025, foram realizados levantamentos e entrevistas com nutricionistas e gestores públicos de seis municípios de Goiás que possuem comunidades quilombolas. O foco foi verificar a existência de compras da agricultura familiar tradicional no âmbito do PNAE. Observou-se a inexistência de chamadas públicas exclusivas, bem como a ausência de estratégias de fomento ou articulação com associações locais, comprometendo a implementação do que prevê a legislação vigente.
Resultados
Em nenhum dos seis municípios estudados foram verificadas compras direcionadas à agricultura familiar quilombola. Identificou-se desconhecimento sobre a priorização legal prevista no PNAE, ausência de assessoramento técnico e inexistência de chamadas públicas específicas. Mesmo com a presença de comunidades tradicionais, a invisibilidade institucional dessas populações persiste, dificultando o acesso às políticas públicas e a promoção da segurança alimentar e nutricional tão crucial.
Aprendizado e análise crítica
A experiência revelou que a não efetivação da prioridade às comunidades tradicionais no PNAE decorre de uma combinação entre desinformação técnica, fragilidade na gestão local, baixa articulação intersetorial e inércia institucional. Reforça-se a necessidade de compreender o papel do Estado não apenas como executor, mas como garantidor do direito à alimentação e da valorização da sociobiodiversidade, em especial dos povos tradicionais historicamente marginalizados e invisibilizados.
Conclusões e/ou Recomendações
É urgente o fortalecimento da formação de gestores públicos sobre a legislação do PNAE, com foco na obrigatoriedade da inclusão e prioridade das comunidades tradicionais. Recomenda-se o estímulo à elaboração de chamadas públicas exclusivas, além da criação de instrumentos normativos e intersetoriais que assegurem a participação ativa das organizações quilombolas no planejamento,execução e avaliação da alimentação escolar.
ESTRATÉGIAS E DESAFIOS NA INTERAÇÃO COM CRIANÇAS DE COMUNIDADES QUILOMBOLAS NO ESTADO DO MARANHÃO: RELATO DE EXPERIÊNCIA
Pôster Eletrônico
1 UFMA
Período de Realização
Ocorreu no mês de novembro de 2023. Na 11ª Semana do Bebê Quilombola (SBQ).
Objeto da experiência
Corresponde ao processo de articulação entre pesquisadores e comunidades quilombolas do município de Bequimão- Maranhão.
Objetivos
Criar vínculos de confiança com os participantes da pesquisa e suas famílias e Realizar uma ação educativa preliminar para compreender práticas alimentares infantis.
Descrição da experiência
Inicialmente houve a articulação junto à Secretaria Municipal de Igualdade Racial e o Movimento Quilombola de Bequimão (MoqBeq). Essas instâncias facilitaram o contato com lideranças locais, permitindo o acesso às comunidades. A equipe de pesquisa participou da 11ª Semana do Bebê Quilombola com as comunidades de Monte Alto e Marajá. Nessa ocasião, foi realizada uma atividade lúdica com 25 crianças, na qual utilizaram desenhos e colagens para expressar suas preferências alimentares.
Resultados
A experiência revelou que a articulação com instâncias institucionais e comunitárias é essencial para a viabilização da pesquisa. A ação educativa promovida na 11ª SBQ evidenciou que as crianças possuem uma relação simbólica e afetiva com os alimentos, expressando preferências que refletem o contexto sociocultural de suas comunidades. A aproximação permitiu que a equipe compreendesse o contexto social das comunidades, o que foi fundamental para garantir a execução da pesquisa.
Aprendizado e análise crítica
Evidenciaram-se alguns desafios: necessidade de adaptar a linguagem da pesquisa para uma comunicação mais acessível às crianças; logística, deslocamento e organização das atividades em campo e planejamento e apoio das lideranças locais. Um aprendizado foi que a construção de parcerias não se limita a aspectos institucionais, mas envolve um processo contínuo de interação, escuta e reconhecimento dos sujeitos da pesquisa.
Conclusões e/ou Recomendações
A experiência de aproximação demonstrou que a pesquisa em comunidades quilombolas requer uma abordagem sensível e respeitosa, que valorize os saberes locais e promova o envolvimento dos sujeitos na produção do conhecimento. Recomenda-se que futuras pesquisas em comunidades tradicionais invistam em estratégias de engajamento desde as fases iniciais, permitindo a troca de saberes e o fortalecimento dos vínculos.
TECNOLOGIAS ANCESTRAIS DE COMUNICAÇÃO EM SAÚDE E O FAZER-VIVER ENTRE COMUNIDADES NEGRAS
Pôster Eletrônico
1 UFJF
Período de Realização
As reflexões apresentadas vêm sendo construídas do ano de 2020 até o presente momento.
Objeto da experiência
Os modos de cuidado em saúde que partem das tecnologias ancestrais desenvolvidas em espaços externos aos aparelhos públicos ou liberais.
Objetivos
Discutir a partir de outras racionalidades em saúde, a importância dos modos de cuidado desenvolvidos em espaços externos aos aparelhos públicos ou liberais. Os saberes ancestrais de matriz africana que desempenham uma ampliação de recursos e perspectivas de cuidar do corpo – mente e espírito.
Descrição da experiência
A partir das escutas de distintas experiências de pessoas negras no contexto da clínica psicanalítica, da observação dos impactos significativos que as vivências em espaços coletivos, como os terreiros de matriz africana produziam na subjetividade destas, me torna perceptível o potencial de transformação dos modos de experimentar o mundo que essas vivências assentadas nas cosmovisões de raiz africana proporcionam, em contraste com os limites da racionalidade hegemonicamente biomédica.
Resultados
Parto de uma experiência de trabalho singular, atravessada pelo coletivo. Na posição de um elo que se articula a partir da confluência entre clínica psicanalítica – saúde - comunicação – terreiros de matriz africana. As tecnologias de cuidado em saúde desenvolvidas durante as consultas com divindades (tanto na experiência dos candomblés como nas umbandas), mesmo com as diferenças metodológicas de suas práticas, dialogavam enquanto intervenção para o desenvolvimento da pessoa cuidada.
Aprendizado e análise crítica
Ressalto que não há pretensão nessa análise em propor quaisquer tipos de comparação ou hierarquização entre as metodologias dos cuidados em saúde. Durante observações realizadas ao longo dos últimos cinco anos nos discursos de pessoas negras no contexto da clínica psicanalítica, que estiveram ligadas às religiões de matriz africana, me foi perceptível que os modos de cuidado empreendidos nesse outro espaço possuem uma potência de firmeza e muitas vezes de reorganização subjetiva e emocional.
Conclusões e/ou Recomendações
Nossas formações institucionais tendem a uma posição rígida ancorada na racionalidade, interpretando o que a ciência não possui ferramenta para elucidar como ineficaz. Contudo, sobretudo na experiência de pessoas negras num país pós colonizado, um corpo representa muitas coisas além de um portador de órgãos e de um inconsciente, ele carrega símbolos, memórias e linguagens que denotam potencialização ao invés de um reducionista enquadre.
IMPLEMENTAÇÃO DE TELESSAÚDE EM CONTEXTOS REMOTOS: ESTUDOS DAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE IRITUIA-PA
Pôster Eletrônico
1 UFPA
Período de Realização
Janeiro a dezembro de 2024, na comunidade quilombola de Irituia, interior do estado do Pará.
Objeto da experiência
Identificação de espaços comunitários com potencial para implantação de serviços de telessaúde em Irituia-PA.
Objetivos
Registrar por meio de fotografias, estruturas como escolas, unidade de saúde , vias de acesso e fonte de Internet da comunidade quilombola de Irituia- PA, tendo como objetivo identificar potencialidades para implementação da serviço de telessaúde.
Metodologia
A pesquisa seguiu uma abordagem qualitativa, com foco na análise de registros das estruturas da comunidade. Foi realizado levantamento, onde foram registrados os espaços disponíveis na comunidade, incluindo escola de ensino fundamental, unidade de saúde local, centro comunitário da igreja (onde onde ocorrem eventos religiosos), além dos tradicionais festejos, e o centro de reuniões da associação, fonte de Internet da comunidade é proveniente de um programa governamental.
Resultados
Foram identificados estruturas com potencial para a implantação da telessaúde como: A escola da comunidade, a unidade de Saúde onde já oferece serviços básicos de saúde, mas carece de infraestrutura tecnológica para integrar a telessaúde, centro Comunitário da Igreja também pode ser um ponto estratégico para ações de saúde,a fonte de Internet via programa governamental, porém com algumas limitações tem condições para o serviço de atendimento, com equipe existente de saúde, facilitaria a adesão ao serviço.
Análise Crítica
Percebeu-se que escutar a comunidade é essencial para propor soluções viáveis. A experiência mostrou que é possível usar espaços que já fazem parte do cotidiano local, mas que é preciso melhorar a internet e oferecer suporte técnico para garantir o funcionamento do serviço.
Conclusões e/ou Recomendações
A comunidade quilombola de Irituia-PA dispõe de estruturas físicas básicas que podem ser adaptadas para a implantação da telessaúde, como a escola, a unidade de saúde e os centros comunitários. Entretanto, a viabilidade da implantação depende de investimentos em conectividade, capacitação da equipe de saúde local é um fator positivo, e aquisição equipamentos para garantir a eficácia do serviço e fortalecer o cuidado remoto
TEMOS QUE FALAR DE VIOLÊNCIA COM MULHERES QUILOMBOLAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM COMUNIDADES KALUNGA DE GOIÁS
Pôster Eletrônico
1 UFG
Período de Realização
Cerca 1 ano de aproximação que culminou nesta coleta de dados de 3 dias no 1º semestre de 2025.
Objeto da experiência
Desvelamento da percepção e do entendimento sobre violência doméstica em mulheres quilombolas do norte de Goiás.
Objetivos
Compreender os significados da violência doméstica pela ótica de mulheres quilombolas em comunidades Kalunga.
Descrição da experiência
A experiência deu-se durante a coleta de dados para a etapa qualitativa de um estudo misto de grande amplitude temática. Inicialmente, buscou-se conhecer a região e estabelecer vínculo através de lideranças comunitárias que abordaram as mulheres, 3 pesquisadoras fizeram parte desta etapa que durou 3 dias. Cada dia foi visitada uma comunidade que tinha características, cenários e acesso diferentes, totalizando 19 entrevistas individuais, privativas, gravadas e guiadas por questões norteadoras.
Resultados
A violência doméstica está presente no cotidiano de mulheres quilombolas de diferentes comunidades Kalunga. Com mais ênfase observou-se que o relato das mulheres que vivem mais próximas da zona urbana é mais carregado do conhecimento de questões legais, denotando as estas experiências um significado menos irremediável. À medida que as conversas adentravam no território, as vivências e percepções acerca da violência se apresentavam de forma mais consistente e arraigada nas relações.
Aprendizado e análise crítica
Debater a violência contra a mulher em contextos de vulnerabilidade social e geográfica mais extrema é profundamente desafiador. É possível desvelar que a estruturação legal das comunidades quilombolas trazem benefícios incontáveis, como o acesso a diversos direitos, dentre eles, os da mulher. E é exatamente o distanciamento deste acesso que propicia o enraizamento das violências, colaborando para manutenção de realidades violentas e ao status considerado inevitável destas.
Conclusões e/ou Recomendações
A violência contra a mulher está presente nos mais diversos cenários e buscar entender os significados dela no contexto de populações quilombolas é extremamente necessário, uma vez que permite a compreensão de fatores culturais, mas também, principalmente, de como a falta de acesso a direitos básicos da vida humana pode ser um potencializador de violências.
ELABORAÇÃO DA NOTA TÉCNICA (NT) PARA O CUIDADO EM SAÚDE DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS (PCT) NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) DO SUS DE BELO HORIZONTE (BH)
Pôster Eletrônico
1 SMSA-BH
Período de Realização
A NT foi construída pela Coordenação de Equidade e Populações Vulnerabilizadas em 06 meses.
Objeto da experiência
Nota técnica sobre o cuidado em saúde dos povos e comunidades tradicionais (PCT) presentes no território de Belo Horizonte (BH)
Objetivos
Descrever o processo de elaboração da NT, em resposta às demandas surgidas na interface com a sociedade civil, movimento social, etc. A NT objetiva informar os profissionais da APS sobre a presença dos PCT no território de BH e orientar quanto suas especificidades, qualificando seu cuidado em saúde.
Descrição da experiência
A elaboração da NT se pautou na necessidade de formar a rede sobre as singularidades dos PCT. Diante da discriminação e exclusão social vivenciadas, inclusive a violência institucional, materializada em barreiras de acesso simbólicas e materiais, optou-se pela criação de um documento com alto teor teórico, diretrizes objetivas e comandos específicos para efetiva operacionalização da ampliação do acesso e da qualificação do cuidado em saúde desses usuários.
Resultados
A NT, elaborada por equipe multidisciplinar formada por assistente social, psicólogo e médica de família e comunidade, foi validada internamente pela gerência e diretoria de referência da Secretaria Municipal de Saúde, após aprovação de representantes dos PCT, tendo sido publicada no portal da prefeitura (disponível em: https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/atencao-a-saude/publicacoes). O próximo passo é a execução de cronograma de divulgação junto aos profissionais de saúde da rede.
Aprendizado e análise crítica
A NT é um tipo de documento elaborado por profissionais técnicos especializados para eliminar divergências de interpretação sobre um tema, padronizando a atuação dos profissionais com orientações/diretrizes específicas. Segundo dados dos sistemas de informação, em BH há 06 quilombos reconhecidos (Fundação Palmares), cerca de 1700 pessoas ciganas, 2.700 pessoas indígenas, além de inúmeros Terreiros. Dessa forma, a qualificação da oferta dos serviços de saúde a estes povos é de suma importância.
Conclusões e/ou Recomendações
A elaboração da NT ocorreu mediante necessidade de formação dos profissionais trabalhadores do SUS-BH sobre temas associados à saúde dos PCT, os quais, apesar de serem de suma relevância, são negligenciados e invisibilizados social e historicamente. Dessa forma, a NT foi um meio de sistematizar o conhecimento acerca das relações étnicas e raciais, equidade, entre outros, sendo uma ferramenta de ampliação do acesso e de qualificação do cuidado em saúde.
PLANOS DE AÇÃO DO PIAPS QUILOMBOLA NO RIO GRANDE DO SUL: UMA EXPERIÊNCIA DE ANÁLISE, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PARA A QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO E PROMOÇÃO DA EQUIDADE
Pôster Eletrônico
1 ESP-Escola de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Sul
2 UFRGS- Universidade Federal do RIo Grande do Sul
3 SES- Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul
Período de Realização
Abril a outubro de 2025, no âmbito da Área Técnica de Saúde da População Negra da SES/RS.
Objeto da experiência
Análise técnica dos planos do PIAPS Quilombola para qualificar a política, o financiamento, o monitoramento e identificar lacunas na implementação.
Objetivos
Analisar dados preliminares do PIAPS Quilombola quanto à existência de planos, uso do recurso e eixos priorizados, visando fortalecer a gestão, qualificar o apoio técnico e orientar a SES/RS no monitoramento e financiamento da saúde quilombola.
Descrição da experiência
A Área Técnica de Saúde da População Negra da SES/RS analisará os planos de ação dos municípios que recebem incentivo do PIAPS Quilombola. O processo envolverá leitura crítica, categorização das ações, levantamento de recursos previstos e utilizados, além da identificação de lacunas na implementação. Será elaborada matriz de monitoramento com foco em participação social, intersetorialidade e vínculo territorial, visando qualificar o uso dos recursos e orientar futuras pactuações.
Resultados
A análise busca identificar variações na qualidade dos planos e na implementação do PIAPS Quilombola, considerando adesão municipal, uso dos recursos, dados disponíveis e detalhamento das ações. Pretende-se evidenciar boas práticas com lideranças quilombolas, subsidiar devolutiva técnica aos municípios e fomentar a cultura de monitoramento e avaliação por meio da proposta de um painel estadual de acompanhamento.
Aprendizado e análise crítica
A ação evidenciará a importância do monitoramento qualificado das políticas de equidade e permitirá identificar fragilidades na elaboração e execução municipal no que tange ao PIAPS Quilombola. Espera-se aprender sobre os entraves e potencialidades da gestão local, reforçando a necessidade de apoio técnico e formação em planejamento com enfoque étnico-racial.
Conclusões e/ou Recomendações
O monitoramento sistemático dos planos de ação do PIAPS Quilombola é essencial para garantir que os recursos públicos sejam aplicados com efetividade e foco na promoção da equidade racial. Recomenda-se ampliar o apoio técnico-pedagógico aos municípios, construir mecanismos participativos de avaliação com os territórios e institucionalizar painéis de indicadores específicos para a saúde quilombola no RS.
ENEGRECENDO O SUS NA REGIÃO NORTE DO BRASIL:ATUAÇÃO DO APOIO ESTRATÉGICO À SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA
Pôster Eletrônico
1 MS/Fiocruz
Período de Realização
A experiência relatada teve início no período de março de 2025, com previsão de 6 meses de duração
Objeto da experiência
Saúde da População Negra, com enfoque nas vivências dos Apoiadores no fortalecimento e implementação da PNSIPN nos estados da região Norte do Brasil
Objetivos
Relatar a atuação dos Apoiadores Estratégicos em Saúde da População Negra nos seguintes estados da região Norte: Amapá, Amazonas, Acre, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Com vistas a construir espaços de sensibilização e diálogo da temática no SUS, em articulação com a PNSIPN.
Metodologia
A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN), criada em 2009, reconhece o racismo como determinante social da saúde e é fruto da luta do movimento negro, especialmente de mulheres negras. Apesar dos avanços, ainda persistem desafios na garantia do direito à saúde da população negra. Com o TED 166/2023, firmado entre o Ministério da Saúde e a Fiocruz, o Apoio Estratégico atua no Eixo 1, resgatando a metodologia do Apoio Institucional para fortalecer a PNSIPN nos estados e municípios.
Resultados
Foram realizadas ações de capacitação e articulação que contribuíram para: fortalecimento técnico dos apoiadores, com formação em temas como racismo institucional, gestão do SUS e cogestão; Integração entre níveis de gestão (federal, estadual e municipal), com alinhamento de estratégias para implementação da PNSIPN; Articulação política com gestores estaduais, possibilitando aproximação a PNSIPN da realidade amazônica.
Análise Crítica
Evidenciou-se a ausência de um plano operativo da PNSIPN nos estados e municípios da Região Norte, a inexistência de Comitês de Saúde da População Negra, e o racismo institucional. Soma-se a isso a dificuldade de acesso aos instrumentos de gestão do SUS e ausência de dados epidemiológicos estratificados pelo quesito raça/cor a nível municipais e estaduais. Apesar da dificuldade, ficou evidenciado que alguns atores são sensíveis ao tema, porém tem dificuldade de movimentar a pauta dentro da gestão.
Conclusões e/ou Recomendações
A experiência evidencia a importância do Apoio Estratégico como prática inovadora na consolidação da PNSIPN, ampliando ações de combate ao racismo institucional no SUS. Revela lacunas estruturais, como a ausência de planos operativos e comitês nos estados da Região Norte, e contribui para os saberes da Saúde Coletiva ao articular gestão, território e equidade racial, fortalecendo ações antirracistas no contexto amazônico.
ATIVIDADE EXTENSIONISTA DE SAÚDE BUCAL NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE JUTAÍ COMO PRÁTICA DE PROMOÇÃO DO AUTOCUIDADO DE CRIANÇAS QUILOMBOLAS
Pôster Eletrônico
1 FACULDDE DE ODONTLOGIA GAMALIEL
2 FACULDADE DE ODONTOLOGIA GAMALIEL
Período de Realização
A atividade foi realizada no dia 12 de maio de 2025, na comunidade quilombola de Nova Jutaí.
Objeto da experiência
Promoção da saúde bucal de crianças quilombolas por meio de práticas educativas, lúdicas e interativas, respeitando a cultura local.
Objetivos
Promover hábitos saudáveis de higiene bucal entre crianças por meio de atividade extensionista de ações educativas e recreativas alinhadas às diretrizes do Programa Saúde na Escola (PSE), além de contribuir para a equidade em saúde.
Descrição da experiência
A ação foi realizada na Escola quilombola de Jutaí com crianças de 3 a 7 anos de idades. Foram desenvolvidas atividades educativas e lúdicas, como palestras, teatro, dinâmicas, quebra-cabeças, escovação supervisionada com materiais pedagógicos personalizados e distribuição de kits de higiene oral. Os recursos visuais incluíram macromodelo de escovação e teatros com marionetes temáticos. A metodologia respeitou os saberes locais e valorizou a cultura quilombola.
Resultados
Participaram da ação 3 (três) docentes, 13( treze) acadêmicos extensionista de odontologia da faculdade Gamaliel de Tucuruí e 70 crianças e comunidade escolar. Os participantes demonstraram engajamento e entusiasmo nas atividades. A utilização de métodos lúdicos e materiais visuais contribuiu significativamente para a fixação dos conhecimentos e adoção de práticas corretas de higiene bucal. A escovação supervisionada revelou o aprendizado prático das técnicas ensinadas e relações interculturais.
Aprendizado e análise crítica
Os alunos extensionistas desenvolveram habilidades práticas, sensibilidade cultural e espírito de cooperação. A vivência permitiu compreender a importância da adaptação das práticas educativas ao contexto sociocultural, valorizando os saberes populares. O contato com a realidade da comunidade reforçou o papel da formação cidadã e transformação social. A ação está alinhada às Diretrizes de Saúde Bucal do Programa Saúde na Escola (PSE), que incentiva práticas educativas como forma de prevenção.
Conclusões e/ou Recomendações
A experiência demonstrou a eficácia de ações educativas e lúdicas para promoção da saúde bucal em comunidades vulneráveis. Recomenda-se a ampliação dessas ações em territórios semelhantes, com incentivo à continuidade de projetos que unam ensino, serviço e comunidade para o enfrentamento das desigualdades em saúde, do racismo estrutural e garantir o acesso equitativo.
VIVÊNCIAS DE UMA RESIDENTE QUILOMBOLA NO VER-SUS CENTRO-OESTE: ANCESTRALIDADE, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E SAÚDE COLETIVA NOS TERRITÓRIOS DO CAMPO
Pôster Eletrônico
1 Fiocruz / Brasilia
Período de Realização
De 07 á 13 de junho.
Objeto da experiência
Fortalecer práticas populares no campo e quilombos; refletir sobre formação em saúde; reafirmar presença quilombola no SUS democrático.
Objetivos
A vivência no VER-SUS fortalece a escuta, o diálogo de saberes e a participação social no campo; reafirma a presença quilombola no SUS democrático e antirracista; e reflete sobre a formação em saúde, valorizando práticas populares, identidades e ancestralidades.
Descrição da experiência
A vivência no VER-SUS integrou residentes, profissionais e lideranças nos territórios do campo e comunidades tradicionais do Entorno do DF. Como mulher negra e quilombola Kalunga, participei de trocas sobre saberes ancestrais, desafios do SUS, racismo ambiental e luta territorial.
Resultados
Fortalecer o diálogo entre cuidado comunitário e SUS, valorizar resistências, ampliar consciência crítica e participação social para fortalecer o SUS em territórios rurais e quilombolas.
Aprendizado e análise crítica
O SUS depende do povo do campo, das águas, florestas e quilombos. Controle social e participação popular devem ser reais, descentralizados e reconhecer saberes diversos. A formação em saúde precisa ser territorializada, integrando ancestralidade e espiritualidades comunitárias, práticas que resistem e curam. A vivência foi um exercício coletivo, político, afetivo e pedagógico de escrevivência.
Conclusões e/ou Recomendações
A experiência no VER-SUS reforça que um SUS democrático depende da escuta dos povos silenciados. O cuidado em saúde deve reconhecer lutas, saberes e territórios. Recomenda-se vivências na formação em saúde rural, financiamento para educação popular territorial e fortalecer a presença quilombola em decisões e controle social.
EXPERIÊNCIA ETNOGRÁFICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO BAIXO CAETÉ, MOJU, PARÁ: SOB A PERSPECTIVA DE UM PROJETO DE SAÚDE COMUNITÁRIA.
Pôster Eletrônico
1 FACULDADE SÃO LEOPOLDO MANDIC
Período de Realização
Fevereiro a maio de 2024, nas comunidades quilombolas de África e Laranjituba, município de Moju-PA.
Objeto da experiência
Vivência etnográfica para à compreensão saberes tradicionais, ancestralidade, alimentação e cuidados em saúde em comunidades quilombolas amazônicas.
Objetivos
Compreender, a partir da etnografia cultural, como os hábitos de vida e alimentares se articulam com os modos de cuidado e resistência das comunidades quilombolas de Moju-PA, subsidiando políticas públicas em saúde que respeitem os saberes locais e as especificidades territoriais.
Descrição da experiência
Inspirada na perspectiva de Geertz (1973), que concebe a cultura como um “texto” a ser interpretado, a experiência etnográfica consistiu em mergulhar nas rotinas cotidianas das comunidades quilombolas, observando e participando de práticas alimentares, cuidados em saúde, relações sociais e expressões simbólicas do viver quilombola. A observação participante e os diálogos com a comunidade revelaram os valores da ancestralidade e os processos de saúde-doença-cuidado na comunidade.
Resultados
A saúde é percebida como um bem coletivo, marcada por iniquidades e racismo estrutural, o que reforça a necessidade de políticas baseadas na equidade. Os hábitos alimentares do açaí, peixe, farinha e frutas nativas vem sendo progressivamente substituída por alimentos industrializados, efeito da vulnerabilidade socioeconômica e da perda da soberania alimentar. Essa transição é interpretada aqui como um processo de medicalização e colonização alimentar (Canesqui & Garcia, 2021).
Aprendizado e análise crítica
A etnografia revelou que a cultura do bem viver quilombola é um modo de vida que vai além do território, identidade e memórias. A teoria da determinação social do processo saúde-doença-cuidado (Breilh, 2006) foi essencial para compreender como as condições estruturais de vida (terra, renda, trabalho) impactam diretamente na alimentação e saúde dessas populações. A imposição de modelos biomédicos reforçam o epistemicídio dos saberes quilombolas de acordo com Langdon (2019).
Conclusões e/ou Recomendações
É necessário reconhecer as comunidades quilombolas como sujeitos coletivos de direito. A PNSIPN e a proposta da Política Nacional de Saúde Quilombola em construção devem ser efetivadas em metodologias participativas e diálogo intercultural. A atuação do SUS precisa incorporar a dimensão simbólica do cuidado e promover a soberania alimentar, o direito ao território e a inclusão dos saberes ancestrais como forma legítima de produzir saúde.
APOIO ESTRATÉGICO COMO METODOLOGIA PARA O ENFRENTAMENTO DOS RACISMOS NA SAÚDE: REFLEXÕES A PARTIR DE PRÁTICAS NA REGIÃO CENTRO-OESTE
Pôster Eletrônico
1 Fundação Oswaldo Cruz/Ministério da Saúde - DF
2 Fundação Oswaldo Cruz/Ministério da Saúde
3 Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, Coordenadora de Promoção da Igualdade Racial dos Povos e Comunidades Tradicionais em Saúde.
4 Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, Gerente de Atenção às Populações Específicas.
5 Ministério Público do Estado de Goiás, Centro de Apoio Operacional Direitos Humanos.
6 Fundação Oswaldo Cruz - RJ
7 Superintendência do Ministério da Saúde em Mato Grosso
Período de Realização
Novembro de 2024 a Junho de 2025
Objeto da experiência
Visitas técnicas na região centro Oeste para fomentar a inserção das ações da PNSIPN nos Planos municipais e Distrital de Saúde
Objetivos
Contribuir com ações da gestão para fortalecimento da governança no exercício de políticas públicas no âmbito da gestão tripartite, foco nas ações de consolidação da PNSIPN, promovendo uma abordagem estratégica no enfrentamento dos racismos na saúde.
Descrição da experiência
Ações realizadas buscaram fomentar os diálogos nas Áreas Técnicas, respeitando a realidade e a singularidade locais. Com base no apoio institucional com escuta qualificada das gestões locais, foi possível realizar visitas técnicas, mapeamentos, oficinas, identificar lacunas, potencialidades, fragilidades e estratégias para avançar na implementação da PNSIPN, para contribuir com a elaboração dos Planos Operativos.
Resultados
Possibilitou verificar a importância das ações do AE para o fortalecimento da gestão em ambas as unidades federativas envolvidas; Contribuição nos Planos Operativos; Ampliação do diálogo intersetorial com outras políticas públicas do SUS; sensibilização e capacitação de gestores e profissionais de saúde para o enfrentamento dos racismos; Maior visibilidade das ações de saúde voltadas à população negra no planejamento das secretarias de saúde; Inserção das ações da PNSIPN nos Planos de Saúde.
Aprendizado e análise crítica
A experiência evidencia que o AE, ao valorizar a escuta ativa, a articulação interinstitucional e as especificidades territoriais, se alinha aos princípios da Saúde Coletiva, como participação social, integralidade e equidade. Contudo, desafios como fragilidade institucional, rotatividade e baixa priorização orçamentária seguem como barreiras estruturais.
Conclusões e/ou Recomendações
Importante continuar as ações do AE em articulação com a gestão, a partir de uma metodologia que fortaleça a governança da saúde para garantia das ações da PNSIPN nos planos municipal e Distrital de saúde em 2025; incentivar o financiamento específico para a implementação dos Planos Operativos; formação sobre racismos no SUS.
A PERCEPÇÃO DE PESSOAS NEGRAS SOBRE O BLACKWASHING EMPREGADO PELAS TRANSNACIONAIS DE ALIMENTOS ULTRAPROCESSADOS, BEBIDAS ALCOÓLICAS E TABACO NO BRASIL
Pôster Eletrônico
1 Universidade Federal Fluminense; ACT Promoção da Saúde
2 Universidade Federal Fluminense
3 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
4 ACT Promoção da Saúde
5 Justiça Global
Período de Realização
A experiência foi realizada em junho de 2023.
Objeto da experiência
Entendimento coletivo sobre ações de blackwashing desempenhadas pelas transnacionais de produtos nocivos à saúde pela perspectiva de pessoas negras.
Objetivos
Compreender como especialistas em saúde, líderes comunitários e representantes da sociedade civil que atuam com justiça racial e saúde enxergam o fenômeno de blackwashing adotado por parte de fabricantes de ultraprocessados, álcool e tabaco, tendo a saúde da população negra como referencial.
Descrição da experiência
Estudo feito com base em documentos de onze transnacionais de produtos nocivos à saúde e no mapeamento de publicidade com pessoas negras, foi debatido em uma oficina com vinte pessoas – especialistas, líderes comunitários e representantes da sociedade civil. Foram abordadas as inquietações que surgem a partir dos pontos identificados, quais são prós e contras de ter pessoas negras em peças publicitárias de produtos nocivos à saúde e como evitar a cooptação da pauta.
Resultados
Segundo os participantes, as transnacionais utilizam a representatividade vazia para ensaiar um discurso antirracista, sem posicionar pessoas negras enquanto protagonistas e tampouco abordar o tema da branquitude, fazendo com que as ações sejam insuficientes para alterar a estrutura que sustenta a realidade desigual. Também surge a preocupação com a publicidade direcionada para pessoas negras, a reprodução de estereótipos, e o controle e esvaziamento do antirracismo pelas corporações.
Aprendizado e análise crítica
A presença de pessoas de diferentes áreas e realidades foi enriquecedor e estimulou o debate sobre o papel da sociedade civil, que deve repensar a comunicação para enfrentar a cooptação de conceitos pelo mercado, e aproximar a discussão regulatória à realidade de pessoas negras. Os apontamentos também tangenciam o fortalecimento das leis trabalhistas e de acesso à educação e lazer, bem como o letramento de profissionais da saúde como forma de proteger a população negra de ações de blackwashing.
Conclusões e/ou Recomendações
Trazer pessoas negras para o centro do debate é crucial para vislumbrar mudança efetiva da realidade. Deve-se levar em consideração a realidade deste grupo para pautar medidas regulatórias para produtos nocivos à saúde, bem como estratégias de mitigação dos efeitos das ações corporativas. O enfrentamento também perpassa pelo olhar do racismo enquanto estrutura que exige ação coordenada da sociedade civil, governos e movimentos sociais.
OFICINA DE REFLEXÃO PERMANENTE: ESPAÇO PARA REFLEXÃO DE RESIDENTES SOBRE A SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA
Pôster Eletrônico
1 ENSP/FIOCRUZ
Período de Realização
Junho de 2025
Objeto da experiência
Oficina da Reflexão Permanente em um Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família sobre o tema Saúde da População Negra
Objetivos
Fortalecer a formação profissional através da reflexão sobre os impactos do racismo na saúde pública, instrumentalizando os residentes para identificar desigualdades e desenvolver práticas equitativas em seus territórios, promovendo a conscientização sobre os desafios específicos da população negra no SUS.
Descrição da experiência
Iniciamos no Largo da Prainha com o Circuito Herança Africana - IPN, percorrendo a pé locais históricos como a Praça dos Estivadores, Pedra do Sal e Cais do Valongo, refletindo sobre resistência. Finalizamos no Museu dos Pretos Novos. À tarde, no MUHCAB, visitamos a exposição e debatemos "Saúde da População Negra no SUS" com quatro profissionais, que compartilharam desafios e estratégias de superação. Encerramos o dia com a Árvore de Problemas, discutindo realidades locais dos territórios das unidades.
Resultados
A experiência ampliou a consciência dos residentes sobre a profunda influência africana na nossa cidade, desconstruindo um apagamento histórico. Muitos relacionaram os conteúdos abordados e suas vivências, reconhecendo os atravessamentos do racismo nos territórios que atuam. O circuito histórico e o debate sobre saúde da população negra no SUS estimularam reflexões críticas sobre desigualdades estruturais e estratégias de enfrentamento, fortalecendo o compromisso com práticas mais equitativas no SUS.
Aprendizado e análise crítica
A oficina revelou a força da construção coletiva entre os residentes. Enquanto a formação tradicional fragmenta as questões raciais, a prática mostrou o racismo estrutural na saúde - desde o acesso ao cuidado. A crítica aponta para além dos eventos pontuais: é preciso institucionalizar essas reflexões através de mudanças curriculares, formação docente e práticas antirracistas cotidianas nos serviços de saúde.
Conclusões e/ou Recomendações
A experiência integrou história, território e saúde pública. Conectando o passado com presente, fortalecemos as práticas antirracistas na saúde. Os relatos demonstraram a conscientização sobre os territórios e as relações de cuidado. O circuito e o debate criaram bases para transformações nas unidades de saúde, onde os profissionais agora atuam com maior consciência dos determinantes sociais que impactam a saúde da população negra.
ESTRATÉGIA ANTIRRACISTA PARA A SAÚDE: POR UM SUS DEMOCRÁTICO, INCLUSIVO E EQUÂNIME
Pôster Eletrônico
1 ISC/UFBA e Ministério da Saúde
2 UNB e Ministério da Saúde
3 Ministério da Saúde
4 Instituto Adolfo Lutz
Período de Realização
Agosto de 2024 a fevereiro de 2025
Objeto da experiência
Plano de Ação da Estratégia Antirracista para Saúde no âmbito do Ministério da Saúde (MS)
Objetivos
Analisar a implementação da portaria 2.198 de 06 de dezembro de 2023 que institui a Estratégia Antirracista para a Saúde no âmbito do Ministério da Saúde
Descrição da experiência
A Estratégia Antirracista para a Saúde do MS possui princípios e diretrizes que tem como objetivo contribuir para a eliminação das desigualdades étnico-raciais na saúde. A portaria determina a formulação de um Plano de Ação que deve servir de instrumento para a implementação de políticas de equidade. As propostas foram organizadas a partir de três eixos: 1) Institucionalização; 2) Ações afirmativas; e 3) Articulação, monitoramento e avaliação das ações, políticas e serviços de saúde no MS.
Resultados
Os principais avanços decorrentes das ações do plano foram: 1) Lançamento do Programa de Ações Afirmativas do MS (Portaria GM/MS nº 5.801/2024); 2) Relatório diagnóstico dos sistemas de informação do MS para padronização dos critérios dos campos raça/cor; 3) 2º Boletim Étnico-Racial de Trabalhadores do MS; 4) Atualização do PCDT para o tratamento da Doença Falciforme; 5) Lançamento do GT de Saúde Quilombola (Portaria GM/MS nº 5.794/2024); 6) Lançamento do AFIRMASUS (Portaria GM/MS nº 5.803/24).
Aprendizado e análise crítica
O Plano de Ação da Estratégia Antirracista é uma iniciativa que fortalece o combate ao racismo no SUS. Em 6 meses de sua implementação as ações realizadas contribuíram para o incentivo a diversidade étnico-racial entre os colaboradores do MS; para a produção e monitoramento de indicadores raciais nas ações de saúde; qualificação da formação de profissionais de saúde e garantia da permanência de estudantes cotistas; e fortalecimento de iniciativas de ampliação da cobertura de serviços de saúde.
Conclusões e/ou Recomendações
As disparidades entre brancos e os demais grupos étnico-raciais aos serviços de saúde exigem ações por meio de políticas de equidade que garantam a melhora no acesso e na qualidade dos serviços de saúde para as populações historicamente marginalizadas. Um novo Plano de Ação está em vigor para 2025 afim de consolidar as conquistas já alcançadas e produzir entregas que promovam o antirracismo, garantindo a todos o acesso à saúde de qualidade.
LIGA ACADÊMICA DE SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA (LASNEGRA) COMO PRÁTICA DECOLONIAL E ANTIRRACISTA NA UNIVERSIDADE
Pôster Eletrônico
1 Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EERP-USP).
2 Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EERP/USP)
3 Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo (FFCLRP-USP)
4 Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP-USP)
5 Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo (EERP-USP).
Período de Realização
De 2020 até o presente momento, com atividades contínuas de ensino, pesquisa e extensão.
Objeto da experiência
Criação e consolidação da Liga Acadêmica de Saúde da População Negra (LASNEGRA) como espaço antirracista na universidade.
Objetivos
Fomentar debates sobre saúde da população negra; enfrentar o racismo institucional; acolher estudantes negros; promover ações interdisciplinares de ensino, pesquisa e extensão comprometidas com a equidade e a decolonização do saber acadêmico.
Descrição da experiência
A LASNEGRA surgiu a partir da mobilização de estudantes negras e negros da EERP/USP diante da escassez de espaços que abordassem a saúde da população negra. A liga foi concebida como uma organização interdisciplinar, vinculada à universidade, mas com autonomia e abertura à sociedade civil. Sua constituição refletiu o esforço coletivo de docentes, discentes e profissionais em consolidar um espaço acadêmico de resistência e de construção de saberes afrocentrados na saúde.
Resultados
A criação da LASNEGRA fortaleceu o protagonismo negro na universidade, promovendo ações formativas, rodas de conversa, projetos de extensão, eventos científicos e extencionistas. Contribuiu para a sensibilização de docentes e estudantes sobre o racismo como determinante social da saúde. Além disso, estabeleceu redes com movimentos sociais e outras entidades acadêmicas, ampliando o alcance das discussões sobre equidade racial no SUS e na formação em saúde.
Aprendizado e análise crítica
A construção da LASNEGRA evidenciou que o enfrentamento ao racismo institucional exige não apenas políticas públicas, mas espaços contínuos de produção de saber crítico e situado. O acolhimento de estudantes negros e o fortalecimento identitário foram pilares para resistir às violências simbólicas e epistemológicas do ambiente acadêmico, revelando a importância de coletivos para romper o silenciamento e promover a decolonização do conhecimento.
Conclusões e/ou Recomendações
A experiência da LASNEGRA aponta que ligas acadêmicas comprometidas com a justiça racial são fundamentais para a transformação da universidade e da formação profissional em saúde. Recomenda-se o apoio institucional à criação e permanência desses espaços, o incentivo à produção científica antirracista, o fortalecimento de redes interdisciplinares e atividades de extensão à comunidade comprometidas com a equidade racial e a saúde da população negra.
APOIO ESTRATÉGICO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA NA REGIÃO CENTRO-OESTE: DESAFIOS E POTÊNCIAS
Pôster Eletrônico
1 Fundação Oswaldo Cruz/Ministério da Saúde - DF
2 Superintendência Estadual do Ministério da Saúde de Mato Grosso
Período de Realização
Novembro de 2024 a junho de 2025
Objeto da experiência
Articulações interstaduais e municipais na região Centro-Oeste para implementação da PNSIPN nos territórios,por meio de reuniões técnicas presenciais
Objetivos
Apoiar técnicamente e politicamente a gestão no exercício das ações de saúde no âmbito interfederativa com ênfase na implementação e ou implantação da PNSIPN para contribuir com a redução das iniquidades raciais no SUS.
Descrição da experiência
O apoio estratégico é baseado no conceito metodológico que busca reformular os mecanismos de gestão.Desse modo foi realizado análise do território,através dos instrumentos de gestão,escuta qualificada,articulações locais e visitas técnicas para contribuir com a inserção das ações PNSIPN nos planos municipais de saúde.
Resultados
O apoio estratégico evidencia a potência de sua metodologia como ferramenta qualificada para o desenvolvimento dos processos de trabalho nas gestões locais.Mostrou-se essencial para implementação da PNSIPN para a sensibilização dos gestores e profissionais na redução de iniquidades raciais no SUS.
Aprendizado e análise crítica
A experiência demonstrou que o Apoio Estratégico fundamentada na análise situacional de saúde e no conhecimento aprofundado do território é essencial para qualificar ações e fortalecer dialógo com a gestão.Esse processo favorece a identificação de fragilidades institucionais,como rotatividade de equipes,desconhecimento da PNSIPN e do perfil populacional de seu território.
Conclusões e/ou Recomendações
É fundamental prosseguir com o processo de apoio estratégico na região Centro Oeste;Dar visibilidade as ações potentes de cada território;sensibilizar os gestores e profissionais de saúde para conhecimento da PNSIPN;formação para enfrentamento dos racismos no SUS.
NINAR NOS TERREIROS: INTEGRAÇÃO SAÚDE, CULTURA E COMUNIDADE NA SEMANA DO BEBÊ DO DISTRITO SANITÁRIO II, RECIFE 2024
Pôster Eletrônico
1 ESR/SESAU Recife
2 IAM/ Fiocruz Pernambuco
3 UPE
4 Prefeitura do Recife
Período de Realização
Ação realizada em 26 de abril de 2024, no turno da manhã.
Objeto da experiência
Ação da Semana do Bebê no Terreiro Mãe Amara, localizado no território do Distrito Sanitário II - Recife.
Objetivos
Descrever a experiência do Distrito Sanitário II com o Projeto “Ninar nos Terreiros”, destacando a integração de atividades culturais e de saúde, o fortalecimento de vínculos no território, a prevenção/promoção da saúde, o enfrentamento ao racismo infantil e a valorização da cultura afro-brasileira.
Descrição da experiência
A ação focou no cuidado integral infantil. Com integração distrital e municipal, os profissionais ofereceram momentos lúdicos e educativos, com contação de histórias que resgatam ancestralidade e cultura local, e, simultaneamente, realizou-se multivacinação e orientações sobre saúde bucal. A iniciativa buscou romper barreiras de acesso, promovendo cuidado sensível às especificidades culturais, valorizando o terreiro como espaço de saber e saúde.
Resultados
Participaram 85 comunitários, entre crianças e responsáveis, além de profissionais de saúde e da Creche Escola João Amazonas. A multivacinação resultou na atualização do calendário vacinal, fortalecendo a proteção imunológica, e as orientações sobre saúde bucal e as atividades lúdicas e educativas foram bem recebidas. Reconhecer os terreiros como ambientes promotores de saúde e estender esse conhecimento e cuidado às crianças contribui para desconstrução de preconceitos desde a infância.
Aprendizado e análise crítica
A atividade no Terreiro Mãe Amara representa um passo importante para a promoção da equidade em saúde, fortalecendo o vínculo entre a comunidade e os profissionais/unidades de saúde, promovendo inclusão e valorização. Demonstrou a relevância de parcerias intersetoriais para ampliar o acesso e combater o racismo estrutural, institucional e infantil. "Ninar nos Terreiros" reafirma a importância de incluir e valorizar a população de terreiros no SUS, respeitando os saberes e práticas ancestrais.
Conclusões e/ou Recomendações
A experiência evidencia a importância de ações articuladas com foco no cuidado integral, especialmente as que valorizam espaços comunitários e manifestações culturais. Reconhecer o valor do terreiro e fortalecer o vínculo saúde cultura é essencial para promoção da saúde e enfrentamento de iniquidades. Além de exemplificar como a aproximação com os territórios e saberes locais não só facilita o acesso, mas também empodera as comunidades.
TERRITÓRIO, RESISTÊNCIA E SAÚDE: VIVÊNCIA ACADÊMICA NO QUILOMBO CONCEIÇÃO DE SALINAS
Pôster Eletrônico
1 UFRB
2
Período de Realização
Realização em 18 de dezembro de 2024, no laboratório do Centro de Ciências da Saúde da UFRB.
Objeto da experiência
Vivência acadêmica no Quilombo Conceição de Salinas, situado no Recôncavo da Bahia.
Objetivos
Relatar a vivência acadêmica no Quilombo Conceição de Salinas, promovendo diálogo entre discentes e membros da comunidade, para compreender as dinâmicas de saúde local e a perspectiva da população sobre o processo saúde-doença.
Descrição da experiência
A vivência realizada em 05 de julho de 2024 pela turma da disciplina Vivências Interprofissionais em Saúde, sob orientação da docente Chirlene Oliveira de Jesus Pereira, envolveu observação participante, escuta qualificada e diálogo com moradores da comunidade. Destacou-se a interação com a família Sacramento, referência política, cultural e econômica local, proporcionando uma compreensão ampliada das dinâmicas sociais e das necessidades em saúde do território.
Resultados
A vivência revelou a realidade das comunidades tradicionais e a necessidade de abordagem ampliada da saúde. O contato com a família Sacramento permitiu imersão crítica em determinantes sociais, racismo estrutural, iniquidades no acesso e o valor dos saberes tradicionais ligados à pesca, agricultura, artesanato e preservação da cultura, ancestralidade e redes comunitárias.
Aprendizado e análise crítica
A vivência destacou a importância de reconhecer saberes ancestrais na saúde quilombola, reforçando que saúde é mais que ausência de doença, é preservação cultural e territorial. Evidenciou-se a urgência de políticas inclusivas e práticas acadêmicas sensíveis, críticas e comprometidas com a equidade para fortalecer a saúde integral dessas populações.
Conclusões e/ou Recomendações
A experiência reforça a necessidade de articulação entre universidade, comunidades quilombolas e políticas públicas que garantam saúde, terra e cultura. Para a formação em saúde, é essencial desenvolver práticas inclusivas e voltadas à equidade, promovendo transformação social e respeito às especificidades das comunidades quilombolas.
DISCUSSÕES SOBRE DESIGUALDADES RACIAIS, TABAGISMO E SEUS IMPACTOS NA SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA
Pôster Eletrônico
1 ACT Promoção da Saúde
2 INCA
Período de Realização
14 de novembro de 2024, das 9h às 13h.
Objeto da experiência
Evento "Racismo como Determinante Social da Saúde: Impactos do Tabagismo na Saúde da População Negra", realizado nos formatos presencial e online.
Objetivos
Dialogar sobre tabagismo e iniquidades em saúde, entendendo o racismo como um determinante social da saúde da população negra; fomentar debates estratégicos para promover ações integradas e inclusivas de saúde pública, com foco na equidade e no enfretamento das desigualdades.
Descrição da experiência
O evento, que teve a duração de 4 horas, foi realizado pelo Instituto Nacional do Câncer - INCA e a ACT Promoção da Saúde. Reuniu profissionais de saúde e atores estratégicos para as discussões propostas em duas mesas temáticas: “Racismo e Iniquidades em Saúde” e “Tabagismo e Saúde da População Negra”, que abordaram desde políticas públicas como a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra -PNSIPN, até a relação entre raça e o consumo do tabaco no Brasil.
Resultados
O evento contou com 127 participantes, entre profissionais de saúde, gestores, usuários do SUS, sociedade civil e governo. Consolida-se como um marco na inserção da pauta antirracista no Programa Nacional de Controle do Tabagismo, que possibilitou a articulação de diferentes atores para o reconhecimento dos impactos do racismo na saúde da população negra. Ele evidenciou o compromisso do INCA em incorporar a perspectiva étnico-racial em suas ações, com destaque para PNSIPN.
Aprendizado e análise crítica
O combate às iniquidades em saúde exige abordagens que reconheçam o racismo como determinante social da saúde e evidenciem que as políticas universais são insuficientes se desconsiderarem as especificidades territoriais, culturais e raciais que envolvem a população negra. O evento também revelou desafios na efetivação da PNSIPN, na formação dos profissionais de saúde para práticas antirracistas e a necessidade de transversalizar a equidade étnico-racial nas políticas de saúde.
Conclusões e/ou Recomendações
O enfrentamento ao tabagismo e outros fatores de adoecimento da população negra requer estratégias que contribuam para o fortalecimento de políticas de saúde equitativas e antirracistas. Recomenda-se o fortalecimento da formação permanente em saúde com foco na equidade étnico-racial e a ampliação de estudos e dados desagregados por raça/cor para subsidiar a formulação de políticas mais efetivas e justas.
EDUCAÇÃO PERMANENTE E SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA: A EXPERIÊNCIA DO KILOMBOSUL EM SÃO PAULO
Pôster Eletrônico
1 KilomboSul
Período de Realização
Os fóruns do KilomboSul ocorreram entre outubro de 2022 e abril de 2025
Objeto da experiência
O Fórum KilomboSul como espaço de concretização da educação permanente em saúde da população negra na rede municipal da zona sul de São Paulo
Objetivos
Descrever a potência de um espaço coletivo, protagonizado por trabalhadores do SUS e SUAS, na consolidação da educação permanente em saúde da população negra, reafirmando-a como estratégia de enfrentamento ao racismo institucional
Descrição da experiência
KilomboSul é um coletivo inter-racial e intersetorial que reuniu mensalmente trabalhadores implicados com a redução das iniquidades em saúde. Compreendendo o racismo como determinante social de saúde, os encontros iniciaram com o estudo da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) e, nos meses seguintes, passaram a incluir temas e autores que dialogam com à saúde da população negra no campo da sociologia, saúde coletiva, psicologia social, psicanálise e literatura brasileira
Resultados
Debates e oficinas abordaram racismo estrutural, institucional, científico e religioso; racismo como determinante social da saúde e seus efeitos na saúde mental; intersecção de raça e gênero; a importância do quesito raça/cor nos projetos terapêuticos; e a significância de práticas afrocentradas. O conteúdo foi replicado e resultou na criação de rodas de conversa e oficinas afroreferenciadas com equipes de diferentes serviços de saúde, e na participação do coletivo em outros fóruns e eventos da rede
Aprendizado e análise crítica
Ao reunir pessoas com diferentes formações e experiências, que atuam na linha de frente das políticas públicas, como em CAPS, Unidade de Acolhimento, Residência Terapêutica, UBS, CER, Equipe de Violência, o Fórum se tornou espaço de reconhecimento e efetivação da PNSIPN através da inclusão do racismo e saúde integral da população negra como pauta recorrente de educação permanente; e do reconhecimento e valorização dos saberes e práticas populares e científicos da população negra
Conclusões e/ou Recomendações
Por meio dos Fóruns, de um grupo de whatsapp e de grupos de formação em alguns serviços, o KilomboSul fortalece e impulsiona a produção de saberes e tecnologias voltadas à equidade racial e ao enfrentamento do racismo institucional e tem singularidade para consolidar-se como espaço de educação permanente na zona sul de São Paulo. Para isso, recomenda-se seu fortalecimento e reconhecimento institucional como prática estratégica no âmbito do SUS
EXPERIÊNCIA EM OFICINA SOBRE IMPORTÂNCIA DE PRÁTICAS DE CUIDADO ÀS MULHERES DE COMUNIDADES TRADICIONAIS NO RIO DE JANEIRO/RJ, E EM SENHOR DO BONFIM/BA
Pôster Eletrônico
1 UNEB
Período de Realização
A oficina foi realizada em duas edições: novembro de 2024 e maio de 2025.
Objeto da experiência
Oficina formativa do projeto Ébano para desenvolver estratégias de cuidado às mulheres de comunidades tradicionais com base em saberes tradicionais.
Objetivos
Elaborar estratégias de cuidado equânime voltadas para mulheres de comunidades tradicionais visando garantir o acesso à saúde de qualidade, a equidade frente às desigualdades, a integração do saber científico aos saberes tradicionais de saúde da comunidade e a manutenção da sua identidade cultural.
Descrição da experiência
A oficina tem início com uma nuvem de ideias que mostra o que os participantes entendem sobre “a saúde de mulheres de comunidades tradicionais”. Os oficineiros conduzem uma discussão a partir das ideias na nuvem, apresentando conceitos importantes e os objetivos. Os grupos de participantes elencam as especificidades e necessidades de saúde de uma comunidade tradicional que conhecem, esboçam um conjunto de ações visando os objetivos apresentados e compartilham suas elaborações com a turma.
Resultados
Os participantes mostraram um bom entendimento inicial sobre a temática, favorecendo seu engajamento na atividade e permitindo um ambiente de discussões transformadoras, relevantes para uma formação crítica, sensibilizada e humanizada em saúde. A maioria dos grupos elaborou ações de cuidado para comunidades tradicionais das quais faziam parte ou que conheciam a partir da prática profissional e/ou acadêmica: comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas e religiosas de matriz africana.
Aprendizado e análise crítica
A experiência evidenciou a importância das práticas de cuidado às mulheres de comunidades tradicionais pensadas a partir do encontro horizontal entre o saber científico e o saber tradicional, além da relevância dos PCT para a saúde ambiental. Os participantes na segunda oficina, realizada em Senhor do Bonfim, BA, contribuíram de forma muito mais crítica para as discussões, uma vez que muitos deles são acadêmicos e profissionais de saúde pertencentes a comunidades tradicionais.
Conclusões e/ou Recomendações
A oficina sensibilizou a comunidade acadêmica e profissionais atuantes sobre a saúde das mulheres de povos e comunidades tradicionais, ampliando seu olhar sobre a temática e aumentando seu repertório de estratégias para a transformação das realidades onde estiverem inseridos.
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS, COMUNIDADES QUILOMBOLAS E O ENFRETAMENTO A SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA FRENTE AS ENCHENTES DO RIO GRANDE DO SUL.
Pôster Eletrônico
1 PROFSAUDE/ UFRGS
2 UFRGS / RedeSSAN
3 RedeSSAN
Período de Realização
A ação foi desenvolvida no período de maio a setembro de 2024.
Objeto da experiência
Mapeamento das necessidades e apoio às comunidades quilombolas atingidas pelas enchentes no estado do Rio Grande do Sul
Objetivos
Realizar a identificação, mapeamento das necessidades e apoio às famílias e comunidades negras e/ou quilombolas atingidas pelas enchentes no estado do Rio Grande do Sul
Descrição da experiência
Ação realizada pela Rede de Mulheres Negras da Soberania e Segurança Alimentar (RedeSSAN), com apoio de estudantes do Curso de Saúde Coletiva e mestrandas do PPG Saúde Coletiva e PPG Saúde da Família (Profsaúde) da UFRGS. Foi realizado um levantamento das necessidades pós-enchentes com as lideranças das comunidades. Dada a magnitude da enchentes no estado, utilizou-se como critério de inclusão, quilombos localizadas em municípios decretados estado de calamidade pública.
Resultados
Doze comunidades foram incluídas, 9 lideranças retornaram o contato e destas 5 comunidades haviam sido atingidas abruptamente. Após o levantamento, elegeu-se 4 comunidades quilombolas nos município de Arroio do Meio, São Lourenço do Sul e Pelotas perfazendo total de aproximadamente 150 famílias. Adquiriu-se materiais para construção de estufas para hortas, galinheiros, aquisição de pintos, terneiros, árvores frutíferas, verduras, legumes e sementes para fomentar a produção e comercialização.
Aprendizado e análise crítica
Os movimentos sociais negros, foram essências para minimizar a fome na população negra gaúcha, organizando doações, abrigos, transporte, cuidados em saúde, encaminhamento para assistência social, acolhimento de animais, dentre tantas necessidades das pessoas desabrigadas, assim como para sua reestruturação e inclusão produtiva.
Conclusões e/ou Recomendações
Grande parte dos desastres ambientais atingem de forma especialmente brutal a população preta e pobre das cidades e isso tem nome: racismo ambiental. É o racismo ambiental que agrava as consequências sobre as pessoas racializadas. Sobre elas, as consequências das tragédias ambientais recaem desproporcionalmente.
POESIA VISUAL CORPO QUE FALA, ALMA QUE LUTA: NUANCES DA HISTÓRIA ESCRAVAGISTA, CORPOREIDADE, COMIDA E DIREITO À SAÚDE MENTAL DE MULHERES NEGRAS NO DISTRITO FEDERAL
Pôster Eletrônico
1 Fiocruz
2 UnB
Período de Realização
4 meses- fevereiro a Maio de 2025
Objeto da produção
Poesia visual narrada sobre as heranças das desigualdades que atravessam o cotidiano alimentar de mulheres negras vulneráveis no Distrito Federal
Objetivos
Transformar em poesia visual um poema sobre as vivências alimentares de mulheres negras com excesso de peso no DF, promovendo debates sobre desigualdades sociais, saúde mental e o repensar da assistência à mulher negra em contexto histórico pós-escravagista contemporânea
Descrição da produção
Pesquisadores do OBHA/Fiocruz Brasília observaram mulheres negras com excesso de peso em transportes públicos, lanchonetes e unidades de saúde, registrando elementos da história negra, comida, corporeidade e cotidiano para a produção de um poema. Após esta etapa, uma atriz negra participou de saídas de campo com a equipe para apoiar a narrativa cênica do poema. Por fim, uma poesia visual foi produzida, unindo imagens de mulheres em áreas de mobilidade pública e da atriz encenando o poema
Resultados
A poesia, inspirada na ancestralidade de mulheres negras do DF, revela lutas raciais de acesso a uma alimentação adequada no cotidiano e no modelo de acolhimento em saúde. O texto poético amplia a discussão para além do corpo biológico, visando melhorar a assistência à saúde de mulheres negras com excesso de peso. Em menos de 6 minutos, a performance da atriz transforma palavras em vozes e imagens potentes, criando um poema visual impactante para a discussão de vários segmentos da sociedade
Análise crítica da produção
A poesia trouxe elementos do debate crítico sobre comida num contexto de tempo e espaço social destas mulheres e também contribuiu para a agenda do acesso à saúde humanizada com justiça social para o acolhimento dessas mulheres num contexto para além do biológico e corpo avaliado em números na balança. A forma como a interpretação da poesia foi desenvolvida pela atriz aumentou a potência para para uma agenda formativa no SUS sobre os elementos étnico racial no consumo alimentar da mulher negra
Considerações finais
A partir desta produção, novos recursos de comunicação em saúde na formação de gestores públicos e profissionais de saúde podem ser incorporados para o debate da corporeidade da mulher negra. A equipe de pesquisadores do OBHA considerou que a poesia visual possibilitou um debate mais problematizador sobre o conceito de saúde no cotidiano destas mulheres e o repensar em modelos de assistência à saúde de mulheres com excesso de peso no SUS
PARTICIPAÇÃO DE AGRICULTORES QUILOMBOLAS NO PNAE: DESENVOLVIMENTO DE CARTILHA INFORMATIVA ORIENTADORA
Pôster Eletrônico
1 UFG
Período de Realização
De outubro de 2024 a março de 2025
Objeto da produção
Elaboração de cartilha para orientar agricultores quilombolas sobre o acesso ao PNAE e superar barreiras enfrentadas por essas comunidades.
Objetivos
Apresentar uma cartilha informativa voltada a agricultores familiares quilombolas, com orientações claras sobre os procedimentos para participação no PNAE. Busca-se reduzir obstáculos ao acesso e fortalecer a inserção desses sujeitos nas políticas públicas de alimentação escolar.
Descrição da produção
A produção adotou abordagem qualitativa e participativa, com revisão de literatura e análise normativa do PNAE. Realizaram-se encontros com nutricionistas e membros do CECANE/UFG para validação técnica. A cartilha foi organizada em etapas, com linguagem acessível e enfoque prático, abordando desde a documentação necessária até o processo de entrega. O material busca promover inclusão socioprodutiva e fortalecer o protagonismo dos agricultores quilombolas no contexto da alimentação escolar.
Resultados
Ainda em fase de implementação, a cartilha apresenta elevado potencial de impacto, conforme evidências documentais e relatos institucionais. Espera-se maior compreensão dos trâmites burocráticos, redução de reprovações por falhas documentais e ampliação da participação qualificada de agricultores quilombolas no PNAE. Os efeitos esperados incluem fortalecimento da segurança alimentar, ampliação do escoamento da produção e geração de renda local.
Análise crítica e impactos da produção
A cartilha se configura como uma ferramenta estratégica de inclusão socioprodutiva, ao traduzir dispositivos legais em linguagem compreensível e culturalmente adequada. Sua construção coletiva reforça os saberes tradicionais e contribui para a autonomia de comunidades quilombolas, com ênfase na valorização do trabalho de mulheres negras. A produção favorece o fortalecimento do mercado institucional, reduzindo desigualdades estruturais e contribuindo com os princípios de equidade do PNAE.
Considerações finais
A cartilha é um instrumento técnico-pedagógico importante para ampliar o acesso de agricultores quilombolas ao PNAE. Ao oferecer informações claras e contextualizadas, ajuda a reduzir barreiras formais e operacionais. Sua adoção pode fortalecer redes produtivas locais, ampliar a inclusão no mercado institucional e melhorar a segurança alimentar, se associada a ações de formação e articulação.
OFICINA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE INTEGRAL DA POPULAÇÃO NEGRA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Pôster Eletrônico
1 FIOCRUZ
Período de Realização
2025.2
Objeto da produção
Institucionalização dos processos de monitoramento e avaliação no sistema de saúde, com ênfase nas ações para a melhoria da saúde da população negra.
Objetivos
Elaborar duas oficinas sobre M&A da PNSIPN a fim de qualificar profissionais, gestores e representantes da sociedade civil, por meio da prática pedagógica reflexiva que ofereça aos interessados vivências e experiências potencializadoras.
Descrição da produção
Como estratégia para qualificar o M&A da PNSIPN, oficinas com cargas horárias de 8h e de 16h foram elaboradas para atender às necessidades específicas das pessoas que atuam com a PNSIPN. O conteúdo abordado considera: situação problema e intervenção, objetivos e efeitos esperados da intervenção, componentes estruturais da intervenção, modelo lógico da intervenção, painel de indicadores da PNSIPN, contexto da intervenção e identificação dos potenciais interessados e usos do M&A.
Resultados
A oficina oferece um conjunto de ferramentas que auxiliem na gestão da PNSIPN, a partir da compreensão da importância dela para a população, tendo em vista o racismo enquanto determinante social de saúde. Através da apresentação dos recursos descritos, procura demonstrar a importância de um acompanhamento qualificado, ético e comprometido com a equidade no SUS.
Análise crítica e impactos da produção
A elaboração das oficinas busca oportunizar aos interessados um conjunto de ferramentas que auxiliem no M&A da PNSIPN além de disseminar conhecimento sobre M&A da PNSIPN a fim de contribuir para qualificar a implementação da política pública.
Considerações finais
O inquérito aplicado no Brasil demonstrou a real necessidade de qualificação de pessoas diretamente ligadas à implementação da PNSIPN no país. A oficina possibilita a instrumentalização necessária para o real avanço da política no território e uma efetiva promoção de saúde equitativa junto à população negra.
O IMPACTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE SAÚDE INTEGRAL DA POPULAÇÃO NEGRA E QUILOMBOLA NOS DADOS ASSISTENCIAIS DAS PESSOAS COM DOENÇA FALCIFORME NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.
Pôster Eletrônico
1 SES/MG
Período de Realização
Anos 2023 e 2024, no monitoramento da Política Estadual de Saúde da População Negra e Quilombola.
Objeto da produção
Monitoramento do número de atendimentos de pessoas com doença falciforme do Plano Operativo da Política de Saúde da População Negra e Quilombola.
Objetivos
O indicador “Número de atendimentos de pessoas com doença falciforme”, do Eixo “Redes de Atenção à Saúde” visa qualificar o preenchimento dos campos relacionados a doença falciforme nas Unidades Básicas de Saúde para melhoria dos registros no Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica.
Descrição da produção
O indicador "número de atendimento de pessoas com doença falciforme” é calculado com base nos dados obtidos do Sistema de Informação em Saúde da Atenção Básica dos atendimentos individuais com filtro CID (D57), referente a transtornos falciformes, em comparação ao total de consultas realizadas pela Fundação Hemominas, de modo a observar a atenção prestada à pessoa com Doença Falciforme nos serviços assistenciais da Atenção Primária; e não somente na atenção ambulatorial especializada.
Resultados
Em 2023, alcançou-se 406 atendimentos referentes a transtornos falciformes, para uma meta de 374 atendimentos. Observa-se aumento significativo no número de atendimentos de 2022 para 2023 na maioria das macrorregiões de saúde, indicando elevação dos registros realizados; e da meta de 2000 atendimentos para 2024, alcançou-se o quantitativo de 3639 atendimentos de janeiro a dezembro de 2024.
Análise crítica e impactos da produção
A análise dos dados referentes aos atendimentos individuais para Transtornos Falciformes, registrados no Sistema de Informação em Saúde e do quantitativo de pessoas acompanhadas pela Hemominas revela um cenário assistencial complexo, sendo interpretada como um desafio no acesso aos serviços de saúde, seja pela falta de estrutura, desigualdades regionais ou mesmo pelo racismo institucional, apontando para a necessidade de revisão das estratégias adotadas e compromisso com a Política.
Considerações finais
O compromisso com a saúde da população negra e quilombola perpassa a atenção integral às pessoas com doença falciforme na rede de atenção à saúde; sendo essencial para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A implementação efetiva da Política e a superação dos desafios identificados contribuirão para a promoção da equidade em saúde e a superação das barreiras de acesso decorrentes do racismo, ainda mantidas na atualidade
SAÚDE DA POPULAÇÃO QUILOMBOLA E DIREITO À ATENÇÃO PRIMÁRIA: PERSPECTIVAS DO PROJETO DE FORTALECIMENTO DO COLETIVO JURÍDICO
Pôster Eletrônico
1 Ministério da Saúde
2 Universidade Federal do Pará (UFPA)
3 FESF-SUS
Período de Realização
Outubro de 2023.
Objeto da produção
Relatório técnico sobre diagnóstico da APS quilombola no projeto “Fortalecimento do Coletivo Jurídico” – CONAQ.
Objetivos
Levantar dados anonimizados do SISAB e do Censo IBGE sobre pessoas quilombolas por município, construir tabelas comparativas e elaborar documento que identifique discrepâncias entre população residente e cadastrada, subsidiando ações para qualificar o cadastro no SISAB.
Descrição da produção
Realizou-se levantamento em bases públicas do MS (SISAB, e-SUS APS e SCNES) e do IBGE (SIDRA/Censo 2022). Foram extraídos dados de 2021, considerando cadastros na APS com registro em “População Comunidade Tradicional: Quilombola”. Identificaram-se limitações decorrentes da ausência de microdados do Censo 2022 e de inconsistências no SISAB, mesmo após solicitação via Lei de Acesso à Informação (LAI).
Resultados
O Censo 2022 do IBGE registra 1.327.802 quilombolas em 1.696 municípios, majoritariamente no Nordeste e Norte. O número de pessoas quilombolas cadastrados no SISAB 2021 é inferior ao do Censo, com discrepâncias regionais, especialmente no estado da Bahia e na região Nordeste. Dados do SISAB 2022 não foram disponibilizados, apresentando lacunas e inconsistências, limitando análises municipais. A pesquisa utilizou dados estaduais para análise comparativa.
Análise crítica e impactos da produção
A precariedade do acesso à saúde em comunidades quilombolas é notória, justificando as demandas pela garantia do direito constitucional à saúde. O Censo 2022 representa avanço, porém limitações e subnotificações persistem. A baixa residência em territórios demarcados (cerca de 87%) dificulta o reconhecimento local e o atendimento adequado, sobretudo em regiões vulneráveis como a Amazônia, marcada por conflitos e precariedades estruturais que agravam a situação sanitária.
Considerações finais
Apesar dos avanços, os dados sobre quilombolas no âmbito do MS permanecem incipientes e frágeis, com elevado grau de subnotificação. As limitações no preenchimento dos sistemas, já evidentes na pandemia, persistem e comprometem o planejamento de políticas públicas. É urgente que o MS qualifique os registros, disponibilize dados desagregados por município e assegure a visibilidade dessa população.
INSTRUMENTOS DE GESTÃO COMO FERRAMENTA DE ENFRENTAMENTO AO RACISMO: ANÁLISE DA PNSIPN NO SUS DO RS
Pôster Eletrônico
1 Escola de Saúde de Porto Alegre
2 Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre
3 Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Apresentação/Introdução
A população negra, que representa 57% da população brasileira, é a principal vítima das desigualdades sociais na saúde, resultado de um histórico racismo estrutural. Em resposta, o SUS criou em 2009 a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN), que reconhece o racismo como fator determinante na saúde e propõe estratégias para seu enfrentamento.
Objetivos
Analisar a implementação da PNSIPN no RS visando identificar barreiras institucionais e práticas racistas na gestão, fortalecer ações antirracistas e contribuir para um SUS justo e reparador, por meio da análise dos instrumentos de gestão.
Metodologia
Estudo transversal quanti-qualitativo, em andamento, voltado à análise crítica da implementação da PNSIPN no RS por meio dos instrumentos de gestão. Serão analisadas as sete macrorregiões de saúde a partir dos Planos macrorregionais, o Business Intelligence da Secretaria Estadual de Saúde do RS (SES-RS) , Painel SAGE e Munic/IBGE. A etapa quantitativa abrangerá análise descritiva de indicadores socioepidemiológicos e de morbimortalidade por raça/cor; a qualitativa seguirá análise de conteúdo, buscando evidenciar a existência ou não de barreiras institucionais, práticas e ações antirracistas registradas nos instrumentos que abordam o planejamento, monitoramento e execução do SUS.
Resultados
Espera-se identificar se existem e quais são as barreiras institucionais para a implementação da PNSIPN nos instrumentos de gestão do planejamento no RS, bem como mapear boas práticas e ações antirracistas. A análise permitirá compreender o atual cenário da PNSIPN no RS e o grau de comprometimento das regiões com a equidade racial em saúde e oferecerá subsídios para o fortalecimento da política.
Conclusões/Considerações
Espera-se, com o presente estudo, contribuir para a compreensão do atual cenário da PNSIPN nas macrorregiões e regiões de saúde no RS, no que tange à equidade racial, oportunizando a transparência e o fortalecimento da política. Ademais, ratifica-se sua relevância na promoção de um SUS antirracista no enfrentamento do racismo estrutural com de práticas de gestão que promovam justiça e reparação histórica.
ENFRENTAMENTO DO RACISMO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO
Pôster Eletrônico
1 UERJ
2 UFRJ
Apresentação/Introdução
O Programa Bolsa Família (PBF) impacta na redução das desigualdades de renda e da insegurança alimentar e nutricional. Porém, existem críticas ao programa que reforçam o racismo institucional atingindo as famílias acompanhadas, principalmente as chefiadas por mulheres negras e pobres. Dar visibilidade às repercussões do racismo sobre o cuidado em saúde favorece o atendimento integral e igualitário.
Objetivos
Apresentar os resultados parciais da pesquisa “Enfrentamento do racismo no Sistema Único de Saúde: o cuidado em saúde de mulheres beneficiárias do PBF”.
Metodologia
O estudo tem abordagem de pesquisa-ação, alicerçado nos conceitos de racismo e interseccionalidade, desenvolvido em unidades de atenção primária da Secretária Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Sendo realizado em quatro etapas: 1) realização de pré-teste dos instrumentos e uso de metodologias ativas; 2) observação participante e aplicação do instrumento Percepções sobre Discriminação Racial Interpessoal nos Serviços de Saúde Brasileiros (Driss); 3) grupo focal e oficina com profissionais de saúde; 4) construção de um plano de ação de cuidado em saúde antirracista incluindo diferentes atores da unidade e do território. Atualmente a pesquisa está na segunda fase de execução.
Resultados
Na etapa de pré-teste foram realizados três potentes encontros de formação com profissionais de saúde, por meio das vivencias e reflexão sobre a prática e produção de cuidado em saúde antirracista. Na etapa atual de observação participante foram realizados 15 encontros em grupos de mulheres, majoritariamente negras, com ênfase em saúde mental, alimentação e memória, racismo e sexismo. Evidencia-se nas falas das participantes a violência emocional nos locais de trabalho e de gênero nos domicílios. O racismo institucional se expressa principalmente pela invisibilidade do sofrimento produzido pelo racismo em sua relação com as condições de saúde das pessoas.
Conclusões/Considerações
Os encontros de formação com profissionais de saúde na etapa pré-teste contribuíram para reforçar a compreensão do racismo como determinante das desigualdades de saúde, e as reflexões sobre a prática no cuidado do cotidiano do serviço. A observação participante nas unidades de saúde trouxe à tona a percepção das usuárias sobre questões recorrentes, que atravessam suas vidas como mulheres, negras e pobres e impactam suas necessidades de saúde.
EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA PREVENÇÃO DA LEISHMANIOSE VISCERAL NA COMUNIDADE QUILOMBOLA MENINO JESUS, PITIMANDEUA, PARÁ, BRASIL: UMA EXPERIÊNCIA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
Pôster Eletrônico
1 UEPA
2 UFPA
Período de Realização
Dezembro de 2023
Objeto da experiência
Prevenção da Leishmaniose Visceral (LV) em comunidade quilombola, no Estado do Pará, Brasil.
Objetivos
Relatar a experiência dos discentes em Saúde Coletiva da Universidade do Estado do Pará (UEPA) durante a realização do projeto de extensão intitulado de “Educação Única no contexto da Comunidade Quilombola Menino Jesus em Pitimandeua”, município de Inhangapi-Pa
Descrição da experiência
O projeto de extensão teve a participação de 30 estudantes do curso de Saúde Coletiva da UEPA e 3 docentes, além de 36 membros da comunidade quilombola, abordados aleatoriamente em suas residências. A atividade teve como foco a prevenção da LV na comunidade quilombola Menino Jesus em Pitimandeua. Foi utilizado folder educativo e realizado orientações individuais e coletivas sobre saúde e prevenção da doença.
Resultados
O projeto de extensão promoveu a educação em saúde de forma acessível e direta junto à comunidade quilombola Menino Jesus, contribuindo para o aumento da conscientização e prevenção da LV. Houve compartilhamento de conhecimento entre os participantes envolvidos no projeto e os moradores locais, com boa receptividade da população. A utilização de materiais didáticos facilitou a comunicação e o entendimento sobre o tema.
Aprendizado e análise crítica
Os discentes vivenciaram, na prática, os princípios da promoção da saúde e da educação em saúde em territórios vulneráveis. O projeto proporcionou uma compreensão mais ampla da importância do trabalho interdisciplinar e do respeito às especificidades culturais das comunidades quilombolas, fortalecendo a formação crítica e humanizada dos discentes em Saúde Coletiva no contexto da prevenção da LV na região amazônica.
Conclusões e/ou Recomendações
A experiência evidenciou a relevância do projeto de extensão como um instrumento de aproximação entre universidade e a sociedade, reforçando a importância da integração entre o curso Saúde Coletiva com a comunidade quilombola. Reitera-se, por fim, a necessidade de mais projetos de extensão de modo continuado, interdisciplinares e transdisciplinares, visando à profilaxia e contenção de doenças negligenciadas na Amazônia.
INATIVIDADE FÍSICA COMO FATOR ASSOCIADO A DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS EM IDOSOS DE COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO AMAPÁ: ESTUDO TRANSVERSAL
Pôster Eletrônico
1 Universidade Federal do Amapá
Apresentação/Introdução
O envelhecimento populacional é uma das principais pautas de saúde, especialmente devido à alta prevalência de Doenças Crônicas Não Transmissíveis. No entanto, pouco se sabe sobre a relação entre essas condições e a inatividade física entre populações quilombolas brasileiras, sobretudo na região amazônica.
Objetivos
Analisar a relação entre inatividade física e Doenças Crônicas Não Transmissíveis em idosos quilombolas do Amapá, com foco em hipertensão, diabetes, dislipidemias e obesidade.
Metodologia
Realizou-se estudo transversal quanti-qualitativo, em duas comunidades quilombolas do município de Macapá/AP, com amostra de 26 participantes com 60 anos ou mais, 20 residentes no Curiaú e 6, no São José do Matapi. As coletas se deram por meio de visitas domiciliares, em janeiro de 2025, durante as quais realizou-se entrevistas individuais. O estudo fez parte de um projeto guarda-chuva institucional, previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), sob o protocolo nº 84471424900000003.
Resultados
Das 26 pessoas idosas, 76,9% apresentaram ao menos uma DCNT, sendo a hipertensão a mais prevalente (69,2%), seguida de diabetes (19,2%) e dislipidemia (11,5%). Quanto à atividade física, 42,3% nunca praticaram, 30,7% praticavam e pararam, e 23,1% ainda praticavam. A maioria dos que relataram alguma prática (ou ausência dela) apresentava DCNT. Embora os dados não indiquem maior ocorrência de DCNT entre os inativos, destaca-se que hábitos laborais fisicamente intensos nas comunidades podem compensar a ausência de atividade física estruturada.
Conclusões/Considerações
O elevado índice de DCNT, especialmente hipertensão, em idosos quilombolas demanda atenção urgente. Embora poucos relatem atividade física formal, é necessário avaliar o papel da atividade física no trabalho diário dessas comunidades, que pode atuar como fator protetor e substituir a prática formal de exercícios para prevenir doenças.
IMPACTO DA DISFUNÇÃO HORMONAL E DA FRAGMENTAÇÃO DE DNA NOS PARÂMETROS DE FERTILIDADE EM HOMENS COM DOENÇA FALCIFORME
Pôster Eletrônico
1 UEFS
Apresentação/Introdução
A infertilidade em homens com Doença Falciforme (DF) é reconhecida mesmo na presença de parâmetros seminais normais, geralmente atribuída tanto à gravidade da doença quanto aos seus tratamentos.
Objetivos
Este estudo avaliou os parâmetros seminais padrão, o índice de fragmentação do DNA espermático (DFI) e os níveis hormonais desses pacientes. Adicionalmente, foram identificadas barreiras ao acesso à avaliação de fertilidade nesta população.
Metodologia
Foram incluídos 37 homens adultos com idade mediana de 38 anos (IQR: 29–44), acompanhados em um centro de referência em DF. Realizaram-se análise seminal segundo os critérios da OMS, avaliação do DFI por citometria de fluxo e dosagem de Testosterona (T), FSH, LH e hormônio antimülleriano (AMH). Dados sociodemográficos e clínicos foram obtidos por entrevistas estruturadas.
Resultados
Vinte e cinco pacientes (67,5%) completaram a análise seminal. Sessenta por cento estavam em uso de hidroxiureia. Os achados incluíram concentração mediana de espermatozoides de 23,4 milhões/mL, motilidade total de 40%, morfologia (Kruger) de 1% e DFI de 28%. Todos os participantes tinham T >300 ng/dL, mas 30% apresentaram LH ≥9,4 mUI/mL, sugerindo hipogonadismo compensado, associado a menor contagem total de espermatozoides móveis (TMSC) e maior DFI. Não houve associação significativa entre hidroxiureia e DFI ou TMSC.
Conclusões/Considerações
Primeiro estudo a relatar o DFI em homens com DF, apontando vulnerabilidade reprodutiva além dos parâmetros seminais convencionais. A fragmentação de DNA e a disfunção hormonal reforçam a necessidade de incorporar a saúde reprodutiva nas políticas para pessoas com doenças crônicas. Barreiras culturais e psicossociais limitaram o acesso à avaliação, revelando um desafio para serviços de saúde que buscam garantir cuidado integral a essa população.
CAMINHOS AMEFRICANOS: A ANCESTRALIDADE NA PROMOÇÃO E NO CUIDADO À SAÚDE DA MULHER AFROCOLOMBIANA
Pôster Eletrônico
1 SGTES/MS
Período de Realização
De 04 a 15 novembro de 2024
Objeto da experiência
O kilombo Yumma “Diosa de la Fortuna”, em Bogotá, e suas ações voltadas para Saúde da Mulher, a partir dos saberes ancestrais.
Objetivos
Analisar as estratégias dos Kilombos, como políticas públicas de saúde que ofertam ações de prevenção, promoção e cuidado em saúde para as comunidades negras e afrodescendentes, com enfoque na experiência do Yumma “Diosa de la Fortuna”, que desenvolve ações voltadas para a Saúde da Mulher
Descrição da experiência
Essa iniciativa se configura como uma política pública afirmativa em saúde, no território de Bogotá. Configura-se como uma reparação histórica, que busca fomentar e fortalecer a atenção em saúde, com o enfoque étnico, racial e intercultural. Ao longo do mês de novembro de 2024 foram observadas as atividades do Kilombo Yumma “Diosa de la Fortuna”, que desenvolve através dos saberes ancestrais, ações e atividades voltadas para a Saúde da Mulher.
Resultados
Adotando a interculturalidade, a valorização dos saberes ancestrais, a ressignificação das práticas medicinais, e as parteiras como grandes promotoras do cuidado e da vida, as ações do Kilombo Yumma “Diosa de la Fortuna” vão desde práticas educativas para produção de remédios com plantas medicinais, aos atendimentos as gestantes e puérperas, ao longo de todo ciclo gravídico puerperal. Sendo também um local de acolhimentos em casos de violência de gênero e suporte de direitos humanos.
Aprendizado e análise crítica
A relação de poder e dominação através da raça constituem um marco na sociedade moderna na América, que levou a legitimar a expropriação dos territórios expropriado, as categorizações dos seres humanos e suas condições de vida. O genocídio dos povos tradicionais e o sequestro da população negra, advinda do continente africanos pelos povos europeus, produziram desigualdades que permanecem nas estruturas das Américas, sobretudo no que tange ao pensar a saúde integral
Conclusões e/ou Recomendações
O reconhecimento das desigualdades de raça, etnia, gênero e classe que se interseccionam exigem respostas urgentes para mitigar os processos de iniquidades que afetam as populações vulnerabilizadas historicamente. Em Bogotá os Kilombos são os espaço de atenção à saúde, volta-se para as comunidades palanqueiras e tradicionais, consolidando-se no Resgate ancestral da memória e resistência e cuidado das comunidades negra e afrocolombiana.
CAMINHOS DE UMA MULHER NEGRA TRABALHADORA DO SUS NO ENFRENTAMENTO AO TABAGISMO: REFLEXÕES A PARTIR DA VIVÊNCIA NO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO TABAGISMO
Pôster Eletrônico
1 CAPN/DEPPROS/SAPS/Ministério da Saúde
Período de Realização
A experiência teve início em janeiro de 2025 e encontra-se em andamento.
Objeto da experiência
Vivência pessoal da autora, mulher negra e economista sanitarista, trabalhadora do Sistema Único de Saúde, ao longo do processo de largar o tabagismo
Objetivos
Abandonar o hábito do tabagismo; Implementar uma rotina saudável; Incorporar os ensinamentos adquiridos no grupo de tabagismo à rotina diária; Contribuir com uma perspectiva racializada sobre a relação com o cigarro, promover reflexões tanto pessoal quanto coletiva, por meio da identificação.
Descrição da experiência
Este relato de experiência apresenta a trajetória de uma mulher negra, profissional do Sistema Único de Saúde (SUS), no processo de abandono do tabagismo, por meio do Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT), oferecido por uma Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada no Distrito Federal. A abordagem adotada parte de uma perspectiva subjetiva e crítica, enfocando os desafios enfrentados pela pessoa fumante, com ênfase especial na experiência como mulher negra.
Resultados
Apesar do amplo reconhecimento dos danos à saúde ocasionados pelo tabaco e pela nicotina, o hábito de fumar envolve dimensões emocionais, culturais e sociais que, muitas vezes, não são devidamente compreendidas pelos profissionais de saúde nem adequadamente acolhidas nas práticas de cuidado oferecidas. Foi observada a ausência significativa da população negra no grupo de tabagismo, podendo refletir barreiras estruturais e raciais, como horários incompatíveis com as rotinas de trabalho.
Aprendizado e análise crítica
Evidência da relevância da escuta qualificada e do acolhimento empático por parte da equipe profissional, especialmente diante das recaídas, as quais são frequentes e esperadas nesse processo. Ademais, propicia uma reflexão crítica acerca do racismo estrutural que podem impactar o acesso e a permanência de pessoas negras nos grupos de tabagismo, a intersecção de raça no contexto do abandono do vício, que não é apenas linear e exige, acima de tudo, um cuidado que vá além do aspecto biológico.
Conclusões e/ou Recomendações
Este relato propõe a ampliação das estratégias de cuidado em saúde por meio de abordagens antirracistas, humanizadas e integradas, ressaltando que não se trata de qualquer apologia ao uso do tabaco, mas sim do reconhecimento das experiências vividas pelas pessoas fumantes e da sua relação com o cigarro, como elemento fundamental para a construção de políticas públicas eficazes no controle do tabagismo e que as intervenções sejam efetivas.
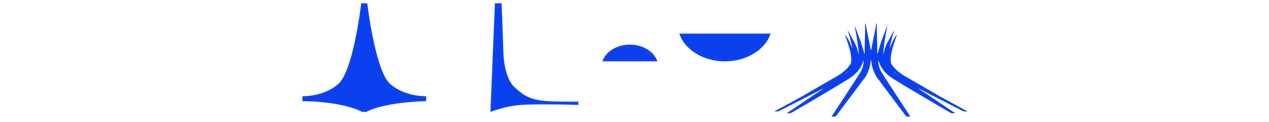
Realização:


Patrocínio:




Apoio:






