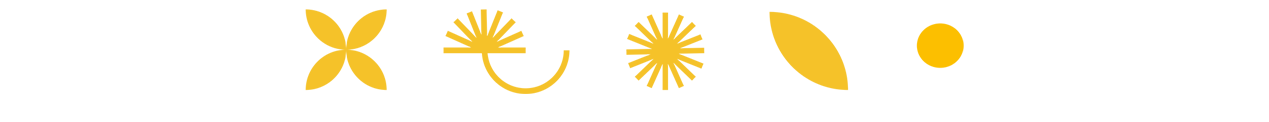
Programa - Pôster Eletrônico - PE31 - Saúde dos Povos Indígenas
PANORAMA DA VIOLÊNCIA INTERPESSOAL NOS DISTRITOS SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA INTERIOR SUL E LITORAL SUL: ANÁLISE DAS NOTIFICAÇÕES DO SIASI ENTRE 2015 E 2022
Pôster Eletrônico
1 UFPR
2 UFRGS
Apresentação/Introdução
Com a colonização da América Latina, os Povos Originários tiveram suas organizações sociais alteradas diante do genocídio e o etnocídio. Uma destas mudanças expressa-se na violência de gênero contra a mulher indígena. Como também, aquelas violações culminaram no desmonte do Bem-Viver indígena, o qual, atualmente, encontra-se em reconstrução pelos Povos Originários dos territórios latinos.
Objetivos
O objetivo deste trabalho foi levantar, descrever a analisar as notificações de violência interpessoal registradas nos Distrito Sanitário Especial Indígena Interior Sul (DSEI ISul) e Distrito Sanitário Especial Indígena Litoral Sul (DSEI LSul).
Metodologia
Este é um estudo qualitativo, ecológico, com base na série história de oito anos (2015 a 2022) dos registros de violência interpessoal do Sistema de Informações da Atenção à Saúde Indígena (SIASI). Os dados foram solicitados ao Ministério da Saúde a partir da Lei de Acesso à Informação (LAI), sendo disponibilizados pela Secretaria de Saúde Indígena (SESAI). Devido ao caráter sigiloso dos dados, foram disponibilizados os referentes ao sexo determinado ao nascimento, idade e a tipologia da violência conforme a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde em sua décima edição (CID-10). Os dados brutos foram tabelados através do Microsoft Excel.
Resultados
Ao longo dos anos analisados foram registradas 170 ocorrências de violência no DSEI ISul e 29 no DSEI LSul. Em ambos os DSEIs as principais vítimas foram crianças, jovens e mulheres indígenas, com faixa etária variando entre 10 e 34 anos. Neste recorte houve 125 das 170 notificações do DSEI LSul, sendo 94 contra mulheres, e 25 das 29 notificações do DSEI ISul, 19 contra mulheres. Foram identificados 14 tipos de violência. Destas, três destacam-se devido o total de notificações e a idade das vítimas: Violência Sexual (n=37), Força Corporal (n=38) e Meios não Especificados (n=84). Há, ainda, a baixa qualidade dos dados identificada quando comparados os registros de ambos os DSEIs.
Conclusões/Considerações
A prevalência das violências físicas e sexuais contra mulheres, crianças e jovens evidencia o desmonte do Bem-Viver e da organização social indígena por meio do patriarcado de alto impacto imposto desde a colonização. A subnotificação e fragilidade dos dados refletem desafios estruturais do enfrentamento à violência de gênero, acesso às Terras Indígenas e a urgência de políticas intersetoriais e interoperabilidade entre os Sistemas de Informação
UMA RECONSTRUÇÃO DA HISTÓRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE SANEAMENTO INDÍGENA NO BRASIL
Pôster Eletrônico
1 Instituto René Rachou - Fiocruz Minas
2 Universidade Federal de Minas Gerais
Apresentação/Introdução
A coordenação e execução das ações de saneamento em territórios indígenas compete, atualmente, à Secretaria de Saúde Indígena. Elas têm o potencial de contribuir para frear o contínuo processo de vulnerabilização dos povos indígenas no Brasil. A retomada da história da institucionalização que culmina na atual estrutura do saneamento indígena pode contribuir para a melhor tomada de decisão.
Objetivos
Apresentar o estado da arte do saneamento indígena no Brasil; Reconstruir a história da política de saneamento indígena no Brasil; Realizar revisão de escopo dos estudos relacionados ao saneamento em Terras Indígenas.
Metodologia
Revisão de literatura e documentações e realização entrevistas individuais, com servidores e técnicos considerados protagonistas das ações, bem como com lideranças indígenas, em especial, aquelas que compõem as instâncias de controle social. As entrevistas estão sendo gravadas e transcritas, e o material organizado e arquivado. Ademais, está sendo realizada revisão de escopo, estruturada de acordo com as recomendações do protocolo PRISMA (PRISMA-ScR). As buscas resultaram em 2.922 trabalhos e, após a leitura dos títulos e resumos, foram selecionados 119 artigos. Estes, por sua vez, foram lidos, revisados e categorizados. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética.
Resultados
O saneamento indígena foi muito influenciado pelos processos históricos do indigenismo, dos movimentos indígenas, do sanitarismo e da saúde indígena, bem como, pela forma como se deu a produção do espaço brasileiro. Sem negligenciar as diversas dimensões da história dos povos indígenas no Brasil e a institucionalização do indigenismo de Estado, no século XX, optou-se por dar maior enfoque nos eventos corridos a partir da Constituição de 1988, a partir da qual pode-se observar um processo progressivo de desenvolvimento institucional que culmina no que se apresenta hoje - ainda que com rupturas.
Conclusões/Considerações
O aprofundamento na apresentação da história do saneamento indígena somente pôde ser realizado em cooperação com as instituições competentes e as lideranças destes povos e, à medida que for gerando novos produtos, será reapresentada a eles para subsidiar o processo de formação contínua e tomada de decisão visando à promoção da saúde com qualidade de vida e dignidade. Contribuir-se-á para a elaboração do Programa Nacional de Saneamento Indígena.
DESAFIOS DO SANEAMENTO BÁSICO EM TERRITÓRIOS INDÍGENAS NO BRASIL: UM RETRATO DAS DESIGUALDADES
Pôster Eletrônico
1 IAM /FIOCRUZ
2 UPE
Apresentação/Introdução
A marginalização histórica dos povos indígenas contribui para a elevada mortalidade por causas preveníveis. Políticas públicas insuficientes, especialmente no saneamento básico, negligenciam valores culturais e especificidades territoriais, agravando o aumento da incidência de Doenças Relacionadas. Tal cenário evidencia o retardo no alcance dos ODS, desigualdades e desfechos desfavoráveis.
Objetivos
Analisar as desigualdades no acesso ao saneamento básico em territórios indígenas a partir de dados censitários.
Metodologia
Estudo ecológico e descritivo, baseado em dados secundários provenientes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e de manuais técnicos do Ministério da Saúde, com ênfase no Censo Demográfico de 2022 e na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua – divulgação anual). Foram analisados dados populacionais, distribuição geográfica e indicadores de acesso à rede de esgotamento sanitário e abastecimento de água.
Resultados
O Censo 2022 aponta que menos de 10% das áreas rurais possuem acesso à rede de esgoto e apenas 32% à rede de abastecimento de água. Apesar do Programa Nacional de Saneamento Rural (2019), persistem desigualdades estruturais, especialmente em territórios indígenas. Dos 1.694.836 indígenas no Brasil, 780.090 vivem em terras oficialmente reconhecidas. Em áreas rurais com presença indígena, só 4,16% dos domicílios têm esgoto e 12,35% acesso à água. O cenário expõe grave exclusão sanitária e maior vulnerabilidade epidemiológica dessas populações.
Conclusões/Considerações
Os dados revelam desigualdades graves no acesso ao saneamento básico, refletidas na saúde indígena. A falta de infraestrutura amplia riscos de doenças evitáveis. É urgente fortalecer políticas públicas que respeitem a diversidade sociocultural e garantam saneamento adequado, promovendo equidade em saúde e dignidade aos povos originários.
INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS E PERCEPÇÕES DE SAÚDE E ALIMENTAÇÃO EM RETOMADAS INDÍGENAS GUARANI E KAIOWÁ DO MATO GROSSO DO SUL
Pôster Eletrônico
1 UFGD
2 UFMS
3 Universidade de Lisboa
4 Pesquisadora independente
Apresentação/Introdução
O Mato Grosso do Sul abriga a terceira maior população indígena do Brasil sendo a maioria do povo Guarani (Ñandeva e Kaiowá). Historicamente sofreram esbulho territorial e foram compulsoriamente alojados em oito pequenas reservas demarcadas, sem espaço para roças ou fontes de água. As retomadas são movimentos de retorno a suas terras ancestrais e recuperação dos modos de vida e organização social.
Objetivos
O objetivo deste estudo foi avaliar, na perspectiva dos direitos humanos, a insegurança alimentar e nutricional e os fatores socioeconômicos, demográficos, de alimentação e saúde em retomadas indígenas Guarani e Kaiowá do Mato Grosso do Sul (MS).
Metodologia
Estudo transversal realizado em cinco áreas de retomadas Kaiowá e Guarani do Mato Grosso do Sul, com 480 famílias, sendo: Guaiviry (52), Kurusu Ambá (100), Ypo’i (98), Ñande Ru Marangatu (229) e Apyka’i (1). As coletas foram feitas em 2023 por indígenas que utilizaram aplicativo de celular com perguntas sobre condições socioeconômica, demográfica, água, alimentos, saúde e Insegurança Alimentar e Nutricional (InSAN) com uso da mais nova Escala Brasileira de InSAN Indígena (EBIA-Indígena) já validada. As análises foram realizadas pelo software SPSS e apresentadas em Frequência Absoluta e Relativa. Esta pesquisa foi financiada pela FIAN Brasil e foi aprovada pelo CONEP.
Resultados
A maioria dos chefes da família eram homens (50,2%) da etnia Guarani-Kaiowá (46,0%), renda familiar de meio a um salário mínimo (45,5%), beneficiários do Bolsa Família (65,4%) e com uma a três pessoas no domicílio (64,1%), incluindo menores de 16 anos (57,1%). A InSAN leve predominou em 49,1% das famílias, moderada em 20,7% e grave em 9,8%. O acesso a água em 47,8% era por caminhão pipa, seguido de 23,8% por água de rio. Do total, 94,0% recebiam cesta de alimentos. A roça foi referida por 60,6% das famílias e a saúde autorreferida foi avaliada como muito boa/boa por 78,8%. A melhora da saúde ao retomar o território ancestral foi relatada por 81,1% das famílias e da alimentação por 94,9%.
Conclusões/Considerações
A InSAN medida pela EBIA-Indígena apresentou-se muito alta nas retomadas indígenas estudadas, sendo quase 40,0% com prevalência de algum nível de fome entre adultos ou crianças. A roça aparece como uma estratégia de redução das condições de InSAN. Retomar o território tradicional ainda assim melhora a percepção do estado de saúde e alimentação das famílias. A demarcação das terras no MS é urgente para garantia dos direitos humanos.
ÍNDICE DE REDONDEZA CORPORAL APRESENTA MAIOR PODER DISCRIMINATIVO PARA DIABETES TIPO 2 DO QUE O IMC EM INDÍGENAS BRASILEIROS
Pôster Eletrônico
1 UFES
2 UFAM
3 USP
Apresentação/Introdução
A incidência de diabetes tipo 2 (DM2) tem aumentado muito entre indígenas brasileiros. Embora o Índice de Massa Corporal (IMC) seja amplamente usado para avaliar o impacto da obesidade no risco de DM2, o Índice de Redondeza Corporal (IRC) pode refletir melhor a distribuição da gordura corporal. Contudo, pouco se sabe sobre a capacidade do IRC em discriminar DM2 nessa população.
Objetivos
Avaliar o desempenho do IRC em comparação ao IMC e a circunferência da cintura para discriminar DM2 em indígenas brasileiros.
Metodologia
Foram avaliados 952 indígenas das etnias Tupiniquim e Guarani, de ambos os sexos (57% mulheres), com idade média de 41,3 ± 14,9 anos, residentes em aldeias no município de Aracruz-ES. O diagnóstico de DM2 foi realizado a partir da presença dos seguintes parâmetros: glicemia de jejum ≥126 mg/dL, HbA1c ≥6,5% ou uso contínuo de medicamentos antidiabéticos. O IRC foi calculado pela seguinte fórmula: 364,2 − 365,5 × √[1 − (circunferência da cintura em cm / 2π)² / (0,5 × altura em cm)]. A capacidade discriminativa dos marcadores antropométricos para identificar DM2 foi avaliada por meio da área sob a curva (AUC) ROC.
Resultados
Indivíduos com DM2 apresentaram maior idade, pressão arterial, glicemia de jejum, triglicerídeos, IRC, IMC e circunferência da cintura em comparação aos sem a doença. Além disso, a frequência de hipertensão e hipertrigliceridemia foi significativamente maior no grupo com DM2. O IRC mostrou a melhor acurácia para discriminar DM2, com AUC de 0,73 (IC95%: 0,64–0,82; p<0,001) em homens e 0,71 (IC95%: 0,64–0,78; p<0,001) em mulheres, superando o IMC e a circunferência da cintura.
Conclusões/Considerações
O IRC demonstrou maior precisão do que o IMC e a circunferência da cintura para discriminar DM2 em indígenas brasileiros. Esses resultados indicam que o IRC pode ser uma ferramenta mais eficaz na avaliação do risco metabólico nessa população, contribuindo para a identificação precoce e estratégias de prevenção direcionadas ao controle do DM2.
INTEGRAÇÃO DO SASISUS COM A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO SUS EM QUESTÃO: A CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO A PARTIR DE UM COMITÊ GESTOR DE PESQUISA
Pôster Eletrônico
1 Fiocruz
2 Rede Cerrado
3 USP
4 SESAI
Apresentação/Introdução
O cuidado em saúde pressupõe a organização de Redes, que preveem a existência de diferentes pontos de atenção interconectados. A integração do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASISUS) com os demais pontos da Rede do SUS, adotada como intervenção, foi problematizada em um Comitê Gestor de Pesquisa (CGP), propiciando a construção do Modelo Lógico (ML) e do Plano de Monitoramento (PM)..
Objetivos
Apresentar elementos dos instrumentos de Monitoramento e Avaliação (M&A) - Modelo Lógico e Plano de Monitoramento - desenvolvidos no âmbito do CGP ao considerar a Integração do SASISUS com a Rede de Atenção à Saúde do SUS como intervenção.
Metodologia
Ao se configurar como uma pesquisa avaliativa, adotou-se como dispositivo o CGP, de forma a possibilitar múltiplas visões da realidade pela presença de lideranças indígenas, profissionais de saúde, gestores e docentes de Universidades Federais. O funcionamento do mesmo foi pactuado em um Plano de Trabalho e de Comunicação e envolveu 12 reuniões mensais, realizadas de forma virtual, e uma Oficina presencial de formação em M&A. O processo incluiu: explicação colaborativa da situação-problema, elaboração do ML e construção do PM da intervenção. A Oficina voltou-se à consolidação da formação dos integrantes do CGP e à validação do material didático da Oficina, elaborado pela equipe de pesquisa.
Resultados
Na explicação da situação problema da baixa integração, identificou-se como causa crítica ‘Gestores do SASISUS não participam dos espaços de governança e co-gestão do SUS’, que levou ao objetivo de promover essa participação. O Modelo Lógico estruturou atividades estratégicas, destacando-se a proposta de institucionalização pelo Ministério da Saúde da participação dos gestores do SASISUS nos espaços deliberativos de gestão. Os efeitos foram a ampliação e qualificação da participação dos DSEI em Comissões e Conselhos, fortalecimento das funções de planejamento, M&A. Um dos indicadores formulados foi o número de reuniões das Comissões e Conselhos com a participação dos gestores do SASISUS.
Conclusões/Considerações
A integração do SASISUS com a Rede de Atenção à Saúde do SUS é imprescindível para o alcance da integralidade do cuidado. A reflexão realizada a partir de múltiplas visões e saberes no âmbito do CGP possibilitou a construção de instrumentos de M&A contextualizados e factíveis. Estes apontaram caminhos possíveis para a qualificação do SASISUS no sentido do seu fortalecimento e da garantia dos direitos na saúde indígena.
LESÕES AUTOPROVOCADAS VOLUNTARIAMENTE NOS POVOS INDÍGENAS ENTRE 2020 E 2023
Pôster Eletrônico
1 UFAC
2 UFSCAR
Apresentação/Introdução
Os povos indígenas enfrentam tensões sociais e constantes ameaças aos seus territórios e saberes tradicionais. O suicídio, ou as lesões autoprovocadas voluntariamente, está relacionado a múltiplos fatores socioculturais, sendo agravado por históricos familiares e comunitários. Durante a pandemia de COVID-19, o isolamento social se intensificou, ampliando ainda mais a vulnerabilidade desses povos.
Objetivos
Descrever o perfil epidemiológico da mortalidade por lesões autoprovocadas voluntariamente nos povos indígenas no Brasil durante o período da pandemia e no pós-pandêmico imediato (2020-2023).
Metodologia
Estudo ecológico, retrospectivo e descritivo sobre a mortalidade por lesões autoprovocadas voluntariamente no Brasil para o período de 2020 a 2023. Para calcular as taxas de mortalidade, no Excel 2019, utilizou-se no numerador os óbitos que tiveram sua causa básica com código de X60 a X84 (lesões autoprovocadas voluntariamente) da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10). Como denominador, utilizou-se o censo demográfico nacional de 2022 estratificado por região, sexo e faixas-etárias de 10 a 50 anos, e posteriormente multiplicado por 100.000 habitantes. Por se tratar de dados secundários não foi submetido ao comitê de ética.
Resultados
Entre 2020 e 2023 foram notificados 622 óbitos por lesões autoprovocadas voluntariamente nos povos indígenas no Brasil. Desse total, 57% ocorreram na região Norte (353) e 24% no Centro-oeste (149). Maior predomínio dos óbitos ocorreu em indivíduos do sexo masculino (74,60%), e no ano de 2023 com 30% dos casos (185). A taxa de mortalidade bruta no ano de 2022 por faixa-etária variou de 6,77 a 22,24 entre as faixas etárias de 15 a 59 anos, sendo maior na faixa etária de 15 a 19 anos. Quanto à distribuição geográfica, a taxa de mortalidade em 2022 foi maior nas regiões do centro-oeste e sul, com 15,99 e 15,95 óbitos a cada 100.000 habitantes, respectivamente.
Conclusões/Considerações
O estudo evidenciou maior frequência de óbitos por lesões autoprovocadas voluntariamente entre indígenas do sexo masculino, residentes na região Centro-Oeste, especialmente entre adolescentes e jovens adultos. Esses achados indicam a necessidade de ações preventivas e políticas públicas específicas, voltadas à saúde mental e ao fortalecimento das redes de apoio social nas comunidades indígenas.
ASSOCIAÇÃO ENTRE HIPOVITAMINOSE D E DIABETES MELLITUS TIPO 2 EM UMA POPULAÇÃO INDÍGENA
Pôster Eletrônico
1 UFES
2 UFAM
Apresentação/Introdução
A incidência de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) vem aumentando em todo o mundo e no Brasil. Esse aumento também vem sendo observado entre povos indígenas brasileiros. Dentre os fatores que podem estar associados a esse cenário destaca-se a deficiência de vitamina D (VitD), cuja baixa concentração sanguínea tem sido associada à resistência à insulina e ao desenvolvimento de DM2.
Objetivos
Analisar a associação entre os níveis de VitD e a presença de DM2 na população indígena adulta residente nas aldeias de Aracruz, Espírito Santo (ES), Brasil.
Metodologia
Foram avaliados 946 indígenas (≥20 anos, ambos os sexos), das etnias Tupiniquim e Guarani entre 2020 e 2022. Cerca de 2.500 eram elegíveis e 1.084 compareceram ao Hospital Universitário (Vitória) para exames clínicos e laboratoriais. Foram excluídos da análise os não indígenas, participantes em uso de VitD, de outras etnias e com dados faltantes. DM2 foi definido por relato de uso de hipoglicemiante ou presença de glicemia de jejum ≥126 mg/dL, ou de Hb1AC≥6,5%. Hipovitaminose D foi definia pela presença de 25-hidroxyvitamina D2 <30,0 ng/mL. A força de associação foi estimada por regressão logística e IC95%. As análises foram realizadas no Stata 18, considerando p<0,05 como significante.
Resultados
A média de idade foi 41,3±14,9 anos, predominando mulheres (56,8%), e indivíduos da etnia Tupiniquim (90%). A prevalência de hipovitaminose D e DM2 foi de 43,7% (IC95% 40,9-46,4) e 19,0% (IC95% 16,3-21,7), respectivamente. Indivíduos com hipovitaminose D apresentaram maior frequência de diabetes, obesidade e níveis mais altos de glicemia de jejum, hemoglobina glicada e insulina. No modelo bruto, a hipovitaminose D aumentou em 49% a chance de diabetes (OR=1,49; IC95% 1,07-2,06). Após ajuste por sexo, idade, escolaridade, tabagismo, uso de álcool, IMC dislipidemia, hipertensão e estação do ano, observou-se que a hipovitaminose D aumenta em 86% a probabilidade de DM2 (OR=1,77; IC95% 1,20-2,62).
Conclusões/Considerações
Os resultados mostram que a deficiência de VitD pode representar um fator de risco independente para o desenvolvimento do DM2. Além disso, observou-se alta prevalência de hipovitaminose D na população indígena mesmo considerando a alta exposição à luz nessa população que reside em casas em ambiente rural.
VIOLÊNCIA CONTRA TERRITÓRIOS INDÍGENAS ENTRE 2020 E 2024
Pôster Eletrônico
1 UFSCar
2 UFAC
Apresentação/Introdução
A violência contra o território indígena tem ocorrido no Brasil de diferentes formas, entre elas invasões, conflitos armados e atraso na demarcação de terras e outras. Essa violência pode trazer danos diretos à saúde física, bem como agravos à saúde mental, além de poder piorar a crise climática, por causa de danos ao meio ambiente.
Objetivos
O objetivo deste estudo foi identificar violências contra territórios indígenas na região Sul do Brasil, entre 2020 e 2024, e descrever ameaças aos povos indígenas resultantes dessa presença que podem ter relação direta ou indireta com a saúde.
Metodologia
Foram usados dados secundários disponíveis de forma pública e anônima na internet. Efetuou-se revisão de dados de acesso público provenientes de organizações governamentais (Ministério da Justiça e Segurança Pública,, Agência Brasileira de Notícias, FUNAI, IBAMA) bem como relatórios anônimos e públicos de agências não-governamentais. Os conflitos/agravos pesquisados foram classificados em tipos e mecanismos de violência, por estado. Conforme a resolução 510/2016, este tipo de estudo prescinde de avaliação do sistema CEP/CONEP.
Resultados
Foram registrados 25 conflitos envolvendo territórios indígenas no Paraná, 18 em Santa Catarina e 67 no Rio Grande do Sul, entre 2020 e 2024. No Rio Grande do Sul, quatro conflitos envolveram incêndios criminosos, quatro uso de agrotóxicos, e uma invasão resultou em assassinatos. Além disso, 35 conflitos estavam ligados à morosidade na demarcação de terras, gerando vulnerabilidade socioambiental. No Paraná, houve 6 casos de ataques ou ameaças com armas e 3 com uso de agrotóxicos. Em Santa Catarina, foram dois conflitos com ataques diretos a indígenas e uma depredação de patrimônio. Os demais conflitos nos três estados envolveram ações judiciais, descumprimento da lei e invasões possessórias.
Conclusões/Considerações
A violência recente contra os territórios indígenas no Sul do Brasil tem ocorrido em diferentes formatos, incluindo mecanismos que afetam diretamente a saúde, como uso de substâncias tóxicas, fogo e armas. Outros mecanismos, como ameaças, depredações e morosidade judicial, podem causar insegurança jurídica e ter impactos na saúde mental, além de expor os povos indígenas a maior vulnerabilidade social, ambiental e nutricional.
REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE ANEMIA NOS POVOS INDÍGENAS BRASILEIROS (2000-2024)
Pôster Eletrônico
1 UFSCar
2 UFAC
Apresentação/Introdução
A insegurança alimentar dos povos indígenas é uma questão de saúde pública, e a anemia é um dos correlatos dessa insegurança, permanecendo como um grande desafio. As mudanças climáticas, ao alterarem a produção de alimentos, podem impulsionar as desigualdades sociais e em saúde, e é importante entender qual a situação atual da anemia nos povos indígenas brasileiros.
Objetivos
Efetuar revisão integrativa de artigos publicados entre 2000 e 2024 sobre anemia em povos indígenas brasileiros, bem como de teses defendidas nesse período e ainda não publicadas.
Metodologia
Foi usado o termo “anemia” combinado com os termos “povos indígenas”, “indígenas” e “índios” nas bases de dados Scielo, Scopus, BVS, Embase, PubMed, Web of Science, ScienceDirect. Também foram procuradas teses defendidas entre 2000 e 2024 disponíveis na Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações e no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES.. Foram encontrados 1417 artigos e 127 teses, sendo excluídas duplicatas e aquelas que não se encaixavam na temática, resultando em 19 artigos publicados e 3 teses não-publicadas. Os dados foram agrupados por estado. Conforme a resolução 510/2016, este tipo de estudo prescinde de avaliação do sistema CEP/CONEP.
Resultados
Foram encontrados estudos com indígenas do Acre, Amazonas, Pará, Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Alagoas, São Paulo e Rio de Janeiro e Paraná, além de um estudo com amostragem para povos indígenas de todo o Brasil. A maior parte dos resultados foram sobre anemia em crianças, e suas mães, havendo poucos sobre anemia em adultos. As prevalências em crianças variaram entre 22,8% e 86%, e nas mães estudadas de 24,3% a 41,6%. Em adultos a prevalência variou de 44,9% a 48,5%. No estudo com amostragem nacional, a prevalência em crianças menores de 5 anos foi de 51,2%. Na última década, poucos estudos foram publicados, e vários estudos demoraram mais de dez anos para serem publicados.
Conclusões/Considerações
Os resultados mostraram alta prevalência de anemia, porém, frente à heterogeneidade socioambiental dos povos indígenas brasileiros, os estudos ainda são insuficientes. Apenas um estudo possuía amostragem ampla, mostrando a dificuldade de efetuar estudos com todos os povos indígenas no Brasil. A escassez de estudos recentes pode ser reflexo da transição epidemiológica, ou da dificuldade de efetuar pesquisas com os povos indígenas.
EXPERIÊNCIAS E DESAFIOS DOS AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE NO ALTO PANTANAL
Pôster Eletrônico
1 ESP
2 DSEI/MS
3 SES/MS
4 ETSUS
Apresentação/Introdução
Os Agentes Indígenas de Saúde (AIS) têm papel estratégico na atenção à saúde em territórios indígenas, atuando como ponte entre saberes tradicionais e práticas do SUS. Apesar da relevância, enfrentam obstáculos que impactam o cuidado ofertado, especialmente em contextos de crise sanitária, como vivenciado durante a pandemia de Covid-19.
Objetivos
Conhecer as vivências dos Agentes Indígenas de Saúde no exercício de suas funções, identificando dificuldades enfrentadas e contribuições no cuidado à saúde em comunidades indígenas.
Metodologia
Estudo qualitativo, aprovado pela CEP (parecer nº 7.424.742), realizado com 25 Agentes Indígenas de Saúde (AIS) em comunidades de Miranda/MS. A coleta de dados ocorreu por meio de grupos focais. As transcrições foram analisadas com o software IRaMuTeQ, utilizando análise lexicográfica, dendograma e grafo de similitude. A investigação buscou compreender os sentidos atribuídos à prática cotidiana dos AIS, evidenciando os desafios enfrentados, suas estratégias de cuidado, o vínculo com a comunidade e a mediação entre os saberes indígenas e o sistema oficial de saúde.
Resultados
A análise revelou que os AIS assumem múltiplas responsabilidades, como vacinação, educação em saúde e acompanhamento de gestantes e crianças. A pandemia intensificou sua atuação, marcada por comprometimento e desafios como resistência vacinal e carência de apoio. A palavra “falar” destacou-se nos discursos, evidenciando o papel da comunicação. A associação entre os termos “área”, “saúde”, “mãe” e “criança” apontou para o foco no cuidado infantil e para o papel dos AIS como mediadores culturais.
Conclusões/Considerações
Os AIS são fundamentais para garantir o cuidado em saúde em territórios indígenas. Valorizar sua atuação requer políticas de apoio, formação contínua e reconhecimento institucional, promovendo práticas de saúde mais próximas das realidades e culturas locais.
CAPACITAÇÃO E PRÁTICAS ALIMENTARES: PERCEPÇÕES DOS AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE TERENA SOBRE O ENFRENTAMENTO DA OBESIDADE
Pôster Eletrônico
1 ESP
2 Fiocruz/MS
3 ETSUS
4 SES/MS
5 UFMS
Apresentação/Introdução
A obesidade é um desafio crescente nas comunidades indígenas, exigindo estratégias culturalmente apropriadas. Os Agentes Indígenas de Saúde (AIS) têm papel central na promoção da saúde, especialmente após processos formativos que estimulam reflexões sobre práticas alimentares.
Objetivos
Conhecer as percepções dos AIS da etnia Terena, em Mato Grosso do Sul, sobre a obesidade e a promoção da alimentação saudável após participação em curso de educação a distância.
Metodologia
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, fundamentada no referencial Theoretical Domains Framework (TDF), adaptado para o Brasil. A coleta foi realizada por meio de grupos focais com AIS que concluíram o curso. As falas foram analisadas com o auxílio do software IRaMuTeQ, utilizando procedimentos de análise textual para identificar barreiras e facilitadores relacionados à mudança de comportamento alimentar nas comunidades indígenas. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética, respeitando os princípios da pesquisa com populações tradicionais.
Resultados
A análise evidenciou múltiplas barreiras ao enfrentamento da obesidade, como o acesso facilitado a produtos ultraprocessados, resistências culturais às mudanças de hábito, dificuldade de manutenção de hortas e sobrecarga das mulheres nas ações de alimentação. Entre os elementos facilitadores, destacaram-se o interesse pela formação continuada, o desejo coletivo por melhorias na alimentação, a valorização da relação entre alimentação e saúde e o reconhecimento do curso como instrumento de fortalecimento da atuação dos AIS.
Conclusões/Considerações
O fortalecimento da atuação dos AIS no enfrentamento da obesidade passa pela oferta de capacitações acessíveis e contextualizadas, além de suporte institucional que considere as realidades socioculturais das aldeias. Investir na formação contínua é fundamental para avançar na promoção da saúde indígena.
INDÍGENAS NO CURSO DE MEDICINA EM UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA NO INTERIOR DE SÃO PAULO: DIFICULDADES, REINVENÇÕES E RESILIÊNCIAS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19
Pôster Eletrônico
1 UFSCar
Apresentação/Introdução
Considerando as questões interculturais na atenção à saúde dos indígenas, historicamente há pouco acesso para que indígenas adentrem o ensino superior como universitários, limitando a formação desses profissionais da saúde. Durante a pandemia de COVID-19, indígenas estavam na graduação em medicina em um universidade federal de São Paulo, sendo indagado nessa pesquisa como foram suas experiências.
Objetivos
Realizar mapeamento e compreender as experiências dos indígenas do curso de medicina de uma universidade pública do interior de São Paulo, durante a pandemia da COVID-19.
Metodologia
Pesquisa exploratória com abordagem qualitativa. Realizou-se mapeamento dos indígenas que cursaram medicina na universidade durante o período da pandemia de COVID-19, de março de 2020 a março de 2023, com participação de todos nesta pesquisa. Em seguida foram realizadas seis entrevistas individuais semiestruturadas e uma roda de conversa, todas no formato online. O material foi transcrito e passou pelo processo de análise de conteúdo temática. O projeto foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa.
Resultados
Foram 6 indígenas que cursaram medicina na instituição no período, dos povos: Tikuna, Tupinikim, Pankará, Atikum, Xucuru e Pankararu. As experiências podem ser descritas em quatro categorias. 1) O início da pandemia trouxe incertezas e dificuldades enfrentadas no curso durante. 2) As relações interpessoais comunitárias com outros indígenas do curso de medicina e com familiares foram importantes no período. 3) Houve diversas adaptações nas atividades curriculares, trazendo vivências difíceis no ensino à distância e no retorno presencial. 4) Projetos realizados com povos indígenas favoreceram a permanência simbólica, ao passo que podiam ver em suas ações impactos para suas comunidades.
Conclusões/Considerações
Conclui-se que as experiências dos indígenas no curso de medicina foram multifacetadas, destacando-se as intersecções entre a formação acadêmica, as questões interculturais, as condições de saúde mental e social de direitos historicamente marginalizadas. A pandemia exacerbou dificuldades enfrentadas por esses estudantes, mas também revelou a potência de se reinventarem, criando estratégias de resiliência, tanto acadêmicas quanto emocionais.
DISPARIDADES NO ACESSO DE GESTANTES INDÍGENAS BRASILEIRAS AO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO
Pôster Eletrônico
1 Faculdade de Odontologia, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
2 SESAI, Ministério da Saúde
3 Western Sydney University
Apresentação/Introdução
O Pré-Natal Odontológico (PNO) visa o controle das doenças bucais comuns ao período gestacional e capacita a gestante tanto para o autocuidado em saúde bucal quanto para os cuidados específicos do bebê. Entre os povos indígenas, o acompanhamento odontológico de gestantes é bastante desafiador, visto que as mulheres indígenas são vítimas históricas de iniquidades em saúde.
Objetivos
O objetivo deste trabalho foi investigar a evolução do indicador de PNO indígena “Percentual de gestantes indígenas com no mínimo 1 consulta odontológica programática”, em nível nacional, e sua correlação com variáveis de assistência à saúde.
Metodologia
Estudo ecológico com dados obtidos no SIASI para os 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas/DSEI em 2023 e 2024, sendo 2023 o ano em que se iniciou o monitoramento do indicador. Além deste, foram extraídas variáveis de assistência à saúde (percentual de gestantes com 6 ou + consultas pré-natal, percentual de consulta odontológica programática e tratamento odontológico concluído por DSEI). Foi também extraído o indicador “Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado” do SISAB, referente às gestantes no SUS, para fins de comparação com os dados de saúde indígena. Foi realizada análise estatística descritiva e aplicado o teste de correlação de Pearson no software R.
Resultados
A média percentual de gestantes indígenas com consulta odontológica em 2023 foi 35,8%, variando de 4,6% (DSEI Yanomami) até 76,5% (DSEI MG/ES). Já a média nacional de gestantes com atendimento odontológico no SUS foi 59,7%, variando de 43,7% (RR) até 79,7% (AL). Em 2024, a média percentual subiu para 51,9%, com uma discreta diminuição de variação entre os DSEI (15,2% no DSEI Vale do Javari até 84,1% no DSEI Alto Rio Solimões). Em contrapartida, a média nacional no SUS caiu para 56%. Foi observada correlação positiva entre o percentual de gestantes indígenas com atendimento odontológico e o percentual de gestantes com 6 ou + consultas de pré-natal (r=0,47).
Conclusões/Considerações
Em síntese, gestantes indígenas realizam o tratamento odontológico de maneira desigual entre os DSEI no Brasil, sendo a visita ao dentista relacionada com uma adequada assistência pré-natal. Dados inéditos no país, demonstram as disparidades no acesso da mulher indígena aos serviços odontológicos dentro do subsistema de saúde indígena.
SAÚDES E MEDICINAS INDÍGENAS: A MICROPOLÍTICA DO TRABALHO NO CUIDADO À SAÚDE EM UMA CASA DE SAÚDE INDÍGENA NA AMAZÔNIA.
Pôster Eletrônico
1 Universidade Federal Fluminense (UFF)
Apresentação/Introdução
Essa tese tem como centro a micropolítica do trabalho no cuidado à saúde, proposta enquanto uma ferramenta de análise no campo de gestão e planejamento em saúde indígena, inserida no debate sobre o processo de trabalho de equipes multiprofissionais atuando no contexto de uma Casa de Saúde Indígena (CASAI), localizada na Cidade de Belém, no Distrito de Icoaraci.
Objetivos
Analisar a micropolítica do processo de trabalho de equipes multiprofissionais de saúde indígena na produção do cuidado à saúde de indígenas usuários e seus acompanhantes em uma Casa de Saúde Indígena (CASAI) na Amazônia.
Metodologia
A metologia corpo-território está inserida nas discussões sobre diferentes concepções de saúde e tecnologias que circulam no campo de atenção à saúde indígena. Desenvolvida com base na experiencia de projetos ligados à Consultoria Chillindrina entre os anos de 2023-2024, está fundamentada nas contribuições científicas de indígenas pesquisadores na área da saúde (BARRETO, 2022; RODRIGUES, 2023), bem como, de discussões realizadas pelo movimento indígena brasileiro, no que concerne a interrelação entre corpos e territórios, como elemento central na saúde com povos indígenas, ligados aos modelos de cuidado à saúde dos povos indígenas na produção da vida.
Resultados
Evidencia-se as medicinas indígenas como produtoras de efeitos no processo de trabalho das equipes multiprofissionais de saúde indígena atuantes na CASAI Icoaraci. O trabalho é visto como determinado pelo diálogo entre diferentes redes, culturas e modos de vida, associados ao atendimento às demandas de indígenas usuários e acompanhantes. Assim, o funcionamento da CASAI Icoaraci está situado no que se convenciona chamar na área de planejamento em saúde de cuidados intermediários à saúde, justificado, tanto pelo foco na articulação entre diferentes redes, quanto no papel do profissional como intermediários na comunicação e construção de entendimentos de saúde próprios dos povos indígenas.
Conclusões/Considerações
A discussão das CASAIs como serviços de cuidados intermediários está associada a atuação nas redes saúde indígena, também ligada às relações no cuidado à saúde com povos indígenas, com atenção as questões próprias dos povos indígenas, relativas aos conhecimentos e especialistas das medicinas indígenas, como tecnologias de cuidado dotadas de elementos meta-clínicos que transformam a composição técnica do trabalho no cuidado à saúde indígena.
POPULAÇÃO RESIDENTE NAS TERRAS INDÍGENAS XAVANTE: ANÁLISE SOCIODEMOGRÁFICA COM BASE NOS CENSOS 2010 E 2022
Pôster Eletrônico
1 UFRJ
2 Fiocruz
Apresentação/Introdução
Aspectos relacionados à dinâmica demográfica do povo Xavante vêm sendo descritas desde meados de 1980. Os mais recentes recenseamentos realizados no Brasil permitem caracterizar a população indígena de acordo com atributos relacionados ao pertencimento étnico específico. Os dados censitários são amplamente utilizados para instrumentalizar a implementação de políticas públicas.
Objetivos
Analisar indicadores sociodemográficos populacionais (estrutura etária, taxa de envelhecimento e alfabetização) e domiciliares (saneamento básico) referentes aos indígenas residentes em terras Xavante de acordo com os Censos 2010 e 2022.
Metodologia
Estudo transversal realizado com dados do Universo dos Censos Demográficos 2010 e 2022, oriundos do Sistema de Recuperação Automática (SIDRA/IBGE). As tabelas de dados agregados foram recuperadas no dia 8 de junho de 2025. Foram selecionadas 9 terras indígenas localizadas no Mato Grosso, nas quais residiam, majoritariamente, indígenas da etnia Xavante. Os indicadores foram gerados com variáveis individuais (sexo, idade e alfabetização) e domiciliares (armazenamento e canalização de água e presença de banheiro ou sanitário). Comparações entre os dois períodos foram feitas com base em taxas de variação percentual.
Resultados
Nos Censos 2010 e 2022 foram contabilizadas, respectivamente, 19.213 e 19.873 pessoas indígenas residentes nas 9 terras indígenas (TI), aumento de 3,4%. Na TI Sangradouro/Volta Grande a população dobrou (+106,0%) e na TI Maraiwatsede houve redução da população (-52,0%). A taxa de envelhecimento caiu de 11,6% para 6,7% e a alfabetização (>15 anos) aumentou de 73,4% para 81,3%. Em 2022, a maioria residia em domicílios nos quais a água era oriunda de poço ou nascente (56,3%), no entanto, apenas 2,3% tinham acesso a água encanada dentro do domicílio. 78,0% dos indígenas moravam em domicílios que não tinham banheiro nem sanitário.
Conclusões/Considerações
Nas TI Xavante, a estrutura etária e a presença de idosos apresentaram dinâmicas heterogêneas, tanto entre as TI, quanto nos dois períodos. Aventa-se que os padrões estejam relacionados a fluxos migratórios intra-terras e áreas urbanas. Ao passo que houve aumento nos níveis de alfabetização, especialmente entre mulheres, a ausência de água encanada e instalações sanitárias apontam para condições de vida desfavoráveis.
FLUORETOS NA PREVENÇÃO DA CÁRIE DENTÁRIA EM POPULAÇÕES INDÍGENAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: UMA REVISÃO DE ESTUDOS EXPERIMENTAIS
Pôster Eletrônico
1 USP
Apresentação/Introdução
As doenças bucais afetam bilhões de pessoas e refletem desigualdades sociais e estruturais. A cárie dentária é altamente prevalente em populações indígenas e comunidades tradicionais, marcadas por contextos específicos. Nesse sentido, os fluoretos são uma ferramenta eficaz e acessível para prevenção da cárie, integrando práticas de saúde pública sustentáveis.
Objetivos
Sintetizar o conhecimento sobre o uso de fluoretos na prevenção da cárie dentária em populações indígenas e comunidades tradicionais, visando subsidiar recomendações para a prática em saúde e orientar futuras pesquisas na área.
Metodologia
Trata-se de uma revisão sistemática da literatura abrangendo estudos sobre intervenções preventivas de cárie que se valem dos fluoretos como estratégias de saúde pública, dirigidas a populações indígenas e comunidades tradicionais. A busca foi realizada nas principais bases de dados da área da saúde (PubMed, Embase, Web of Science e BVS), utilizando combinações de descritores relacionados. Utilizou-se o software Rayyan para triagem e elegibilidade, com apoio da ferramenta de mineração de termos. Foram incluídas pesquisas experimentais que avaliassem o efeito do uso de produtos fluoretados na prevenção da cárie dentária. Os resultados foram discutidos de forma crítica e contextualizada.
Resultados
Foram identificados 1.523 registros, dos quais 9 atenderam aos critérios de inclusão após as etapas de triagem e avaliação de elegibilidade. A literatura identificada revelou ausência de estudos específicos sobre estratégias com fluoretos voltadas a comunidades tradicionais. Os resultados revelaram que a aplicação de verniz fluoretado, especialmente quando associada a ações educativas, orientações antecipatórias e envolvimento dos cuidadores, tem se mostrado eficaz na prevenção da cárie dentária entre crianças indígenas, ainda que a magnitude desse efeito varie conforme o grau de aderência comunitária e a sensibilidade cultural das estratégias utilizadas.
Conclusões/Considerações
Os estudos mostraram a eficácia dos vernizes fluoretados, a importância de fatores culturais, sociais e contextuais para a modulação dos resultados e a relevância de intervenções culturalmente sensíveis e integradas aos saberes locais. A limitação quanto à diversidade de grupos e faixas etárias evidencia lacunas na literatura e reforça a necessidade de pesquisas amplas que subsidiem políticas públicas mais equitativas e efetivas.
ATIVIDADES DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO
Pôster Eletrônico
1 Grupo de Estudos Interdisciplinar em Cuidado Farmacêutico, Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares
2 Laboratório de Inovação para o Cuidado em Saúde, Universidade Federal do Espírito Santo
3 Grupo de Estudos Interdisciplinar em Cuidado Farmacêutico, Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares; Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde (PPGCAS), Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadar
4 Distrito Sanitário Especial Indígena Minas Gerais E Espírito Santo (DSEI-MG/ES)
Apresentação/Introdução
As atividades da Atenção Psicossocial (AP) são prestadas aos povos indígenas por meio de suporte psicossocial e promoção de saúde mental, mediante uma abordagem individualizada e articulada, respeitando os saberes tradicionais e as diferenças étnicas, culturais e sociais. Entretanto, trata-se de uma assistência complexa e diversificada que apresenta muitos desafios para a sua prestação.
Objetivos
Descrever as atividades consolidadas da AP, em nível de atenção básica, prestadas pelo Distrito Sanitário Especial Indígena dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo (DSEI MG/ES).
Metodologia
Estudo transversal a partir de dados obtidos do consolidado anual de saúde mental do DSEI-MG/ES nos anos de 2020 a 2024. A AP é prestada pela Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena (EMSI - médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas e auxiliares de saúde bucal), equipe matricial (assistentes sociais, farmacêuticos, nutricionistas e psicólogos) e responsável técnico em saúde mental. As variáveis relacionadas às atividades de AP foram: atendimentos, atividades em grupo, educação permanente, reuniões de articulação, mobilização comunitária, educação em saúde e apoio às EMSI. O projeto foi aprovado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa sob o parecer nº 7.543.846.
Resultados
Foram realizados 172.002 atendimentos a indígenas em sofrimento mental, dos quais 19.290 ocorreram em grupo. Um total de 20.801 indígenas participaram de 1.005 atividades em grupo, como: grupos terapêuticos, rodas de conversa e educação em saúde. As EMSI receberam 79 ações de educação permanente. A AP articulou 5.786 reuniões com a Rede de Atenção Psicossocial, FUNAI, assistência social, educação, cultura e esporte. A AP também participou de 1.138 ações de mobilização comunitária realizadas com a população indígena, educação em saúde e/ou grupos terapêuticos. Ademais, foram realizadas 8.466 ações de apoio matricial às EMSI.
Conclusões/Considerações
Os dados revelam a diversidade das ações da AP, que vão além do atendimento clínico, incluindo a promoção da saúde mental e a articulação intersetorial. Observou-se um expressivo volume de atendimentos individuais e em grupo, ações de educação permanente e apoio às equipes. Esses achados ressaltam a importância de uma abordagem integrada, articulada com as políticas públicas, que valorize os saberes tradicionais e as particularidades culturais.
TENTATIVAS DE SUICÍDIO ENTRE INDÍGENAS DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO: UMA ANÁLISE DESCRITIVA
Pôster Eletrônico
1 Laboratório de Inovação para o Cuidado em Saúde, Universidade Federal do Espírito Santo
2 Grupo de Estudos Interdisciplinar em Cuidado Farmacêutico, Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares; Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde (PPGCAS), Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadar
3 Grupo de Estudos Interdisciplinar em Cuidado Farmacêutico, Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares
4 Distrito Sanitário Especial Indígena Minas Gerais e Espírito Santo (DSEI-MG/ES)
Apresentação/Introdução
O suicídio é um fenômeno mutifatorial, no qual tentativas prévias configuram um importante fator de risco. Grupos sociais vulneráveis, como povos indígenas, estão mais expostos por conta das constantes ameaças à sua integridade cultural e territorial. Diante das singularidades das diferentes etnias, é fundamental compreender a magnitude desse fenômeno para subsidiar ações culturalmente adaptadas.
Objetivos
Descrever o perfil dos indígenas envolvidos em tentativas de suicídio no Distrito Sanitário Especial Indígena dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo (DSEI-MG/ES).
Metodologia
Estudo transversal descritivo a partir de dados obtidos do consolidado anual de saúde mental dos Polos Base tipo I referente ao ano de 2024 dos indígenas assistidos pelo DSEI-MG/ES. Foram excluídos os dados com registros duplicados ou com erros de preenchimento. As variáveis analisadas incluiram idade, sexo, uso de bebida alcoólica, tentativas anteriores, método utilizado e atendimento aos familiares pela equipe de saúde. Os dados foram apresentados por meio de estatística descritiva. O projeto foi aprovado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa sob o parecer nº 7.543.846.
Resultados
Das sete pessoas envolvidas nas tentativas de suicídio, 71,4% eram do sexo feminino (n = 5), com idades entre 13 e 52 anos (média de 25 ± 12,6). Ao todo, foram registradas oito tentativas de suicídio, realizadas por sete pessoas distintas, sendo que uma delas tentou duas vezes no mesmo ano, utilizando métodos diferentes. Dentre os métodos empregados, 50% corresponderam a autoagressão (n= 4), 37,5% a intoxicação/envenenamento (n= 3) e 12,5% a enforcamento (n= 1). O consumo de álcool esteve presente em 14,3% dos casos (n = 1). As equipes de saúde realizaram atendimento aos familiares e pessoas próximas em 71,4% das situações analisadas (n= 5).
Conclusões/Considerações
As tentativas de suicídio ocorreram predominantemente entre mulheres jovens com destaque para o método de intoxicação/envenenamento e automutilação. Os atendimentos realizados pelas equipes de saúde aos familiares e pessoas próximas evidenciam a importância do cuidado ampliado em situações de crise. Ressalta-se, ainda, a possibilidade de subnotificação dos casos, em razão do estigma social que envolve o tema.
SAÚDE MENTAL INDÍGENA: O QUE DIZEM AS PRODUÇÕES ACADÊMICAS E OS INDÍGENAS UNIVERSITÁRIOS SOBRE AS ESPECIFICIDADES DESSE CAMPO?
Pôster Eletrônico
1 UFSCar
2 UFScar
3 DSEI/SESAI
Apresentação/Introdução
Saúde mental indígena é um conceito que tem sido trazido nas políticas de saúde indígena, inclusive entre universitários indígenas, mas que necessita de melhores compreensões sobre suas especificidades. Vai além da definição biomédica e também do campo tradicional de saúde mental. Todavia que outras complexidades estão presentes nessa discussão, em especial entre indígenas universitários?
Objetivos
Compreender as diferentes concepções sobre saúde mental indígena, a partir da literatura acadêmica e da visão de universitários indígenas de cursos da área da saúde, em uma universidade pública do interior de São Paulo.
Metodologia
A pesquisa aconteceu em duas etapas: 1 - Realizou-se revisão de literatura integrativa, utilizando-se as bases de dados: PubMed, PsycINFO, Scielo, Capes, LILACs e Scopus, com uso dos descritores: "povos indígenas" OR “índio” OR “indígenas” AND "medicina tradicional" AND "bem-viver indígena" AND "saúde mental" AND "concepções indígenas de saúde mental", “Brazil” AND “Brasil” AND “Psicologia indígena”. 2 - Utilizou-se a estratégia Bola de Neve para realizar roda de conversa com 12 indígenas estudantes de 7 cursos da saúde da universidade, de 9 povos diferentes, dos estados de PE, AM, PA. Realizou-se transcrição e análise dos núcleos de sentidos presentes durante a discussão dos participantes.
Resultados
Na revisão de literatura, foram encontrados 2016 artigos, sendo 1907 duplicados e 1411 excluídos. Na sequência, 605 artigos serão revisados, respeitando os critérios de inclusão e exclusão. A especificidade da saúde indígena, por tratar de diferentes povos, culturas e regiões, é um fator que singulariza o cuidado em saúde mental. O conceito para os participantes vem da forma de pensar a saúde mental de cada povo, a partir de suas experiências em comunidade. Foram evidenciadas terapêuticas singulares de diversos povos, inclusive como itinerário terapêutico. A temática da saúde indígena não foi discutida ao longo da graduação nos cursos aos quais os participantes estão vinculados.
Conclusões/Considerações
No contexto indígena a definição sobre saúde mental é complexa. Os povos indígenas têm a saúde mental como sendo um equilíbrio entre corpo, mente e território. As especificidades da saúde indígena são um fator que singulariza o cuidado em saúde mental. Assim, a saúde mental indígena traz compreensões complexas que envolvem olhar integral e intercultural do bem-estar psicológico, emocional, espiritual, comunitário e ambiental dos povos indígenas.
FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA TRADICIONAL E DA PRODUÇÃO DE ARTESANATOS COMO PROMOÇÃO DE TERRITÓRIOS SAUDÁVEIS, SUSTENTÁVEIS E DO BEM VIVER NA TERRA INDÍGENA DO XINGU
Pôster Eletrônico
1 ISC/UFMT
Apresentação/Introdução
O trabalho é uma pesquisa-intervenção empírica denominada Pesquisa-Ação Participante, em desenvolvimento na Terra Indígena Xingu (Aldeias Aiha Kalapalo e Kuluene Kalapalo). Há no cenário mudanças com os cercamentos dos territórios por grandes empreendimentos. Além desse infortúnio, a pandemia COVID-19, provocou a suspensão das atividades comerciais de artesanatos, descapitalizando o grupo local.
Objetivos
A pesquisa tem uma perspectiva em garantir segurança alimentar. Destarte, o propósito é estimular ações de produção agrícola tradicional e fortalecer a produção artesanal, garantindo-se, ações de reforço ao projeto desses Povos por autodeterminação.
Metodologia
A pesquisa-ação participante se caracteriza pela interação entre os pesquisadores e as pessoas envolvidas nas situações de intervenção, tendo-se como propósito fundamental a emancipação dos sujeitos e comunidade. Portanto, é um modelo de ação que difere das tradicionais porque a população não é considerada passiva e seu planejamento e condução não ficam a cargo de pesquisadores profissionais. No cenário, combina-se a investigação científica com a ação prática para solucionar problemas e promover mudanças no contexto. Nessa abordagem, os envolvidos trabalham juntos como colaboradores, com o objetivo de gerar conhecimento relevante e aplicá-lo para melhorar a situação em que estão inseridos.
Resultados
A execução da pesquisa-ação participante nos últimos 16 meses demonstrou aprendizados - mesmo quando haja diferenças essenciais de saberes, todos aprendem uns com os outros e através dos outros. Portanto, as ações empreendidas por meio da realização de cursos e oficinas; doações de ferramentas, sementes e mudas de plantas frutíferas, miçangas e outras matérias-primas para produção artesanal; e, a rearticulação das associações mantidas pelos Kalapalo, mostraram-se, estratégicas e valiosa para criar uma conexão mais estreita entre a pesquisa acadêmica e as necessidades práticas das comunidades, permitindo que os resultados da pesquisa tenham um impacto mais significativo na vida das pessoas.
Conclusões/Considerações
A pesquisa-ação participante envolve geralmente um processo cíclico, composto por etapas de planejamento, ação, observação e reflexão. A investigação vem possibilitando maior sustentabilidade na produção de alimentos e maior renda na comercialização de artesanatos. Portanto, iniciou-se um movimento para garantir a Sustentabilidade e a Promoção de Territórios Saudáveis e Sustentáveis na região do Xingu, sob a perspectiva teórica do Bem Viver.
PERFIL EPIDEMIÓLOGICO DA INCIDENCIA DA DENGUE ENTRE OS ANOS DE 2020 E 2024 NA POPULAÇÃO INDÍGENA DA MACROREGIÃO DO SERTÃO PERNAMBUCANO
Pôster Eletrônico
1 Centro Universitário FIS - UNIFIS
2 XI GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO - XI GERES
3 UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR
Apresentação/Introdução
A dengue é uma arbovirose endêmica no Brasil, com maior incidência em períodos quentes e chuvosos. No estado de Pernambuco foram registrados 17 óbitos por arboviroses em 2024, com dois deles ocorridos em território indígena, trazendo à tona a necessidade de compreender a dinâmica temporal da incidência da dengue em povos indígenas como reconhecimento de parte das vulnerabilidades dessa população.
Objetivos
Analisar o perfil epidemiológico da dengue na população indígena residente da macrorregião do sertão de Pernambuco entre os anos de 2020 a 2024.
Metodologia
Estudo de caráter descritivo e retrospectivo, com abordagem quantitativa. Foram utilizados como dados os casos notificados de dengue em indivíduos autodeclarados indígenas e residentes na macrorregião do sertão pernambucano, presentes no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) disponíveis no DATASUS.
Resultados
Foi identificado um total de 164 casos de dengue na população indígena representando aproximadamente 2,9% do total de casos registrados (5656), havendo uma maior prevalência na faixa etária entre 20 a 39 anos (37%) e em indivíduos do gênero feminino (57%). Quanto a escolaridade a maioria dos casos (26%) tem essa informação ignorada, e 12% possuem ensino médio completo. Dentre os casos, 7,3% resultaram na hospitalização do indivíduo, havendo um óbito pelo agravo notificado (0,6%). Observa-se um aumento na incidência de casos tanto na população geral, que cresceu de 752 casos em 2020 para 2091 em 2024 (278%), quanto na população indígena, passando de 11 para 71 casos (645%) nesse período.
Conclusões/Considerações
Constata-se que a taxa de elevação do número de casos de dengue na região é predominante na população indígena, o que demonstra a necessidade de aprimoramento e formulação de políticas públicas mais equitativas e que atendem as especificidades de saúde desses indivíduos, contribuído para o fortalecimento das ações de vigilância em saúde e colaborando para a mitigação das desigualdades no combate às arboviroses.
A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NA ARTICULAÇÃO DE CUIDADOS DE USUÁRIAS(OS) INDÍGENAS EM DOURADOS/ MATO GROSSO DO SUL
Pôster Eletrônico
1 UFGD
Apresentação/Introdução
Este trabalho é parte da dissertação de Mestrado em Psicologia em andamento na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). Consiste em uma produção advinda das inquietações do trabalho da autora junto aos Povos Indígenas das etnias Guarani, Kaiowá e Terena, que reúne relatos e reflexões a partir das experiências no SUS desde o ano de 2013 até o momento atual.
Objetivos
Tem como objetivo apresentar e discutir as potencialidades e os desafios da atenção às(aos) usuárias(os) indígenas nos serviços da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) da cidade de Dourados/MS, no diálogo com os cuidados tradicionais indígenas.
Metodologia
A metodologia utilizada é a escrita cartográfica (Rolnik, 1989)para apresentar e discutir experiências na Saúde Indígena, somada. A análise de documentos (atas de reuniões, registros fotográficos) do Grupo Condutor da RAPS, do Grupo de Trabalho de Saúde Mental Indígena e documentos de domínio público (redes sociais dos movimentos indígenas), em diálogo com a Psicologia Social, Saúde Coletiva e produções acadêmicas Kaiowá e Guarani.
Resultados
Os resultados parciais apontam o racismo estrutural, as iniquidades em saúde e o desinvestimento da Política de Saúde Indígena como elementos que interferem no bem viver e na saúde mental dos Povos Indígenas. A dificuldade de acesso aos serviços da RAPS seja pela distância geográfica, dificuldade linguística e falta de ambiência nos serviços também são elementos identificados. A RAPS em Dourados, tem se ocupado em desenvolver estratégias de diálogo e construções interculturais através de formações de trabalhadores(as), da escuta e diálogo com lideranças tradicionais indígenas, trabalhadoras(es) da Saúde Indígena e usuárias(os).
Conclusões/Considerações
Diante disso, é necessária a maior compreensão dos territórios indígenas, suas especificidades e complexidades, com um olhar atento à cosmologia, aos processos de cuidados tradicionais em saúde e o fortalecimento do diálogo e articulação com lideranças indígenas, usuárias(os), se atentando aos determinantes sociais, em especial a demarcação de terras indígenas e o direito ao território sagrado (Tekoha).
DESASSISTÊNCIA NA SAÚDE INDÍGENA DO ESTADO DO AMAZONAS ENTRE 2020 E 2025
Pôster Eletrônico
1 Universidade Federal de São Carlos
2 Universidade Federal do Acre
Apresentação/Introdução
As ações de saúde entre os povos indígenas são dever do governo brasileiro e regulamentada pela Lei 8.080/1990. A desassistência na saúde indígena pode ser considerada um tipo de violência por omissão, perpetrada pelo Estado brasileiro em seus diferentes níveis (municipal, estadual e federal), com consequências importantes para os povos indígenas, além de representar uma desigualdade social e em saúde.
Objetivos
O objetivo deste estudo foi identificar a violência do Estado Brasileiro contra os povos indígenas efetuada através da desassistência na saúde, no estado do Amazonas, estado com maior população indígena do país, no período de 2020 a 2025.
Metodologia
Foram usados dados de acesso público provenientes de organizações governamentais bem como dados anônimos de relatórios públicos de agências não-governamentais, disponíveis publicamente na internet, entre os anos de 2020 a 2025. Os dados foram revisados e categorizados por tipo de omissão. Conforme a resolução 510/2016, este tipo de estudo prescinde de avaliação do sistema CEP/CONEP.
Resultados
Os principais problemas identificados na literatura analisada foram a falta de atendimento ou atendimento irregular em saúde, falta de atenção aos indígenas durante a pandemia, falta de transporte para o atendimento, ausência de postos de saúde ou postos com condições precárias de funcionamento, falta de remédios, de equipamentos, de água potável e saneamento nas aldeias, surtos de malária, irregularidades no cumprimento da legislação, mascaramento de óbitos durante a pandemia, falta de vacinas, e exploração das terras indígenas com danos à saúde. As negligências encontradas ocorreram durante e após a pandemia, e afetaram diferentes povos indígenas do Amazonas
Conclusões/Considerações
A violência do Estado brasileiro por omissão na Saúde indígena vem ocorrendo ao longo do tempo no Amazonas, de forma abrangente, necessitando de intervenções judiciais para sua solução, mostrando violação de direitos e aumento das iniquidades em saúde. É necessário uma maior atenção da sociedade brasileira para garantir que o Estado cumpra seu dever, no sentido de proteger os direitos dos povos indígenas.
CRISE HUMANITÁRIA YANOMAMI: DESIGUALDADES SOCIAIS E IMPACTOS NA SAÚDE DE UMA POPULAÇÃO INDÍGENA VULNERABILIZADA
Pôster Eletrônico
1 Faculdade Adventista da Amazônia (FAAMA)
2 Faculdade Federal do Pará ( UFPA)
Apresentação/Introdução
A Atenção Diferenciada, prevista na Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI), está diretamente vinculada ao princípio da equidade do SUS. Tal princípio prevê ações prioritárias em regiões com maiores vulnerabilidades, assegurando aos povos indígenas o acesso a um cuidado integral e respeitoso, indo além de medidas pontuais ou superficiais
Objetivos
Analisar as consequências sociais e de saúde da crise humanitária vivenciada pelo povo Yanomami, a partir das reportagens veiculadas na mídia nacional.
Metodologia
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter documental e descritivo, tendo como fontes primárias reportagens e notícias publicadas em jornais de circulação nacional. O estudo utilizou o método de clipping (do inglês "recortar"), voltado à coleta, análise e arquivamento de menções feitas pela mídia, reunindo informações de diferentes veículos. A busca dos materiais foi realizada em acervos digitais de jornais nacionais, utilizando as palavras-chave “Saúde de Povos Indígenas” AND “Yanomamis” AND “Crise Humanitária”, com recorte temporal de janeiro de 2023 a janeiro de 2025.
Resultados
A análise das reportagens dos principais jornais nacionais evidenciou os principais pontos políticos, sociais e de saúde enfrentados pelos Yanomamis. A população Yanomami enfrenta uma grave crise humanitária decorrente da invasão de garimpeiros, negligência estatal e políticas de integração forçada desde a ditadura militar. Esses fatores resultaram em genocídio, epidemias, contaminação por mercúrio. Apesar da demarcação das terras e denúncias internacionais, a omissão governamental persistiu. agravada na gestão Bolsonaro. Ações articuladas entre setores públicos e apoio de instituições indígenas são urgentes para garantir direitos, proteção territorial e saúde digna ao povo Yanomami.
Conclusões/Considerações
O desenvolvimento deste breve estudo possibilitou identificar as repercussões sociais e de saúde decorrentes da crise humanitária nas terras Yanomamis, destacando a vulnerabilidade desse povo diante da negligência do Estado em relação aos povos indígenas. A ausência de intervenção governamental agrava ainda mais a situação, evidenciando a necessidade de ações urgentes e efetivas para garantir a proteção e o bem-estar dessas comunidades indígenas.
INFÂNCIAS WARAO EM RISCO NO BRASIL: RESISTÊNCIA CULTURAL E ENFRENTAMENTO À NECROPOLÍTICA INSTITUCIONAL
Pôster Eletrônico
1 UFPB
Apresentação/Introdução
Desde 2019, em um processo de migração e refúgio, indígenas Warao chegam ou passam por João Pessoa. Com 624 vivendo na cidade, sendo 262 crianças (42%), morando em abrigos ou casas alugadas. Este estudo busca narrar como a necropolítica institucional, o racismo e a xenofobia operam nos serviços de saúde, incidindo sobre os corpos Warao, especialmente no que tange à mortalidade infantil evitável.
Objetivos
Refletir sobre como a necropolítica opera na mortalidade infantil entre crianças Warao refugiadas em João Pessoa.
Metodologia
Este trabalho integra a cartografia de uma pesquisadora-trabalhadora in-mundada em um percurso de 11 meses no Centro Estadual de Referência de Migrantes e Refugiados (CERMIR), dispositivo que articula a rede intersetorial junto ao povo Warao na Paraíba. O trajeto foi pautado em princípios de educação popular e vínculo, realizando escuta e articulação da rede intersetorial junto às famílias indígenas Warao. Em campo, foi-se acompanhando de perto as vivências, ritos e enfrentamentos das famílias, bem como as dinâmicas pela RAS. Para a pesquisa, foram utilizados documentos institucionais, notícias midiáticas e diário cartográfico; os quais foram processados coletivamente no grupo ApoiaRAPS.
Resultados
Foram vivenciadas 7 mortes infantis no período. Barreiras burocráticas, racistas e higienistas negaram direitos, ritos e assistência tradicional Warao. A atuação do CERMIR, pautada no vínculo e na educação popular, mitiga violações e garante práticas tradicionais, sensibilizando a rede e a comunidade para cuidados preventivos, internações e urgência. Apesar de micropontos de acolhimento, a RAS mantém recusas e negligências cerceada sob pretextos que repercutem em mortes evitáveis. O direito ao luto digno e aos ritos fúnebres ocorreu por meio de enfrentamentos e mediações com a rede intersetorial.
Conclusões/Considerações
Na articulação político-administrativa, o Estado assume um papel de defesa, policialesco, que insiste em continuar, sob a lógica colonial, negando saberes ancestrais. O racismo estrutural e a necropolítica produzem mortes evitáveis de crianças indígenas Warao. Garantir direito a atenção diferenciada em saúde, aos ritos finais, ao luto, à assistência médica tradicional são atos de resistência em um contexto marcado por negligências e violências.
REPERCUSSÕES DA VIDA UNIVERSITÁRIA NA SAÚDE MENTAL DE ESTUDANTES INDÍGENAS
Pôster Eletrônico
1 UEFS
2 UFRB
Apresentação/Introdução
Estudantes indígenas enfrentam diversos desafios ao ingressarem na universidade, incluindo a adaptação a um ambiente culturalmente diferente e a manutenção de suas práticas tradicionais de saúde. Este estudo explora como a vida universitária afeta sua saúde mental e os cuidados de saúde que eles buscam.
Objetivos
Compreender as repercussões da vida universitária na saúde mental de estudantes indígenas, identificando barreiras e necessidades específicas do cuidado de saúde.
Metodologia
Foi realizado um estudo qualitativo com entrevistas semiestruturadas com base narrativa com estudantes indígenas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). A análise foi feita pelo método do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), identificando ideias centrais e expressões-chave para capturar as experiências coletivas.
Resultados
Os resultados revelaram que os estudantes indígenas enfrentam ansiedade, insônia e outros problemas de saúde mental devido à distância de suas comunidades e à pressão acadêmica. Além disso, há dificuldades em manter práticas tradicionais de saúde, como o uso de plantas medicinais, devido à rotina universitária e à falta de recursos, levando-os a depender de tratamentos alopáticos.
Conclusões/Considerações
O estudo destaca a necessidade de políticas universitárias inclusivas que reconheçam e suportem as necessidades culturais e de saúde dos estudantes indígenas. É crucial oferecer serviços de saúde diferenciados que integrem práticas tradicionais e forneçam suporte psicológico culturalmente sensível para garantir o bem-estar e a permanência desses estudantes.
ESTRATÉGIAS PARA SUPERAR AS BARREIRAS LINGUÍSTICAS DE ACESSO NO CONTEXTO DA SAUDE INDIGENA
Pôster Eletrônico
1 UFPB
2 PRMFC Sesau-Recife
3 FPS
Apresentação/Introdução
O acesso à saúde, um dos principais atributos da atenção primária, pode ser dificultado por diversas barreiras que agravam desigualdades existentes, especialmente entre povos indígenas. Dentre elas, a barreira linguística merece especial atenção por colocar em risco a segurança do paciente. Pouco tem sido publicado sobre o impacto dessa barreira no contexto da saúde indígena
Objetivos
Este estudo busca compreender como as barreiras linguísticas afetam os povos indígenas no mundo e quais medidas são adotadas institucionalmente ou individualmente pelos profissionais de saúde para diminuir os danos causados por essas barreiras.
Metodologia
Foi realizada uma revisão de escopo, seguindo metodologia JBI. A busca das evidências foi realizada nas seguintes base de dados: MEDLINE, BIREME e LILACS. A literatura cinza no Google Scholar. Dois revisores realizaram a análise e extração dos dados de acordo com instrumento elaborado pelos mesmos. Foi analisada a implicação dos achados para políticas públicas de saúde em países com Atenção Primária, principalmente no contexto do Brasil. A busca utilizou os seguintes descritores (MeSH): (Indigenous Health) AND (Language Barriers) AND (Access to Care) e descritores em português e espanhol (Saúde Indígena) AND (Barreiras de Comunicação).
Resultados
Foram identificados 131 artigos, de dez diferentes países, nas bases de dados BVS/Bireme (21) e PubMed/Medline (110) . Após análise dos critérios de inclusão e exclusão foram incluidos na revisão 27 artigos. Com relação aos impactos das barreiras linguísticas observou-se que elas favorecem a desfechos ruins em saúde, como não adesão ao tratamento, fragilidade do vínculo com equipe de saúde e pior prognóstico. Um dos artigos descreve a barreira linguística como fator agravante das desigualdades, que resultou na morte de crianças indígenas. Observou-se a utilização de diversas estratégias para superar os desafios das barreiras linguísticas.
Conclusões/Considerações
Esse estudo recomenda a atuação de facilitadores interculturais como pontes entre a atenção primária e cuidado hospitalar e entre a cultura indígena e o saber biomédico, merecendo destaque entre as estratégias identificadas. O tempo de permancia dos profissionais de saúde no contexto dos cuidados na atenção primária também parece permitir uma melhor compreensão da lingua e construção de vínculo
DESAFIOS E ESTRATÉGIAS NA ATENÇÃO À SAÚDE INDÍGENA NO TOCANTINS: ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E DA ADAPTAÇÃO CULTURAL PELO DSEI/TO
Pôster Eletrônico
1 Afya Faculdade de Ciências Médicas de Palmas
Apresentação/Introdução
A saúde indígena no Brasil é marcada por desafios históricos, sociais e culturais que demandam políticas específicas. O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASISUS), por meio dos DSEIs, busca garantir cuidado integral com respeito aos saberes tradicionais. Este trabalho analisa indicadores e ações de saúde nos DSEIs Tocantins em 2022.
Objetivos
Este estudo objetiva analisar o perfil epidemiológico da população indígena assistida pelo SASISUS Tocantins, avaliar a infraestrutura de saneamento e explorar a integração de saberes tradicionais na atenção à saúde.
Metodologia
Estudo descritivo, com abordagem quali-quantitativa, baseado no “Relatório Situacional do DSEI Tocantins/2023”. Analisaram-se dados demográficos da população indígena (13.327 pessoas de 14 etnias), óbitos por CID-10, faixa etária e sexo em 2022. Incluíram-se agravos de notificação compulsória, casos de COVID-19, indicadores de saúde e infraestrutura de saneamento. Também foram descritas ações de integração entre saberes tradicionais e serviços de saúde.
Resultados
O DSEI/TO possui 6 Polos Base, 2 Bases de Apoio, 31 UBSI e 2 CASAI. Em 2022, ocorreram 64 óbitos, com destaque para causas cardiovasculares, infecciosas e parasitárias. Os principais agravos notificados foram tracoma (27,7%), dengue (15,3%) e leishmaniose cutânea (9,5%). A cobertura vacinal de crianças menores de 5 anos foi de 87,6%, e 65,8% das gestantes realizaram ao menos 6 consultas de pré-natal. Em saneamento, 63,8% das aldeias têm acesso à água, mas apenas 0,018% dispõem de banheiros funcionais. Práticas tradicionais, com participação de pajés e raizeiros, foram fortalecidas.
Conclusões/Considerações
Apesar da estrutura complexa do DSEI/TO, a saúde indígena no Tocantins enfrenta desafios significativos, especialmente no saneamento básico. O perfil epidemiológico revela a persistência de doenças infecciosas, a importância de manter os programas de imunização e o aumento da cobertura do pré-natal. A integração de saberes tradicionais é vital para uma atenção culturalmente sensível, promovendo o diálogo entre práticas médicas e de cura locais.
DESAFIOS E ESTRATÉGIAS NA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM MUNICÍPIO AMAZÔNICO DE MAIOR POPULAÇÃO INDÍGENA DO BRASIL
Pôster Eletrônico
1 UFAM
Apresentação/Introdução
Localizado no extremo noroeste do Amazonas, São Gabriel da Cachoeira abriga a maior população indígena proporcional do Brasil, com 93% dos habitantes pertencentes a 23 etnias. O território, conhecido como “cabeça do cachorro”, possui desafios sociodemográficos únicos, como grandes distâncias, isolamento geográfico e diversidade cultural e linguística.
Objetivos
Analisar os principais desafios operacionais, logísticos e culturais na organização dos serviços de saúde no município de São Gabriel da Cachoeira, identificando demandas, fragilidades e estratégias adotadas para a atenção integral à saúde da população local.
Metodologia
Trata-se de um estudo descritivo, de caráter documental e analítico, realizado a partir de dados administrativos, relatórios de gestão e indicadores de saúde do município de São Gabriel da Cachoeira no ano de 2023. Foram analisadas informações sobre cobertura de programas, acesso a serviços, barreiras logísticas, recursos humanos e insumos. A análise foi estruturada segundo os eixos da Rede de Atenção à Saúde, contemplando a Atenção Básica, Média e Alta Complexidade e Vigilância em Saúde, considerando também o impacto das barreiras socioculturais e geográficas sobre a efetividade dos serviços
Resultados
O município enfrenta grandes desafios estruturais: alta rotatividade de profissionais, dificuldades na contratação de especialistas, barreiras linguísticas, culturais e logísticas. Programas como pré-natal e rastreio de câncer de colo do útero têm baixa cobertura: em 2023, 1.385 gestantes realizaram de uma a quatro consultas, sem registro de cinco ou mais. Foram realizados 2.400 exames preventivos, abaixo da meta necessária. Doenças como tuberculose e leishmaniose mantêm perfil endêmico. A logística de transporte fluvial e aéreo, aliada à insuficiência de insumos e materiais, impacta diretamente na oferta e na qualidade dos serviços.
Conclusões/Considerações
As especificidades de São Gabriel da Cachoeira demandam políticas públicas diferenciadas, com valorização da interculturalidade, fortalecimento da rede logística e capacitação permanente dos profissionais. É essencial ampliar a integração entre os sistemas municipais e distritais indígenas, garantindo acesso equânime, qualificado e culturalmente adequado aos povos originários.
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS NASCIMENTOS INDÍGENAS NO DSEI INTERIOR SUL (2020-2023): ANÁLISE DOS DETERMINANTES SOCIODEMOGRÁFICOS, OBSTÉTRICOS E TERRITORIAIS.
Pôster Eletrônico
1 UFFS
2 FIOCRUZ
Apresentação/Introdução
A análise dos indicadores materno-infantis é essencial para revelar disparidades e orientar ações na saúde indígena. Mesmo com avanços na atenção diferenciada, persistem fragilidades relacionados a desigualdades no acesso, na qualidade da assistência e nos desfechos obstétricos, reforçando a importância de estudos que considerem especificidades socioculturais e territoriais.
Objetivos
Analisar o perfil epidemiológico dos nascimentos indígenas no Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Interior Sul, entre 2020 e 2023, considerando variáveis sociodemográficas, obstétricas e a influência dos territórios de residência.
Metodologia
Estudo descritivo, retrospectivo, com abordagem quantitativa, baseado nos dados do SINASC/DATASUS referentes aos nascimentos indígenas no DSEI Interior Sul (PB Chapecó, Ipuaçu, Guarita e Passo Fundo) entre 2020-2023. Foram analisadas variáveis sociodemográficas maternas (faixa etária, escolaridade, estado civil); obstétricas e de assistência (tipo de parto, peso ao nascer, número de consultas pré-natal, semanas de gestação). Utilizou-se qui-quadrado de Pearson e V de Cramer para medir associações entre o PB de residência e as variáveis analisadas, considerando significância estatística de p<0,005.
Resultados
Foram registrados 2.434 nascimentos indígenas, com predomínio nos PB Guarita (881) e Passo Fundo (820). Observou-se aumento de nascimentos no PB Ipuaçu (33% em 2023). As variações podem refletir aspectos demográficos como mudanças etárias ou contextuais como deslocamentos territoriais. Predominaram parturientes entre 20-24 anos (30%), com escolaridade entre 8-11 anos (66%) e estado civil solteira (66%). A maioria dos partos foi vaginal (54%), mas com alta proporção de cesáreas (45%). Houve associação significativa do PB com faixa etária (0,58), tipo de parto (0,48) e consultas pré-natal (0,41), evidenciando a influência dos territórios nos desfechos obstétricos.
Conclusões/Considerações
O território emerge como determinante central na saúde materno-infantil indígena, impactando o acesso, os desfechos obstétricos e as práticas de cuidado. Os dados reforçam a urgência de fortalecer a atenção diferenciada, pautada na interculturalidade, na equidade e na valorização dos saberes tradicionais, assegurando às mulheres indígenas uma atenção obstétrica qualificada e culturalmente sensível.
DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS EM INDÍGENAS DA REGIÃO DO BAIXO TAPAJÓS NA AMAZÔNIA
Pôster Eletrônico
1 UEPA
2 UFOPA
3 UFRJ
Apresentação/Introdução
As doenças crônicas não transmissíveis, vêm crescendo entre as populações indígenas da Amazônia, que historicamente apresentavam baixas prevalências devido a estilos de vida ativos e alimentação tradicional. No entanto, mudanças socioculturais e ambientais recentes têm favorecido o aumento dos fatores de risco associados a essas enfermidades.
Objetivos
Avaliar a prevalência de doenças crônicas não transmissíveis em uma amostra da população indígenas do município de Santarém-Pará.
Metodologia
Trata-se de um estudo transversal realizado em 2024, com uma amostra composta por 290 indígenas adultos, residentes na região do Baixo Tapajós – Santarém – Pará, sob parecer nº 6.661.528. A coleta de dados incluiu a aplicação de um questionário estruturado, a realização de exames laboratoriais com coleta de sangue periférico e aferições antropométricas como peso e altura. Calculou-se o Índice de Massa Corpórea - IMC (obesidade: ≥30 kg/m2), e os níveis de hemoglobina glicada (HbA): normal (< 5,7%), pré-diabetes (5,7 a 6,4%) e diabetes (≥ 6,5%).
Resultados
Entre os participantes, observou-se a predominância do sexo feminino 67,2% (n=195) e concentração na faixa etária 34 a 41 anos. A maioria declarou possuir ensino superior 53,1% (n=154). A prevalência de hipertensão foi de 12,1% (n=35), enquanto 19,7% (n=57) apresentaram obesidade. Apenas 5,2% (n=15) relataram diagnóstico prévio de diabetes. No entanto, 5,9% (n=17) dos participantes que informaram não ter diabetes apresentaram níveis de hemoglobina glicada compatíveis com o diagnóstico da doença (HbA ≥ 6,5%).
Conclusões/Considerações
Na região Amazônica, diversos desafios contribuem para o subdiagnóstico e o controle das DCNTs, entre eles o acesso limitado aos serviços de saúde, as vulnerabilidades socioeconômicas e ambientais. Diante desse contexto, torna-se essencial o monitoramento contínuo dos fatores de risco, com ações que respeitem e incorporem as especificidades culturais, sociais e territoriais das comunidades indígenas.
ADEQUAÇÃO DA ATENÇÃO PRÉ-NATAL EM COMUNIDADES INDÍGENAS DE ALAGOAS SEGUNDO DIFERENTES INDICADORES
Pôster Eletrônico
1 UFAL
Apresentação/Introdução
A assistência pré-natal adequada é essencial para a saúde do binômio mãe-filho, prevenindo desfechos desfavoráveis desde a concepção até o parto. Apesar dos avanços no Brasil, persistem desigualdades no acesso e na qualidade do pré-natal entre gestantes em situação de vulnerabilidade social, como as mulheres indígenas, cujas especificidades étnico-culturais devem ser consideradas.
Objetivos
Avaliar a adequação da atenção pré-natal em comunidades indígenas do estado de Alagoas utilizando diferentes indicadores.
Metodologia
Estudo observacional, transversal, de base populacional, do tipo inquérito domiciliar, vinculado ao projeto “Estudo de Nutrição, Saúde e Segurança Alimentar dos Povos Indígenas do Estado de Alagoas – ENSSAIA”, com amostra probabilística das 11 etnias indígenas do estado. Foram elegíveis mulheres com crianças ≤ 24 meses. Coletaram-se dados ambientais, socioeconômicas, demográficas e sobre o pré-natal. Avaliou-se a adequação da atenção pré-natal por dois índices: Takeda (1993), que considera apenas o número de consultas e o início do pré-natal, e Silveira et al. (2001), que além desses dados inclui a realização de exames. Ambos classificam a atenção como adequada, intermediária e inadequada.
Resultados
Foram avaliadas 108 mulheres pelo índice de Takeda e 81 para o índice de Silveira et al. Pelo índice de Takeda, observou-se 88% de adequação, 9,0% intermediária e 3,0% de inadequada. Já segundo o índice de Silveira et al., a atenção foi adequada para 63,0% das mulheres, intermediária para 23,4% e inadequada para 13,6%. Os dados revelam diferenças importantes entre os critérios adotados, sendo mais elevada a inadequação quando se consideram aspectos além da frequência e do início das consultas.
Conclusões/Considerações
A inadequação da assistência pré-natal nas mulheres indígenas é elevada, sobretudo quando considerado critérios mais abrangentes. A ausência de exames obrigatórios compromete a detecção precoce de agravos, elevando o risco de mortalidade materna e infantil. Portanto, é urgente qualificar a assistência ofertada, considerando aspectos técnico-assistenciais e as especificidades étnico-culturais dessa população.
A MEDICINA INDÍGENA XUKURU DO ORORUBÁ: CUIDADO, ESPIRITUALIDADE, TRADIÇÃO E IDENTIDADE
Pôster Eletrônico
1 UFPE
2 Povo Xukuru do ororubá
Apresentação/Introdução
Os Xukuru do Ororubá são indígenas reconhecidos por sua história de luta pela retomada de seu território e resistência. O percurso da sua (re)existência está fortemente ligado a sua conexão de maneira indissociável entre a espiritualidade constituída na relação da crença cosmológica na natureza Sagrada e os ancestrais Encantados, os seus ritos religiosos e a Medicina Indígena.
Objetivos
Conhecer a Medicina Indígena Xukuru do Ororubá, na percepção e compreensão dos indígenas.
Metodologia
Trata-se de um estudo qualitativo, realizado no Território Indígena Xukuru do Ororubá, na cidade de Pesqueira/PE, onde vivem cerca de oito mil indígenas distribuídos em 24 aldeias. Os dados foram coletados através de rodas de conversas, entre setembro de 2022 e janeiro de 2023 e entrevistas individuais entre 2024 e 2025. Participaram da pesquisa equipes multidisciplinares de saúde, detentores de conhecimento e membros do conselho de saúde local, totalizando 85 interlocutores. As informações gravadas e transcritas foram analisadas, com a técnica de análise de conteúdo, organizadas em núcleos de sentido e categorias. A pesquisa teve aprovação ética, através do parecer nº 7.451.907.
Resultados
A Medicina Indígena concebida como ciência é constituída de um amplo arcabouço de práticas e conhecimentos que extrapola a dimensão da saúde e guarda relação com o Encantamento, a espiritualidade e a Natureza Sagrada. Permeada por elementos, compreensões e concepções que transitam entre os campo da fé, do conhecimento, da mediunidade, da ciência, entre o concreto e o abstrato, o visível e o invisível, o vivo e o desencarnado, aquilo que não é possível ser descrito, nem escrito, em uma sinergia que lhe constituí características singulares, próprias desse povo. É desenvolvida através das Práticas de reza, banho, defumação e uso de ervas/plantas medicinais, e também nos rituais e no toré.
Conclusões/Considerações
As práticas que constituem a Medicina Xukuru expressam importante diversidade no saber e fazer cuidados com a saúde. Esse saber-fazer ancestral é indissociado da sua espiritualidade, da sua relação com Natureza Sagrada, com a ciência da mata, com a terra, o território e a vida. A Medicina está atrelada ao seu modo de existir e se perceber no mundo, parte da sua tradição e identidade, sendo fundamental refletir sobre o respeito à sua cultura
INQUÉRITO DA SAÚDE BUCAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS POVOS INDÍGENAS DO ESTADO DA BAHIA, 2024
Pôster Eletrônico
1 UFBA
2 DISEI-BA
3 DISEI- BA
Apresentação/Introdução
O conhecimento sobre as condições de saúde bucal dos povos indígenas se faz necessário para a elaboração de estratégias de atuação e de organização dos serviços de saúde. Assim, a realização de inquéritos faz parte de uma estratégia inserida na Política de Saúde Indígena, com a perspectiva de construção de uma série histórica de dados de saúde bucal com o objetivo de planejar e avaliar serviços.
Objetivos
Descrever a prevalência da cárie dentária em crianças e adolescentes indígenas da Bahia, assim como caracterizar o perfil socioeconômico, a utilização e o acesso aos serviços odontológicos e aos insumos de higiene bucal e práticas de autocuidado
Metodologia
Trata-se de um estudo de corte transversal, de base populacional envolvendo todos os povos indígenas assistidos pelo Subsistema de Saúde Indígena do estado da Bahia. A população de estudo será selecionada por um processo de amostragem com representatividade das idades 5, 12, 15-19 anos. A avaliação da saúde bucal será feita por meio de exame epidemiológico, sob luz natural, pelos cirurgiões dentistas e auxiliares de saúde bucal e contemplando os índices utilizados e às idades e faixas etárias de avaliação das condições bucais recomendadas pela OMS. Realizou-se a análise descritiva, obtendo-se as frequências simples e as medidas de tendência central e de dispersão
Resultados
Foram investigadas 180 crianças e adolescentes indígenas da Bahia de 3 a 22 anos de idade, com média 11,6 anos. A maioria foi do sexo feminino (59,4%) e frequenta a escola (80,6%), costuma escovar os dentes (92,7%), não usa fio dental (75%) e foi ao dentista no último ano (77,4%) enão teve dor de dentes nos últimos 12 meses (55,9%). Com relação à cárie, 32,8% eram livres de cárie. O ceo-d foi de 1,5, com predomínio no componente cariado, equivalente a 83,91% do índice, já para o componente extraído e obturado obteve-se 7% e 9,09%, respectivamente. O CPO-D foi de 1,9 e a composição percentual do índice foi de para o componente cariado para perdidos e obturados 5,81% e 10,47%
Conclusões/Considerações
A saúde dos povos indígenas no Brasil é garantida por um sistema específico, vinculado ao SUS, que segue diretrizes da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas que se baseiam em um modelo de atenção em saúde bucal indígena através de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. No entanto ainda faltam estudos epidemiológicos que contemplem esses povos e subsidiem o planejamento de ações de saúde bucal
TECER SABERES, CULTIVAR MUNDOS: UMA CARTOGRAFIA ACERCA DO PROCESSO DE FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE DOS POVOS MUINANE E N+PODEMAK+
Pôster Eletrônico
1 UFF
Apresentação/Introdução
A pesquisa acompanha a formação de agentes indígenas de saúde no contexto da implementação do Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (SISPI), na Colômbia. Foca nas afetações dos agentes em seu processo de formação, observando os modos de transmissão intergeracional de saberes, as tensões entre oralidade e escrita, e os atravessamentos entre medicina ancestral e biomédica.
Objetivos
Cartografar o processo de transmissão de conhecimentos ancestrais e biomédicos na formação intercultural de agentes indígenas de saúde, mapeando a construção de um novo território existencial desses agentes.
Metodologia
A pesquisa é qualitativa, de cunho descritivo-exploratório, fundamentada na cartografia como ferramenta metodológica e político-afetiva. Tem como base o Modelo de Salud Propio e Intercultural de La Gente de Centro, utilizando o Diário de Bordo e a observação-participante em encontros virtuais e presenciais com agentes indígenas de saúde das etnias Muinane e N+podemak+ e a equipe de formação. A análise será feita a partir dos registros do diário, entrelaçando as narrativas e experiências, em diálogo com os participantes. A pesquisa segue os princípios éticos da CNS, da LGPD, conta com TCLE e com a anuência das autoridades ancestrais e lideranças comunitárias.
Resultados
A pesquisa busca contribuir com os próximos passos para a implementação do SISPI nos territórios de La Gente de Centro e com o campo da Saúde Coletiva no Brasil, onde ainda prevalecem práticas de epistemicídio e negação dos direitos dos povos originários. Ao acompanhar os processos de formação dos agentes indígenas de saúde, espera-se construir uma cartografia viva dos entrelaçamentos entre saberes ancestrais e práticas biomédicas. Conhecer e documentar o SISPI é abrir caminhos para práticas de saúde plurais, interculturais e rizomáticas, fortalecendo políticas públicas que respeitem a diversidade e soberania dos povos indígenas.
Conclusões/Considerações
Embora a cartografia ainda esteja em construção, já é possível identificar atravessamentos coloniais que podem fragilizar a transmissão de saberes, bem como os processos formativos dos agentes. Observa-se o potencial da formação intercultural ao firmar a urgência de revisitar essas estruturas de produção de conhecimentos e reafirmar caminhos de re-existência baseados na oralidade, ancestralidade e soberania dos povos indígenas.
INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS À APS ENTRE POVOS INDÍGENAS: EVIDÊNCIAS PARA O FORTALECIMENTO DO SUS E SASISUS (2024)
Pôster Eletrônico
1 Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS)
Apresentação/Introdução
A Atenção Primária à Saúde (APS) é fundamental na prevenção de doenças. Entre os povos indígenas, é ofertada pelo Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS), que promove acesso e respeito a diversidade sociocultural. As internações, ocorrem fora dos territórios indígenas, articulando-se com todo o SUS. Desde 2023, a AgSUS passou a apoiar nos três níveis de complexidade e monitora ICSAP
Objetivos
Este estudo tem como objetivo descrever as ICSAP) em indígenas no Brasil (2024) segundo região, Unidade Federativa (UF), sexo, faixa etária, principais causas clínicas e tempo de internação.
Metodologia
Trata-se de um estudo ecológico descritivo utilizando registros do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) para municípios dos estabelecimentos hospitalares em 2024 com recorte específico para raça/cor para a população indígena. As ICSAP foram identificadas conforme a Lista Brasileira de ICSAP, publicada pela Portaria MS nº 221, de 17 de abril de 2008, do Ministério da Saúde. Os dados foram exportados, processados e analisados usando a linguagem R e utilizou-se estatística descritiva e percentuais para as diferentes categorias analisadas.
Resultados
Em 2024, foram registradas 11.007 ICSAP entre indígenas, correspondendo a 23,38 % das hospitalizações de indígenas no SIH/SUS. As regiões Centro-Oeste (25,47 %), Sudeste (25,27 %) e Norte (24,99 %) apresentaram as maiores proporções de ICSAP em relação ao total de internações, com destaque para MG (34,91 %), RR (33,86 %) e RO (31,47 %). Mulheres representaram 53,4 % das ICSAP, com idade média de 23,15 anos (DP = 27,30) e permanência de 5,12 dias (DP = 5,86). Crianças de 0 a 4 anos somaram 42,95 % das internações, e idosos (≥ 60 anos) 15,22%. As principais causas de ICSAP foram gastroenterites (23,64 %), pneumonia bacteriana (13,41 %) e infecções renais e do trato urinário (12,00 %).
Conclusões/Considerações
As ICSAP entre povos indígenas evidenciam vulnerabilidades e desafios persistentes no acesso e na resolutividade da APS no contexto intercultural. A expressiva proporção de ICSAP em crianças indígenas destaca a necessidade de ações prioritárias e específicas. Neste cenário, a AgSUS tem desempenhado papel estratégico ao apoiar o SasiSUS, alinhando-se à sua missão de fortalecer o SUS com equidade, qualidade e respeito à diversidade
MORTALIDADE MATERNA DE MULHERES BRANCAS E INDÍGENAS EM MATO GROSSO, SEGUNDO FATORES SOCIOECONÔMICOS, DE 2009 A 2023
Pôster Eletrônico
1 UFMT
Apresentação/Introdução
Mulheres indígenas enfrentam desafios significativos relacionados a seu bem-estar como acesso limitado a serviços de saúde de qualidade, distâncias geográficas consideráveis e barreiras linguísticas que, frequentemente, dificultam o acesso a cuidados pré-natais adequados. Isso pode resultar em taxas mais altas de complicações durante o parto e pós-parto e levar a maior mortalidade materna.
Objetivos
Descrever a mortalidade materna de mulheres brancas e indígenas de Mato Grosso, no período de 2009 a 2023, segundo fatores socioeconômicos.
Metodologia
Estudo quantitativo e descritivo, com uso de dados secundários do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) e do Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC). O local de estudo compreendeu o Estado de Mato Grosso, e a população do estudo mulheres brancas e indígenas residentes no Estado, de 10 a 49 anos, que tiveram óbito materno no período de 2009 a 2023. A razão de mortalidade materna (RMM) foi calculada como a razão entre o número de óbitos maternos e o número de nascidos vivos por 100.000, sendo estratificada por faixa etária, estado civil, anos de estudo e local de ocorrência do óbito.
Resultados
Ocorreram 34 óbitos maternos em mulheres indígenas e 152 nas brancas. A RMM das indígenas foi maior do que a das brancas em todas as faixas etárias, sobretudo na faixa etária de 10 a 19 anos e na de 40 a 49 anos (3,4 vezes mais). Quanto ao estado civil, as indígenas apresentaram RMM maiores do que as brancas nas categorias viúva/separada judicialmente/outro (10389,6 vs. 996), solteira (170 vs. 77,4) e casada/união estável (69,0 vs. 42,8). As indígenas também apresentaram RMM maior que as brancas para as categorias de 4 a 7 anos de estudo (115,4 vs. 90,6) e 8 anos ou mais (112,4 vs. 61,7), e quando os óbitos ocorreram em hospital ou em outro estabelecimento de saúde (156,3 vs. 67,3).
Conclusões/Considerações
Evidenciou-se situações de maior vulnerabilidade para as mulheres indígenas, mesmo estando no mesmo espaço geográfico que as brancas, destacando a importância de se considerar os determinantes socioeconômicos na compreensão desse fenômeno. É necessário que o Estado adote medidas direcionadas a esse grupo, como melhoria do acesso a serviços de saúde e capacitação de profissionais para lidarem de forma culturalmente sensível com essas populações.
BOAS PRÁTICAS EM VACINAÇÃO DE POPULAÇÕES INDÍGENAS EM ÁREAS REMOTAS: REVISÃO SISTEMÁTICA E PROPOSTA DE GUIA BASEADO EM EVIDÊNCIAS.
Pôster Eletrônico
1 Escola de Governo da Fiocruz (EGF)
Apresentação/Introdução
A vacinação de povos indígenas em áreas remotas enfrenta desafios logísticos e geográficos, resultando em baixa cobertura vacinal. Isso compromete a proteção contra doenças e eleva os riscos à saúde infantil. São necessárias ações específicas para garantir o acesso, a eficácia e a equidade na imunização.
Objetivos
Objetiva-se propor um guia de boas práticas para vacinação de indígenas em áreas remotas, com base em revisão sistemática, análise documental e consulta a profissionais de saúde sobre a implementação das estratégias identificadas.
Metodologia
A metodologia adotada será uma revisão sistemática conforme as diretrizes PRISMA, dividida em três etapas. A primeira envolve a revisão da literatura científica e documentos técnicos de instituições como o Ministério da Saúde, OMS e OPAS. A segunda etapa consiste na apreciação das recomendações de boas práticas por meio de um grupo focal com 5 a 8 profissionais de saúde (principalmente da enfermagem), utilizando amostragem por conveniência. O grupo focal ocorrerá de forma online, com duração de 60 a 90 minutos, mediante consentimento dos participantes. A terceira etapa visa estruturar recomendações práticas, incluindo estratégias de implementação e disseminação do guia.
Resultados
A busca bibliográfica foi realizada em 15 de abril de 2025 em seis bases: PubMed, Embase, Web of Science, Scopus, CINAHL e BVS, escolhidas por sua relevância científica e rigor exigido em revisões sistemáticas. PubMed (104) e Scopus (138) tiveram mais registros, seguidas por Embase (58), Web of Science (63), CINAHL (33) e BVS (17), que agregaram perspectivas regionais e de atenção primária. A busca inicial resultou em 413 documentos; após triagem com o software Rayyan, foram selecionados 263 para leitura completa.
Conclusões/Considerações
Este trabalho reúne evidências sobre práticas eficazes de vacinação entre povos indígenas em áreas remotas, apontando desafios e estratégias. As recomendações servirão de base para um guia prático voltado à capacitação em enfermagem, fortalecendo a saúde indígena, ampliando a cobertura vacinal e promovendo equidade no acesso à imunização.
SUICÍDIO NA POPULAÇÃO INDÍGENA DE MATO GROSSO DO SUL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA.
Pôster Eletrônico
1 UEMS
Apresentação/Introdução
O suicídio é uma questão complexa e multifatorial, sendo uma das principais causas de morte no mundo. No Brasil, está entre as dez principais causas de óbito, com destaque para a população indígena, que enfrenta desafios específicos.
Objetivos
Identificar o estado da arte na literatura sobre fatores que contribuem para o suicídio entre indígenas no Mato Grosso do Sul.
Metodologia
Revisão integrativa de literatura seguindo as seis etapas (Ganong, 1987) com a pergunta "Quais são os fatores (O) que contribuem para o crescente número de suicídio (I) em indígenas (P) de Mato Grosso do Sul-MS entre os anos de 2000 a 2022 (T)?´´ e busca nos bancos de dados Scielo, MEDLINE, LILACS e PSYCinfo, sendo o gerenciamento feito pelo EndNote. Na segunda etapa os artigos que responderam os objetivos foram selecionados e lidos na íntegra. Na etapa de coleta de dados, foi elaborado uma tabela contendo: título, autor (es), ano de publicação, linguagem, base de dado, objetivo, metodologia, resultados e discussão, para a extração de dados dos artigos selecionados para a revisão.
Resultados
Entre 2000 e 2008, aproximadamente 410 indígenas Guarani/Kaiowá cometeram suicídio, com uma taxa de 73,4 por 100.000 pessoas-ano entre 2003 e 2013. Fatores de risco identificados incluem a destruição cultural, perda de territórios, desestruturação social e econômica, imposição de novas religiões, trabalho forçado e rápida transculturação. Adolescentes, especialmente em residências compartilhadas, estão entre os mais vulneráveis. As altas taxas de suicídio também estão associadas à desigualdade socioeconômica, violência e confinamento territorial.
Conclusões/Considerações
A literatura sugere a necessidade de intervenções culturalmente adaptadas e melhorias em sistemas de informação e políticas públicas inclusivas, levando em consideração a desestruturação cultural e social, a pobreza extrema e a insegurança que agravam a vulnerabilidade indígena.
ESTUDO DE AVALIABILIDADE DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE INDÍGENA (AVALIA-PBSI)
Pôster Eletrônico
1 UPE e ASCES/UNITA
2 UFPE
3 UFPE e Fiocruz-PE
4 UPE
5 UNIME
6 ASCES/UNITA
Apresentação/Introdução
O projeto AVALIA-PBSI propõe um estudo de avaliabilidade do componente indígena da Política Nacional de Saúde Bucal, o Programa Brasil Sorridente Indígena (PBSI), inserido no contexto das ações de saúde bucal nos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs), considerando os desafios de avaliação em contextos interculturais e a escassez de estudos sobre a efetividade dessas políticas,
Objetivos
O principal objetivo é analisar a viabilidade e a pertinência de uma futura avaliação de resultados, impactos e custo-benefício do PBSI, por meio da identificação de elementos estruturais, processuais e de resultados disponíveis.
Metodologia
Especificamente, busca-se construir um modelo lógico do programa, propor uma matriz de indicadores e fomentar o debate com os diversos atores envolvidos na implementação da política. A metodologia adotada baseia-se no referencial de Thurston e Ramaliu, com abordagem qualitativa e participativa, incluindo análise documental, revisão de escopo, entrevistas com informantes-chave, mapeamento de stakeholders e oficinas de validação. Foram elaborados os roteiros de entrevistas, aplicáveis a: 1) gestores e formuladores do PBSI, recrutados a partir do método de bola de neve; 2) profissionais de saúde bucal dos DSEI; 3) usuários indígenas do SUS, recrutados a partir do método de bola de neve.
Resultados
Os roteiros de entrevistas foram apresentados a representantes de todos os grupos a serem investigados juntamente com a Área Técnica de Saúde Bucal Indígena e a Coordenação Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde. Na ocasião, após um momento de resgate dos servidores do ministério, os pesquisadores envolvidos na pesquisa apresentaram as etapas do projeto em andamento, especificamente a análise documental, revisão de escopo e construção de instrumento. Cada instrumento foi apresentado e discutido com um representante de seus potenciais participantes, havendo a escuta das percepções e validando os três instrumentos. Ademais, foi pactuado o perfil de amostragem dos grupos de stakeholders.
Conclusões/Considerações
O projeto AVALIA-PBSI avança na construção de bases metodológicas e operacionais para uma futura avaliação da política de saúde bucal indígena. Ao incorporar diferentes perspectivas e respeitar a diversidade sociocultural dos povos indígenas, contribui para o fortalecimento da gestão pública, da equidade em saúde e do controle social no SUS.
ALIMENTAÇÃO INDÍGENA E O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR: UM ESTUDO SOBRE HÁBITOS ALIMENTARES E PERMANÊNCIA ESTUDANTIL
Pôster Eletrônico
1 UFG
Apresentação/Introdução
Muitos Indígenas têm buscado formação acadêmica nas universidades. Na instituição pública de ensino superior, ações como o curso de Educação Intercultural, o Núcleo Takinahakỹ e o Programa Alimentação visam garantir inclusão e permanência. O Restaurante Universitário (RU), exerce papel essencial ao ofertar refeições saudáveis e acessíveis, aos estudantes em vulnerabilidade.
Objetivos
Analisar a conformidade dos cardápios de um restaurante universitário de IES com os hábitos alimentares de estudantes indígenas.
Metodologia
Estudo transversal, quanti-qualitativo, do tipo estudo de caso, com discentes indígenas da UFG, de ambos os sexos e sem restrição de idade. Segundo a pró-reitoria de estudantes, são 299 estudantes indígenas ativos em 2023; Foram consideradas 15 respostas válidas. A coleta ocorreu via formulário online, contemplando hábitos alimentares e consumo alimentar antes e após o ingresso na universidade. As etapas foram: i) identificação de hábitos alimentares indígenas; ii) elaboração do formulário; iii) aplicação aos participantes; iv) análise qualitativa do cardápio do RU; v) formulação de banco de dados e avaliação crítica dos cardápios; vi) análise e discussão dos dados.
Resultados
Notou-se elevada ingestão de ultraprocessados e bebidas artificiais pelos indígenas. Apenas 40% dos participantes relataram consumir frutas e verduras diariamente. O consumo de arroz e feijão é predominante, e proteínas como carne bovina, suína e frango são ingeridas majoritariamente de uma a duas vezes por semana.. O consumo de peixe é reduzido, apesar de estar presente no cardápio do RU. Nos dias sem funcionamento do RU, os estudantes recorrem a alimentos de baixo custo, como macarrão instantâneo, ou não realizam refeições. Sugestões para o café da manhã incluíram alimentos industrializados, não tradicionais nas culturas indígenas.
Conclusões/Considerações
O estudo evidencia a importância do RU na permanência dos discentes indígenas, ressaltando a necessidade de adaptações no cardápio para atender suas especificidades culturais e nutricionais. Recomenda-se a valorização de alimentos in natura e minimamente processados, respeitando a diversidade alimentar dos povos indígenas e promovendo a segurança alimentar no ambiente universitário.
INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE INDÍGENA SOBRE MORBIDADE
Pôster Eletrônico
1 UECE
2 DSEI -CE
3 DSEI-CE
Apresentação/Introdução
Os perfis de saúde-doença dos povos indígenasl, correlacionam-se com a sua interação com a sociedade, junto com a restrição de terras, introdução de doenças nessa população, antes desconhecidas, as relações socioeconômicas e acesso aos serviços de saúde e educação. Apesar das mudanças e avanços a atenção à saúde indígena, ainda existem lacunas sobre a situação em saúde desses povos
Objetivos
Dessa forma este trabalho teve por objetivo geral avaliar a morbidade, doenças de notificação compulsória, no período de 2016 a 2020, na população indígena do Ceará.
Metodologia
Realizou-se estudo quantitativo, de abordagem descritiva. Avaliou-se o período de 2016 a 2020, tendo como fonte de dados os casos de morbidade, de notificação compulsória, informadas no Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIAS)I e Painel SIASI.A pesquisa será realizada no estado do Ceará, em 17 municípios que possuem população cadastrada e atendida no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASI-SUS) do Distrito Sanitário Especial Indígena- DSEI-Ceará. No período avaliado, o DSEI-Ceará tinha como organização abrange nove Polos Base, distribuídos em 18 municípios.
Resultados
No período de avaliação, houve uma média 52,6 notificações de casos por ano. As doenças sexualmente transmissíveis e transmitidas por vetores, representaram 27% e 24,3 % do total dos casos registrados, respectivamente. Em relação aos registros por sexo, notou-se, entre nos anos de 2016 a 2020, 54% (142) dos casos notificados foram de mulheres. Os homens foram frequentes na notificação por sífilis não especificada 60,4% (29). Já a população feminina, foi predominante nas notificações por Tuberculose 51,5% (17); Hanseníase 52,6% (10) e Violência interpessoal/ autoprovocada 76%.
Conclusões/Considerações
É importante destacar que além da fragilidade dos fluxos para registro e interoperabilidade entre os sistemas, uma significativa limitação é a deficiência na completude da variável raça/cor indígena no SINAN. também apontado em outros estudos, o que prejudica a identificação dos casos, consequentemente, subnotificação e dificuldades na análise de situações de inequidades de saúde na população indígena.
PERFIL DO ATENDIMENTO ANTIRRÁBICO EM INDÍGENAS DA AMAZÔNIA LEGAL (2014–2023)
Pôster Eletrônico
1 UERR
2 UNAMA
3 UFPA
Apresentação/Introdução
A raiva humana permanece uma zoonose de alta letalidade, cujo tratamento é exclusivamente preventivo através da profilaxia pós-exposição. Em contextos amazônicos, a compreensão plena da dinâmica da doença em populações indígenas revela importantes desafios relacionados ao acesso aos serviços de saúde, vigilância epidemiológica e resposta adequada às exposições ao vírus da raiva.
Objetivos
Caracterizar o perfil das notificações com animais potencialmente transmissores do vírus rábico em indígenas da Amazônia Legal numa série histórica de 10 anos.
Metodologia
Estudo retrospectivo descritivo de 2014 a 2023, com o uso de dados secundários da ficha de Atendimento Antirrábico Humano (AARH) exportados do Sistema de Informação de Agravo e Notificação, através do site de domínio público do DataSUS, em https://datasus.saude.gov.br/transferencia-de-arquivos/ acessado em 16/06/2025.Os dados foram exportados em base dbf e transformados para o formato Excel. Utilizando o software SSPSS V. 20.1 foram calculadas as frequências relativa e absoluta para o estado notificador, tipo de animal, localização do ferimento, sexo e idade.
Resultados
Entre 2014 e 2023, foram notificadas 10.086 AARH na Amazônia Legal, concentrando-se principalmente nos estados do Amazonas (31,81%), Maranhão (17,40%), Pará (14,52%) e Roraima (13,31%), que juntos somam 77,04% dos casos. Os ferimentos foram por mordedura (87,47%), profundos (45,52%) e localizados nos membros inferiores (45,57%). Os principais agressores foram cães (74,65%), morcegos (12,19%), outros (7,34%) e felinos (5,82%). A população mais afetada foi composta por homens (57,03%), adultos (41,13%) e crianças indígenas de 0 a 12 anos (39,78%). Entre as crianças, os ataques por cães foram predominantes (71,78%), seguidos por morcegos (14,16%), outros animais (8,33%) e felinos (5,73%).
Conclusões/Considerações
As mordeduras por quirópteros foram a segunda maior causa da busca por AARH em indígena nos estados da Amazônia Legal. Os morcegos atualmente são os principais transmissores do vírus nas comunidades indígenas e a complexidade da vigilância do ciclo silvestre da raiva indica que medidas diferentes de vigilância devem ser adotadas. A abordagem intercultural deve ser discutida devido a presença constante desses animais em territórios indígenas.
IMPACTOS DA TRIPLA CRISE PLANETÁRIA NA SAÚDE DAS COMUNIDADES YANOMAMI: ANÁLISE DA MALÁRIA E ONCOCERCOSE
Pôster Eletrônico
1 USP
Apresentação/Introdução
Os povos Yanomami, enfrentam ameaças à saúde devido à tripla crise planetária: mudanças climáticas, degradação ambiental e desigualdades socioeconômicas. Essas questões comprometem a saúde e a subsistência. A mineração ilegal e as mudanças climáticas exacerbam doenças como malária e oncocercose, resultando em altas taxas de mortalidade e desnutrição.O trabalho analisa esses impactos na comunidade.
Objetivos
Analisa os impactos da tripla crise planetária na saúde das comunidades Yanomami, com enfoque em malária e oncocercose e identifica falhas na governança da saúde e o impacto da mineração ilegal, afim de mitigar melhorias para o território.
Metodologia
A pesquisa emprega uma abordagem de métodos mistos, combinando uma revisão abrangente da literatura sobre a tripla crise planetária e suas implicações na saúde dos Yanomami, com dados recentes do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami (DSEI-Y). A análise inclui a coleta de dados epidemiológicos relacionados à malária e oncocercose, bem como um exame das condições socioeconômicas e ambientais que influenciam a saúde nessa população. A pesquisa também considera a interconexão entre degradação ambiental e saúde pública.
Resultados
Os resultados mostram um aumento alarmante na incidência de malária, com 714,1 casos por 100.000 indivíduos em 2023, e a oncocercose permanece endêmica. A mineração ilegal contribuiu para a proliferação de criadouros de mosquitos, aumentando a transmissão de doenças. As condições socioeconômicas, exacerbadas pela degradação ambiental e pela crise política na Venezuela, levaram a tensões sociais e à competição por recursos, impactando negativamente a saúde das comunidades Yanomami. Relatórios indicam que a presença de mineiros ilegais está associada ao aumento das taxas de doenças infecciosas.
Conclusões/Considerações
As descobertas indicam uma necessidade de políticas que priorizem a saúde e os direitos dos Yanomami a qual incluem o fortalecimento das proteções legais contra a mineração ilegal, a melhoria da infraestrutura de saúde e a implementação de estratégias de saúde integradas que respeitem as práticas culturais.
EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS EM UMA COMUNIDADE INDIGÍNA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDIGÍNA ARAGUAIA
Pôster Eletrônico
1 Distrito Sanitário Especial Indígena Araguaia (DSEI-ARA)
Período de Realização
Mês de maio de 2025
Objeto da experiência
Promover por meio da educação popular em saúde a autonomia e o autocuidado da população indígena na prevenção e no tratamento das doenças crônicas.
Objetivos
Promover práticas alimentares saudáveis;
Promover o uso adequado e racional de medicamentos;
Identificar usuários que necessitam de atendimento individual/compartilhado da equipe Multiprofissional de Saúde Indígena;
Evitar complicações e internações vindas da falta de controle das doenças crônicas.
Descrição da experiência
Trata-se de um relato de experiência descritivo de ações de educação popular, voltados às comunidades indígenas de duas aldeias, os facilitadores foram: 3 nutricionistas, 1 farmacêutica, 2 médicas, 2 enfermeiros, técnicos de enfermagem e AIS, e 5 acadêmicos indígenas do curso técnico de enfermagem. Foram divididos em 4 momentos: a) acolhimento; b) aferição da PA, GLI e avaliação antropométrica; c) roda de conversa mais apresentação de painel sobre o diabetes; d) lanche com comidas tradicionais.
Resultados
No primeiro e segundo encontro foram 19 e 59 usuários, respectivamente, predominantemente mulheres. Dentre os usuários foram identificados casos que necessitavam de ajuste na medicação e foram encaminhados para atendimento médico posterior, durante a roda de conversa os técnicos e AIS faziam a tradução para língua materna, foi abordado o uso de medicamentos e alimentação saudável, notou-se participação ativa da comunidade que relataram suas experiências e suas dúvidas sobre os temas abordados.
Aprendizado e análise crítica
As comunidades indígenas vêm passando por uma transição epidemiológica nutricional, com a entrada de alimentos processados e ultraprocessados, a diminuição na produção da agricultura familiar, o que é agravado pela vulnerabilidade socioeconomica e perda da cultura alimentar das comunidades, tendo maior incidência de pessoas com doenças crônicas. Outro fator é a recusa em fazer o tratamento e/ou o uso inadequado dos medicamentos que se torna uma barreira para o cuidado das pessoas com DCNT.
Conclusões e/ou Recomendações
A ação foi voltada para promover o autocuidado e a promoção da saúde dos participantes, a partir da união dos conhecimentos biomédicos e medicina indígena, com incentivo à cultura alimentar. Conclui-se que ações de educação popular devem ser realizadas de forma periódica e são fundamentais atualmente nas comunidades indígenas para favorecer a troca de experiência entre os usuários e fortalecer o vínculo com os profissionais de saúde.
FORMAÇÃO DISCENTE E SAÚDE BUCAL INDÍGENA: EXPERIÊNCIA EM INQUÉRITO EPIDEMIOLÓGICO EM SAÚDE BUCAL COM A POPULAÇÃO XAVANTE
Pôster Eletrônico
1 UFG
2 ENSP/Fiocruz
Período de Realização
A coleta de dados foi realizada entre agosto e setembro de 2023 e entre fevereiro e março de 2024.
Objeto da experiência
Inquérito epidemiológico em saúde bucal com os A’uwe Xavante, realizado em projeto de extensão fruto de uma parceria entre a UFG e a ENSP/Fiocruz.
Objetivos
Proporcionar aos discentes vivência prática em inquérito epidemiológico de saúde bucal de povos indígenas, gerando dados que subsidiem políticas públicas e intervenções em saúde, promovendo a integração entre ensino, pesquisa e extensão.
Descrição da experiência
A equipe, composta por oito discentes e um docente, atuou em 14 aldeias da Terra Indígena Pimentel Barbosa (MT), com apoio e tradução de indígenas locais. A calibração dos examinadores foi conduzida no modo In Lux. Realizaram exames clínicos bucais ao ar livre, seguindo protocolo da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal 2020, adaptado à realidade local. Os dados foram registrados em tablets. Alojados em escolas locais, os discentes vivenciaram imersão cultural e desafios logísticos.
Resultados
Foram examinadas 1187 pessoas indígenas. A atividade consolidou competências técnicas, interpessoais e culturais, fortalecendo a formação crítica dos discentes. Foram aprimoradas habilidades clínicas, de trabalho colaborativo e compreensão sobre os determinantes sociais da saúde. O inquérito gerou informações relevantes que podem subsidiar ações em saúde bucal e fomentar debates sobre a atenção à saúde de povos indígenas.
Aprendizado e análise crítica
A experiência contribuiu para a formação integral dos discentes, unindo saber técnico, ética, sensibilidade sociocultural e habilidades interpessoais. Destacaram-se desafios como barreiras linguísticas e adaptação ao trabalho de campo. Reforça-se o papel da extensão na formação de profissionais mais sensíveis às especificidades indígenas, ao promover consciência crítica sobre iniquidades em saúde, interculturalidade e integrar saberes acadêmicos e tradicionais.
Conclusões e/ou Recomendações
A experiência evidenciou o potencial transformador da extensão universitária na formação em saúde, ao integrar ensino, pesquisa e vivência intercultural. Recomenda-se o fortalecimento da preparação prévia dos discentes e a continuidade de ações que articulem os dados produzidos com políticas públicas voltadas às populações indígenas.
QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA NA AMPLIAÇÃO DO ACESSO DAS POPULAÇÕES INDÍGENAS DAS ETNIAS MOKURIN E MAXAKALI
Pôster Eletrônico
1 SES/MG
Período de Realização
As ações desenvolvidas foram realizadas nos anos de 2022 e 2023.
Objeto da experiência
Continuidade do cuidado das populações indígenas Maxakali e Mokurin nos serviços da Atenção Especializada.
Objetivos
Superar barreiras de acesso aos serviços especializados, garantir a continuidade e a integralidade do cuidado, fortalecer a articulação intersetorial e qualificar os fluxos assistenciais das Unidades Básicas de Saúde Indígena para o Centro Estadual de Atenção Especializada.
Metodologia
A proposta consistiu na organização de ações intrassetoriais da gestão estadual da saúde entre áreas técnicas de Saúde Indígena, incorporada à Atenção Primária à Saúde e Atenção Especializada; na definição dos municípios da Unidade Regional de Saúde de Teófilo Otoni nos quais concentram-se as populações das etnias Maxakali e Mokurin; na designação das linhas de cuidado a serem priorizadas, sendo as de pré-natal, puerpério e primeira infância; e na determinação do fluxo de cuidado.
Resultados
Nota Informativa Conjunta SES/SUBPAS-SAPS-DPS N 3511/2022, que estabelece a responsabilidade do Distrito Sanitário Especial Indígena pela estratificação de risco e discussão multidisciplinar; os municípios pela organização do transporte em saúde; apoio diagnóstico e terapêutico; e agendamentos das consultas; e o Centro Estadual de Atenção Especializada pelo acolhimento dos usuários, realização dos atendimentos compartilhados e interdisciplinares e elaboração do Plano de Cuidado Compartilhado.
Análise Crítica
A articulação intrassetorial das áreas técnicas da Secretaria de Estado de Saúde; assim como a articulação intersetorial com as gestões municipais e federal; foram fortalecidas com a definição de atribuições e responsabilidades compartilhadas e específicas de cada dispositivo, de maneira a promover a continuidade do cuidado nos diferentes níveis de atenção. Sobreleva-se a participação de lideranças indígenas em todo o processo, como requisito para a designação dos encaminhamentos e produtos.
Conclusões e/ou Recomendações
Necessidade de ações de qualificação dos profissionais dos municípios e do Centro Estadual de Atenção Especializada quanto aos modos próprios de existência dos povos originários, considerando os aspectos culturais destas comunidades. A experiência permitiu a organização dos fluxos assistenciais, com especial olhar à população indígena aldeada do território, enquanto ação de enfrentamento às barreiras de acesso e piores índices epidemiológicos.
TECENDO REDES NO ATENDIMENTO ÀS GESTANTES DA TERRA INDÍGENA JARAGUÁ
Pôster Eletrônico
1 Núcleo Gestor de Humanização- SES
2 Coordenadoria Regional de Saúde Norte- SMS
3 UBSI Aldeia Jaraguá Kwarãy Djekupé
4 UNIFESP
5 Supervisão Técnica de Saúde de Pirituba- SMS
6 Coordenadoria Regional de Saúde Norte- SMS São Paulo
7 Hospital Geral de Taipas
Período de Realização
Início em 2022, retomada em 2024 com nova gestão e implantação das ações até o momento.
Objeto da experiência
Gestantes da Terra indígena Jaraguá, equipes de saúde da UBSI, da maternidade do Hospital Geral de Taipas, representantes da gestão local e regional.
Objetivos
Fortalecer o trabalho em rede entre equipes da TI Jaraguá e do Hospital Geral de Taipas; qualificar o cuidado a mulheres indígenas Guarani Mbyá e seus bebês no pré-natal, parto e puerpério, com respeito intercultural e abordagem participativa.
Metodologia
Com a pandemia, houve uma alteração na referência para partos da UBS Aldeia Jaraguá Kwarãy Djekupè (UBSI). Tendo em vista o vínculo entre a Terra indígena (TI) e a antiga maternidade, iniciou-se uma aproximação com o novo hospital para garantia da equidade e respeito aos traços culturais dessa população. Visitas à Terra Indígena e encontros entre lideranças indígenas e equipes de saúde resultaram na construção coletiva do Protocolo de Atenção às gestantes da Terra Indígena do Jaraguá.
Resultados
Foram estabelecidos fluxos de atendimento com profissionais de referência na UBSI e na maternidade para otimizar a comunicação e o acolhimento, garantindo a entrega da placenta, o respeito às restrições alimentares e costumes no pós-parto. Outra ação conjunta, foi o plano de parto em Guarani e a visita à maternidade específica para mulheres indígenas. De janeiro de 2023 a 2024, ocorreram 19 partos na maternidade de referência, 5 domiciliares e 5 em outros hospitais. Atualmente, há 17 gestantes.
Análise Crítica
Como desafios, temos a necessidade de garantir a sustentabilidade do processo mesmo com as mudanças de gestão e a importância da capilarização das orientações entre os diferentes setores do hospital para um acolhimento mais efetivo, principalmente no pronto-atendimento.
Destacamos a potência da visita in loco por parte dos profissionais como forma de ampliar o olhar para singularidades da população indígena e a visita à maternidade como possibilidade de maior vinculação com o hospital.
Conclusões e/ou Recomendações
O estreitamento de vínculos entre os profissionais envolvidos no cuidado permite maior alinhamento dos fluxos, refletindo positivamente na implementação do protocolo.
As boas práticas no pré-natal, parto e nascimento aliadas ao respeito à diversidade cultural e a uma experiência positiva durante esse processo, tem um impacto direto na confiança e segurança das mulheres indígenas quando buscam assistência, principalmente em ambiente hospitalar.
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MIGUILIM NAS ESCOLAS INDÍGENAS DE CARMÉSIA E GUANHÃES EM MINAS GERAIS: MÓDULO DE SAÚDE OCULAR
Pôster Eletrônico
1 Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais - SES-MG
2 Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais - SEE-MG
3 Ministério da Saúde
Período de Realização
Iniciou-se em agosto de 2024, com visita técnica e primeiras triagens realizadas em maio de 2025.
Objeto da experiência
Promoção e atenção à saúde de crianças e adolescentes indígenas por meio de ações de saúde ocular no âmbito do Programa Miguilim, em contexto escolar.
Objetivos
Implementar o Programa Miguilim nas escolas indígenas dos municípios de Carmésia e Guanhães;
Capacitar os profissionais da educação indígena para a realização do teste de Snellen nas escolas;
Realizar consulta oftalmológica e concessão de óculos aos indígenas com alteração no teste de Snellen.
Metodologia
Implantação do Programa Miguilim - módulo de Saúde Ocular, nas escolas indígenas de Carmésia e Guanhães em Minas Gerais, onde residem os povos indígenas Pataxó. Foi articulada parceria entre a SES, SEE, DSEI, junto ao Grupo Condutor Estadual da Saúde Indígena de MG, que reúne as lideranças indígenas do estado. A escolha dos municípios considerou a quantidade de estudantes nas aldeias, a capacidade operacional de atendimento e a atuação dos gestores e lideranças indígenas na região.
Resultados
Foram qualificados para a realização do Teste de Snellen dos estudantes indígenas, 36 profissionais da saúde e educação dos territórios. Foram triadas 31 crianças indígenas no momento de formação dos profissionais da saúde e educação, sendo que 10 apresentaram alteração no Teste de Snellen e receberam indicação de encaminhamento à consulta oftalmológica na Atenção Especializada.
Análise Crítica
A articulação entre todos os atores, especialmente DSEI e SMS foi crucial para encaminhamento dos estudantes e garantia do transporte até o local onde será realizada a consulta. É necessário monitorar o processo até a entrega dos óculos e aplicar metodologias articuladoras para o processo de formação dos profissionais da saúde e educação indígenas, além da importância das lideranças na mobilização da comunidade escolar sobre o uso dos óculos, respeitando a identidade cultural indígena.
Conclusões e/ou Recomendações
A saúde ocular é essencial no processo educacional. O programa buscou atender uma população historicamente vulnerável, com dificuldade de acesso à saúde, o que representa um avanço significativo na saúde pública de MG. Nesse contexto, o Miguilim é uma importante ferramenta para a garantia de direitos e inclusão, e dessa forma, corrige não apenas limitações visuais, mas também supre um histórico déficit de acesso para populações vulneráveis.
ARTE E SAÚDE: CRIAÇÃO DE HISTÓRIA ILUSTRADA SOBRE DESNUTRIÇÃO ENERGÉTICO‑PROTEICA EM COMUNIDADES INDÍGENAS AMAZÔNICAS
Pôster Eletrônico
1 UEPA
Período de Realização
Janeiro de 2024 a maio de 2025.
Objeto da experiência
Produção de história ilustrada para retratar as causas, os impactos e possíveis soluções da insegurança alimentar em povos indígenas da Amazônia.
Objetivos
Desenvolver história ilustrada integrando saberes científicos e cosmovisões indígenas; Sensibilizar discentes e profissionais de saúde sobre insegurança alimentar; Avaliar causas da insegurança alimentar nas comunidades indígenas amazônicas; Fortalecer protagonismo de estudantes indígenas na saúde.
Metodologia
Para compreender a cosmovisão indígena, entrevistas com antropólogo, médica e estudante indígena revelaram desafios da migração aldeia-cidade e das mudanças na dinâmica alimentar. Analisamos fontes diversas e impactos de mudanças climáticas, garimpo e agronegócio. A narrativa traduz essas questões em cenas sobre perda ecológica, ultraprocessados e resgate alimentar ancestral por um jovem indígena.
Resultados
A experiência evidenciou lacunas na formação em saúde sobre povos indígenas e levou à criação de recursos visuais sobre degradação ambiental, urbanização e insegurança alimentar. O roteiro, em 3 arcos, acompanha um indígena médico que une saberes para enfrentar desafios em sua comunidade. A boa receptividade em eventos e o interesse docente mostram o potencial da arte na formação e na sensibilização intercultural.
Análise Crítica
A pesquisa revelou preconceitos na formação médica e a importância de ouvir vozes indígenas. A abordagem biomédica ainda predomina, e projetos artísticos exigem tempo e apoio institucional. A integração entre saberes tradicionais e técnicos é essencial, mas carece de políticas de fomento. A arte se mostrou potente na educação, desde que envolva participação genuína e evite reproduzir colonialismos.
Conclusões e/ou Recomendações
Recomendamos incluir arteterapia e narrativas visuais nos currículos de saúde; promover parcerias com lideranças indígenas; criar disciplinas de comunicação intercultural; financiar projetos artístico-educativos; fortalecer políticas do SUS que integrem ensino, saúde e comunidades tradicionais; e valorizar práticas integrativas, com protagonismo indígena e diálogo entre saberes.
OUVINDO VOZES INDÍGENAS: RELATO DE UM PROCESSO FORMATIVO SOBRE SAÚDE MENTAL INDÍGENA JUNTO À COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA
Pôster Eletrônico
1 Universidade Federal de São Carlos -UFSCar
Período de Realização
Em ações da Residência Multiprofissional em Saúde Mental da UFSCar, entre novembro/2024 e junho/2025.
Objeto da experiência
Relatar ação formativa sobre saúde mental indígena com estudantes indígenas e profissionais da Assistência e Saúde a nível municipal e institucional.
Objetivos
Tendo em vista a marcante presença indígena na universidade, a ação teve como objetivo ampliar o debate sobre a saúde mental junto aos Povos Indígenas e profissionais que atuam com essa população, explorando as estratégias de promoção de saúde e possíveis intervenções, por meio de ações formativas.
Descrição da experiência
Dada a presença de Indígena nas universidades, principalmente em São Carlos, onde há reservas de vagas para estudantes indígenas desde 2008.Foi utilizado material semi estruturado, abordando:Definição,especificidades e cuidados na Saúde Mental . Os encontros foram realizados nos quatro campi da UFSCar, sendo presencial no campus sede e remoto nos demais.
Resultados
As ações tiveram início em projeto aplicativo, mas percebe-se a importância de sua continuidade, portanto, articulou-se seu seguimento em estágio eletivo, junto às ações da Coordenadoria de Articulação em Saúde Mental da UFSCar. Foram realizados 3 encontros formativos em 2024 e 6 em 2025. Participaram pessoas indígenas e não indígenas, totalizando 222 participantes nos 4 campi. A discussão abordou a importância das ações humanizadas e que valorizem as especificidades dos povos indígenas.
Aprendizado e análise crítica
A formação ofereceu espaço para abordar a saúde mental dos povos Indígenas, considerando a importância desse debate para ampliar a presença e a permanência indígena na UFSCar. É fundamental a qualificação da comunidade interna e externa, incluindo profissionais e estudantes, pois ainda temos lacunas a respeito do cuidado ofertado a esta população, ainda invisibilizada, para construir uma saúde mental, de base psicossocial, que olhe para todos, com suas subjetividades e singularidades.
Conclusões e/ou Recomendações
Essas formações devem priorizar o diálogo com os povos indígenas, para que suas particularidades sejam consideradas e contempladas. Sistematizar ações como essa deve ser uma ação contínua para fortalecer ações de pertencimento e permanência dos povos indígenas na universidade. O reconhecimento e a valorização da diversidade cultural, são fundamentais nas práticas de cuidado, da saúde mental dos povos indígenas.
ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DO AMBULATÓRIO INTERCULTURAL DE SAÚDE INDÍGENA (AISI): UMA PROPOSTA DE EQUIDADE E JUSTIÇA EPISTÊMICA NA ATENÇÃO À POPULAÇÃO INDÍGENA DE CAMPINAS
Pôster Eletrônico
1 Unicamp
Período de Realização
Março de 2024 (contato do DSEI) até maio de 2025 (Encontro “Abril Indígena é o Ano Inteiro”)
Objeto da experiência
Elaboração da proposta de criação do Ambulatório Intercultural de Saúde Indígena (AISI) na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
Objetivos
Criar estrutura para qualificar serviços de saúde da Unicamp e rede-SUS Campinas para desenvolver atenção adequada às especificidades da população indígena de Campinas e desenvolver modalidades de atenção baseadas no diálogo intercultural e no respeito e na interlocução com as medicinas indígenas
Descrição da experiência
A partir de contato do DSEI Litoral Sul sobre possibilidade de Campinas aderir ao Incentivo à Atenção Especializada a Povos Indígenas, realizaram-se reuniões com SESAI, Ambulatório de Saúde dos Povos Indígenas do HSP, DSEI etc., e estudos de pesquisas com estudantes indígenas da Unicamp, culminando na apresentação de uma primeira versão da proposta para coletivos indígenas, órgãos da Unicamp (FCM, HC, Caiapi) e representantes da SESAI e AgSUS no Encontro “Abril Indígena é o Ano Inteiro”
Resultados
Proposta inovadora orientada para: garantir acesso a especialistas de medicinas indígenas (EMIs); desenvolver apoio matricial nos serviços da Unicamp e rede SUS-Campinas na perspectiva da interculturalidade e telematriciamento entre EMIs, conectando EMIs em atuação presencial no AISI a EMIs de referência de usuários indígenas; elaborar estratégias para formação em saúde indígena na Unicamp. Apoio do HC, da FCM e do Ministério da Saúde. Elaboração de projeto nacional da AgSUS a partir da proposta
Aprendizado e análise crítica
Foi evidenciada importância de diálogo amplo, com múltiplos atores institucionais e não institucionais, para construção da proposta. O estudo de experiências anteriores e de pesquisas com estudantes indígenas foi essencial para a concepção de ambulatório centrado no apoio matricial e baseado em equipe multiprofissional associada a EMIs, estrutura adequada para população multiétnica e predominantemente diaspórica dispersa em malha urbana, como reconhecido pelos atores indígenas presentes no Encontro
Conclusões e/ou Recomendações
A experiência de elaboração da proposta do AISI reafirma o compromisso com a equidade e a justiça epistêmica na saúde, valorizando saberes indígenas, especialmente as medicinas indígenas, e fortalecendo a perspectiva do cuidado intercultural e do apoio matricial. O processo demonstrou que o diálogo colaborativo é essencial para construir respostas inovadoras e sensíveis às especificidades das populações indígenas em contexto urbano
LINHA DE PESQUISA SOBRE SAÚDE DOS POVOS INDÍGENAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR)
Pôster Eletrônico
1 UFSCar
Período de Realização
A linha de pesquisa se inicia em 2024 no Grupo de Pesquisa Educação Popular em Saúde (GPEPS).
Objeto da experiência
Relato de experiência de uma linha de pesquisa em Saúde dos Povos Indígenas, sua relação com a Extensão e a participação de pesquisadores indígenas.
Objetivos
Desenvolver pesquisas interdisciplinares e interinstitucionais, com temáticas decoloniais e não extrativistas, que integram a saúde dos povos indígenas aos diferentes campos de conhecimento, protagonizadas por indígenas, que valorizem a interculturalidade crítica, a intermedicalidade e o bem viver.
Descrição da experiência
A linha de pesquisa surgiu do histórico de conquistas de acesso à UFSCar pelos indígenas em 2008 e posterior aprovação da Política de Ações Afirmativas, em 2016. Assim, surgem pesquisadores indígenas na instituição, com orientação de docentes das áreas da Medicina, Antropologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Esses atores passam a ofertar atividades de extensão alocadas no Programa de Extensão em Saúde Indígena e no PET Indígena Ações em Saúde e a desenvolver pesquisas nesse campo.
Resultados
Estão sendo desenvolvidas pesquisas a partir de um projeto chamado: Mapeamento sociodemográfico e análise de experiências de indígenas nos serviços de saúde, em um município do interior do estado de São Paulo. Deste projeto, estão em processo de coleta de dados 3 pesquisas de Mestrado, 1 Iniciação Científica e 1 Trabalho de Conclusão de Residência. A quase totalidade dos trabalhos contam com pesquisadores indígenas como autores principais, sob a orientação de 5 docentes de diferentes profissões.
Aprendizado e análise crítica
Pesquisar sobre a saúde indígena exige reconhecer a sua invisibilidade histórica na produção científica e desafia silêncios e apagamentos historicamente produzidos no campo da saúde coletiva. A presença de pesquisadores e estudantes indígenas é fundamental para tensionar o saber acadêmico, promover a pluralidade epistemológica e construir abordagens comprometidas com o bem viver e a saberes integrados à terra, ao corpo e ao território, fundamentais para o enfrentamento das crises do século XXI.
Conclusões e/ou Recomendações
É necessário ampliar o reconhecimento institucional às pesquisas com protagonismo indígena, garantindo suporte ético, metodológico e político, assim como o enfrentamento ao racismo, à discriminação e tutela. Recomenda-se fortalecer espaços que acolham epistemologias plurais, valorizem o diálogo intercultural crítico e a participação ativa de indígenas como produtores legítimos de conhecimentos nos diversos ambientes, inclusive o acadêmico.
TECENDO SABERES: O CUIDADO COMPARTILHADO ENTRE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE INDÍGENA E OS CUIDADORES TRADICIONAIS INDÍGENAS NO MUNICÍPIO DE QUITERIANOPOLIS.
Pôster Eletrônico
1 Fiocruz Ceará e DSEI-CE
2 Fiocruz Ceará
3 Dsei-CE
4 Dsei_CE
5 DSEI-CE
Período de Realização
Criado em 2019 e segue em atividade até os dias atuais (2025), com encontros mensais nas aldeias.
Objeto da experiência
Criar espaço de troca de saberes e cuidado integral entre profissionais de saúde indígena e cuidadores tradicionais.
Objetivos
Fortalecer a medicina indígena e promover o cuidado compartilhado entre saberes ancestrais e científicos, contribuindo para a promoção da saúde, a prevenção de doenças e o bem viver do povo indígena Quiterianópolis.
Metodologia
Relato sobre o grupo Saberes e Sabores que Curam e Previnem, formado por profissionais de saúde e cuidadores tradicionais do povo Tabajara, no Sertão dos Inhamuns. Com encontros mensais, o grupo promove trocas de saberes sobre raízes, ervas e alimentos tradicionais, fortalecendo a medicina indígena e o cuidado intercultural. A culminância anual gera produto técnico com os saberes sistematizados
Resultados
A iniciativa fortaleceu a valorização da medicina tradicional indígena, ampliou o vínculo entre a comunidade e a equipe de saúde, e promoveu o cuidado integral, o bem viver, o respeito às diversidades étnicas e a interculturalidade. Os encontros mensais possibilitaram o resgate de saberes, a organização de hortos comunitários e a produção anual de um material técnico com os registros dos conhecimentos compartilhados.
Análise Crítica
A experiência mostrou a importância de integrar os saberes tradicionais à atenção básica indígena, com respeito às práticas culturais e diálogo com escuta sensível. Reforça a urgência de políticas públicas interculturais. Contudo, ainda há desvalorização dos saberes indígenas por parte de alguns profissionais, o que compromete a resolutividade dos casos e gera conflitos no cuidado em saúde.
Conclusões e/ou Recomendações
A vivência com o grupo evidencia que não há cuidado pleno sem reconhecer e valorizar os saberes tradicionais. É essencial fortalecer práticas interculturais no SasiSUS, com diálogo entre profissionais e cuidadores indígenas. A medicina tradicional é ciência viva, enraizada na ancestralidade, espiritualidade e resistência, essencial ao bem viver.
A DÉCADA DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL NO BRASIL E AS TEIAS DE ATENÇÃO EM SAÚDE NA APS
Pôster Eletrônico
1 UFSB
2 (Dsei-Ba)
3 UFJF/GV
Período de Realização
janeiro de 2024 a dezembro de 2024
Objeto da experiência
Práticas inspiradoras para a Década do Envelhecimento Saudável nas Américas que promovam as capacidades das pessoas idosas
Objetivos
A fundamentação da teoria de “teias de interdependência”, enquanto ponto reflexivo, abre possibilidades para práticas integradas e colaborativas do cuidado na APS, dada a sua perspectiva de compreensão dos determinantes em saúde
Descrição da experiência
A experiência de educação em saúde foi conduzida na comunidade indígena Boca da Mata ao longo de 2024. A aldeia está situada no território indígena Barra Velha, no extremo sul da Bahia. A comunidade possui uma população total de 971 pessoas, das quais 67 possuem 60 anos ou mais. O perfil de saúde da aldeia reflete a vulnerabilidade social influenciada por determinantes como a longa história de contato com a população não indígena e questões como ausência de saneamento básico e água tratada
Resultados
Foram definidos como referenciais pedagógicos para a atividade a educação em saúde e a educação popular, pois desempenham papéis cruciais na promoção do envelhecimento saudável. Por meio de abordagens participativas, essas metodologias incentivam a autonomia dos idosos, reforçando o protagonismo em suas próprias histórias de vida. A educação em saúde oferece informações sobre a prevenção de doenças, enquanto a educação popular valoriza as experiências e saberes dos idosos
Aprendizado e análise crítica
Os profissionais devem conhecer, interagir e ouvir o território onde atuam. É preciso compreender que o território indígena é um lugar dinâmico e diverso, em que os indivíduos tecem e trilham em seu itinerário terapêutico uma rede viva, sendo, portanto, protagonistas do seu cuidado em saúde. Faz parte da atuação profissional compreender e valorizar a riqueza que o território vivo tem a oferecer, construindo uma relação com base no diálogo e respeito às experiências prévias dos indivíduos
Conclusões e/ou Recomendações
Este ambiente promoveu trocas de experiências entre os idosos. Durante o processo, destacou-se a importância do diálogo para estimular reflexões críticas sobre a realidade na promoção de mudanças significativas. Por fim, a atividade contribuiu para o estabelecimento de redes ou teias ainda mais fortes entre equipe de saúde, idosos e outros agentes do território, fundamentais para o cuidado integral da pessoa idosa
O RESGATE DA SAÚDE BUCAL INDÍGENA NO GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO
Pôster Eletrônico
1 MS/SESAI
2 AgSUS
Período de Realização
Janeiro de 2023 até o momento.
Objeto da experiência
Monitoramento do indicador de primeira consulta odontológica programática da população indígena.
Objetivos
Analisar a evolução do acesso à saúde bucal da população indígena no Brasil entre 2023 e 2024, evidenciando avanços, obstáculos territoriais e climáticos, e a importância do indicador de primeira consulta odontológica programática na garantia do direito universal à saúde.
Descrição da experiência
A experiência baseia-se no monitoramento do indicador prioritário do Programa de Saúde Bucal monitorado pelos diversos instrumentos de gestão sobre a primeira consulta odontológica programática da população indígena, com dados do SIASI. A partir de 2023, registraram-se avanços, com 46,24% da população atendida, e 44,90% em 2024. A experiência evidencia esforços interinstitucionais diante de desafios climáticos, logísticos e territoriais, reafirmando o compromisso com o direito à saúde.
Resultados
Os dados revelam avanço progressivo no acesso entre 2023 e 2024, mesmo com a leve queda em 2024. Essa evolução positiva reflete maior articulação local, formação de equipes e uso do SIPLAM como ferramenta de gestão. Persistem desafios como distância das aldeias, impacto das secas nos rios e dispersão geográfica, afetando a continuidade do cuidado.
Aprendizado e análise crítica
A experiência reafirma a importância do uso de indicadores como instrumento de planejamento e equidade. Reforça a necessidade de políticas adaptativas frente às mudanças climáticas e infraestrutura resiliente. Evidencia-se a urgência de ampliar a integração entre saúde bucal e atenção primária, respeitando as particularidades culturais e territoriais dos povos originários.
Conclusões e/ou Recomendações
Recomenda-se o fortalecimento da estratégia de monitoramento dos indicadores e da logística operacional em territórios indígenas. É fundamental garantir financiamento sustentado, formação continuada e adaptação dos serviços frente aos impactos ambientais, diversidade cultural e linguística, promovendo assim o direito à saúde com equidade e justiça social para os povos indígenas.
MULHERES INDÍGENAS UNIVERSITÁRIAS: EXPERIÊNCIAS SOBRE CUIDADOS À SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 UFSCar
Período de Realização
Início em 2024, após ingressar no mestrado profissional em Gestão da Clínica; estudo em andamento.
Objeto da experiência
A experiência de uma pesquisadora indígena usando um método indígena, intercultural e decolonial, para conhecer o contexto de acadêmicas indígenas.
Objetivos
O estudo busca compreender experiências de autoatenção e itinerários terapêuticos das mulheres indígenas universitárias, suas percepções sobre o corpo, intersecções entre medicinas indígenas e biomédica, acesso à saúde no SUS e na universidade.
Metodologia
Este projeto faz parte do macroprojeto: “MAPEAMENTO SOCIODEMOGRÁFICO E ANÁLISE DE EXPERIÊNCIAS DE INDÍGENAS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE, EM UM MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO”. Neste processo de formação como pesquisadora tenho a oportunidade de estudar sobre saúde da mulher indígena podendo observar as ausências de povos indígenas na produção científica, sobretudo no âmbito da saúde, a fim de contribuir para melhores desfechos no campo da saúde coletiva e nas políticas públicas.
Resultados
O Estudo estudo se encontra em fase de buscas na literatura para construção de referencial teórico e construção da metodologia, são realizados encontros mensais do macroprojeto com o Grupo de Pesquisa Saúde dos Povos Indígenas, nas quais o grupo contribui diretamente com sugestões na construção do método e divulgação, acompanhando o desenvolvimento da pesquisa, a partir das aproximações nesta linha de pesquisa.
Análise Crítica
Contribuir para o desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares com protagonismo e empoderamento das mulheres indígenas, sob uma perspectiva não extrativista, que interligam a saúde dos povos indígenas aos diferentes campos de conhecimento, reconhecendo a ciência indígena, promovendo a saúde de forma crítica e reflexiva, no âmbito da intermedicalidade, interculturalidade e do bem viver, utilizando um método que valoriza o conhecimento ancestral, aproximando profissionais e usuárias indígenas.
Conclusões e/ou Recomendações
É preciso expandir as pesquisas com protagonismo indígena, baseado em evidências científicas e experiências, para promover o reconhecimento institucional e formação profissional com objetivo de fortalecer espaços que acolham as pluralidades epistemológicas, que valorizem o diálogo intercultural, crítico-reflexivo das ciências indígenas, como ferramenta de combate ao racismo institucional e estrutural na saúde e nas instituições de ensino superior.
SABERES INDÍGENAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 GHC / UFRGS
2 MNU
3 GHC
4 GHC aposentada
Período de Realização
de 14 a 19 de abril de 2025
Objeto da experiência
atividade acadêmica híbrida, com representantes da SESAI, atividades nos refeitórios dos hospitais do GHC, exposição da arte e cultura indígena.
Objetivos
reforçar o compromisso com a saúde e bem-estar dos povos indígenas, com iniciativas que visam promover a igualdade racial e o respeito à diversidade. O GHC tem realizado esforços para garantir o acesso à saúde para a população indígena, incluindo o atendimento às crianças indígenas.
Descrição da experiência
Capacitação com o tema “Reflexão acerca dos Povos Nativos - promoção da comunidade indígena no GHC”, que reuniu trabalhadores de diferentes áreas, reconhecendo a pluralidade existente entre as diferentes etnias do Brasil e a luta dos povos originários pela manutenção de seus direitos e o combate ao preconceito; as refeições servidas tiveram pratos típicos dos povos indígenas como base; exposição com itens da cultura indígena.
Resultados
A promoção das atividades durante toda a semana permitiu que trabalhadores e usuários pudessem refletir sobre os desafios e estratégias no atendimento à população indígena no ambiente hospitalar, assim como, o reconhecimento da luta dos povos originários pela manutenção de seus direitos e o combate ao preconceito.
Aprendizado e análise crítica
A CEPPIR/GHC incentiva e promove formações e eventos que valorizem a cultura e a história dos povos indígenas. Os saberes dos povos originários fazem parte da vivência no SUS, o que proporciona uma troca entre culturas diariamente, agregando no acolhimento e humanização dentro do ambiente hospitalar, respeitando as diversidades existentes.
Conclusões e/ou Recomendações
As atividades deste ano trouxeram novamente o respeito e a valorização dos saberes e cultura dos povos originários há algum tempo esquecidas. Nosso compromisso é ampliar a promoção de eventos e formações durante todo o ano, agregando as atividades ao calendário oficial do GHC.
DIÁLOGOS INTERCULTURAIS EM SAÚDE MENTAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL: MATRICIAMENTO DA FORÇA NACIONAL DO SUS PARA CUIDADO ÀS POPULAÇÕES INDÍGENAS
Pôster Eletrônico
1 IP/UnB
2 Fiocruz/ENSP
3 Faculdade Phorte
4 PUC-SP
5 UFJF
6 IG/UNICAMP
Período de Realização
O matriciamento ocorreu no primeiro semestre de 2025, com encontro específico sobre a temática em 09/04.
Objeto da experiência
Relato do matriciamento realizado com a equipe de Saúde Mental e Atenção Psicossocial (SMAPS) da Força Nacional do SUS (FNSUS) sobre saúde indígena.
Objetivos
Capacitar a equipe SMAPS da FNSUS para atuação intercultural, abordando desafios e ferramentas para intervenção no contexto de populações indígenas brasileiras, destacando o diálogo com profissionais atuantes em áreas remotas.
Metodologia
Diante das emergências em saúde pública, a FNSUS atua com equipes especializadas, e a SMAPS conta com profissionais qualificados para intervir em diferentes tipologias de desastres. Para isso, a educação continuada é fundamental para manter a equipe atualizada e preparada. Observa-se uma atenção crescente às populações localizadas em regiões de difícil acesso, majoritariamente indígenas. Com vistas a essa atuação foi realizado um matriciamento sobre Bem Viver e Saúde Mental Indígena.
Resultados
Observou-se o interesse dos profissionais pela temática, destacando a importância de haver espaços de diálogo sobre o tema. Ressalta-se especialmente a relevância da facilitadora ser indígena e abordar o assunto a partir de referenciais teóricos construídos por profissionais indígenas, constituindo uma perspectiva coerente ao processo formativo. Essa abordagem fortalece o reconhecimento de saberes diversos e amplia as possibilidades de atuação em contextos interculturais.
Análise Crítica
A formação específica do dia 09/04 com duração de 2h para voluntários da FNSUS destacou a importância de ampliar a formação em SMAPS para o cuidado a populações indígenas. Abordaram-se estratégias de vínculo, temas como luto, relação com o território e crises ambientais, além de ferramentas específicas para atuar nesses contextos, respeitando saberes e práticas culturais locais e fortalecendo o cuidado em saúde de forma sensível e contextualizada.
Conclusões e/ou Recomendações
A atividade possibilitou o diálogo com a equipe e apontou caminhos para ampliar os espaços formativos em SMAPS, considerando as especificidades culturais e territoriais. Recomenda-se o desenvolvimento de ferramentas de cuidado contextualizadas e a articulação com saberes locais, como os de parteiras, lideranças comunitárias e agentes locais, fortalecendo a construção coletiva.
O TORÉ COMO ACOLHIMENTO E EXPRESSÃO ANCESTRAL: EXPERIÊNCIA EM OFICINA COM POVOS INDÍGENAS NO SERTÃO DE CRATEÚS
Pôster Eletrônico
1 FIOCRUZ-CE
2 MOVIMENTO INDÍGENA
3 UnB
Período de Realização
No dia 29 de abril de 2025 na localidade indígena de Realejo, zona rural dos Sertões de Crateús-CE
Objeto da experiência
Participamos de um toré com povos indígenas que reuniu aproximadamente 30 pessoas de diversas etnias, fomentando diálogos e saberes intercultural
Objetivos
Relatar a vivencia do ritual do Toré com os povos Potiguara, Tabajara, Kalabaça, Kariri, como momento inicial de uma oficina com povos indígenas, destacando sua dimensão espiritual, cultural e coletiva
Descrição da experiência
Fomos acolhidos com o Toré, ritual que remete a ancestralidade dos povos indígenas. Momento conduzido por pajés presentes, figuras centrais nas práticas espirituais e na preservação das tradições. A dança aconteceu ao ar livre, em um espaço sagrado, simbólico e cheio de significado, à sombra de um cajueiro e rodeado por plantas nativas. Formou-se um círculo guiado ao som do maracá, das pisadas firmes e de um canto que fala da voz do povo como força de resistência que une e fortalece sua luta
Resultados
O Toré reflete o Bem Viver de Acosta ao integrar espiritualidade, natureza e coletividade. O canto entoado dizia: “A mata virgem estava escura quando o luar clareou; mas quando eu ouvi a voz do meu povo; todos os índios aqui chegou”. Reafirma força ancestral e identidade indígena, valoriza saberes e propõe harmonia entre os seres, respeito à vida e ao bem-estar coletivo. Neste sentido, a ancestralidade ensina modos sustentáveis e rompe com a lógica ocidental de desenvolvimento individualista.
Aprendizado e análise crítica
Participar do Toré foi uma experiência única que vai além do evento, convidando ao reconhecimento de outras formas de estar no mundo. A dança não foi apenas um ato de acolhimento, mas uma potente forma de expressão da resistência e da espiritualidade dos povos indígenas. Os cantos e os movimentos corporais criaram um ambiente de união e respeito, evocando forças ancestrais e reafirmando a identidade dos povos ali representados.
Conclusões e/ou Recomendações
A vivência do Toré nos colocou em sintonia com os saberes e modos de vida dos participantes indígenas. Abriu caminhos para escuta sensível e diálogo respeitoso, em sintonia com o Bem Viver de Acosta, que destaca a ligação entre pessoas, cultura e natureza. Essa experiência fortaleceu a construção de práticas em saúde mais culturalmente comprometidas, respeitando a diversidade e o equilíbrio necessário para o bem-estar coletivo e individual.
DESAFIOS E POSSIBILIDADES NA IMPLEMENTAÇÃO DO PSE EM ESCOLAS INDÍGENAS: EXPERIÊNCIA DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO NO POLO BASE DE PORTO SEGURO (BA)
Pôster Eletrônico
1 SESAI
2 UFSB
Período de Realização
Maio de 2025, durante a Oficina de Planejamento do Programa Saúde na Escola Indígena do DSEI-BA.
Objeto da experiência
Planejamento participativo das ações do PSE em escolas indígenas, a partir da escuta de profissionais da saúde e da educação.
Objetivos
Identificar coletivamente os principais desafios e potencialidades para a implementação do Programa Saúde na Escola em territórios indígenas, com foco na construção de propostas articuladas às realidades socioculturais, institucionais e intersetoriais do território.
Descrição da experiência
Durante a Oficina de Planejamento do PSE Indígena no Polo Base de Porto Seguro, foram debatidas seis temáticas centrais: interculturalidade, saúde mental e bem viver, condições de saúde de crianças e adolescentes, intersetorialidade, protagonismo estudantil e desafios para execução do PSE. A discussão interprofissional e intersetorial, com registro coletivo das contribuições, permitiu sistematizar percepções e propor ações aderentes às realidades locais.
Resultados
Foram identificadas fragilidades como o predomínio do modelo biomédico, ausência de escuta aos estudantes, desarticulação entre saúde e educação e invisibilidade da saúde mental. Entre as propostas destacam-se: integração dos cuidadores tradicionais, inclusão do PSE no calendário escolar, metodologias participativas com jovens e fortalecimento da atuação intersetorial com envolvimento das lideranças e das famílias.
Aprendizado e análise crítica
A experiência revelou que os desafios da implementação do PSE em territórios indígenas estão profundamente vinculados às desigualdades estruturais e ao não reconhecimento da diversidade cultural. A escuta qualificada das equipes demonstrou que soluções viáveis emergem quando há diálogo, valorização do território e reconhecimento dos saberes tradicionais. A participação ativa dos profissionais permitiu explicitar invisibilidades e propor caminhos coerentes com a realidade local.
Conclusões e/ou Recomendações
O fortalecimento do PSE em escolas indígenas requer ações que superem a lógica setorial e considerem as especificidades socioculturais dos povos indígenas. Recomenda-se o uso contínuo de metodologias participativas no planejamento das ações, a valorização de saberes tradicionais e o protagonismo juvenil. A experiência destaca a importância de institucionalizar espaços de escuta e pactuação como parte da gestão pública em saúde e educação indígena.
YAPÓ: FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE INDÍGENA NO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN
Pôster Eletrônico
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO CÂMARA/RN
Período de Realização
Fevereiro a julho de 2024
Objeto da experiência
Implantação de estratégias de vigilância em saúde sensíveis à cultura indígena no município de João Câmara/RN.
Objetivos
Fortalecer a vigilância em saúde indígena com ações integradas e intersetoriais, respeitando as especificidades culturais, com foco na promoção do cuidado, formação de vigilantes populares, implantação de sala de situação e ampliação da cobertura vacinal.
Descrição da experiência
O Projeto YAPÓ foi implementado em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e o DSEI, visando estruturar ações de vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental e comunitária junto às comunidades indígenas de João Câmara/RN. Com enfoque intercultural, foram realizados encontros com lideranças, capacitações, vacinação em massa, criação de comitê indígena de vigilância e ações itinerantes com especialistas, respeitando os modos de vida e saberes tradicionais dos povos atendidos.
Resultados
A ação resultou na formação de vigilantes populares indígenas, implantação de uma sala de situação, aumento da cobertura vacinal e mobilização comunitária com protagonismo das lideranças locais. O projeto fortaleceu o diálogo entre saberes tradicionais e práticas biomédicas, além de estimular a participação social no monitoramento e planejamento das ações, promovendo maior reconhecimento territorial e autonomia comunitária.
Aprendizado e análise crítica
A experiência revelou que ações de vigilância em saúde mais eficazes surgem do reconhecimento da diversidade cultural e do protagonismo indígena. A escuta qualificada das comunidades permitiu a construção de estratégias ajustadas às realidades locais. Contudo, desafios persistem na articulação interinstitucional e na superação do racismo institucional ainda presente nos serviços. O projeto demonstrou a importância da formação continuada e da autonomia das comunidades no cuidado com sua saúde.
Conclusões e/ou Recomendações
Recomenda-se a ampliação e institucionalização de projetos como o YAPÓ nos territórios indígenas, com financiamento contínuo e protagonismo das comunidades. É necessário fortalecer os comitês de vigilância indígena, garantir atendimento especializado respeitoso e ampliar o diálogo entre sistemas médicos. O reconhecimento da interculturalidade deve ser princípio orientador na consolidação do SasiSUS.
ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE INDÍGENA: UMA FERRAMENTA DE APOIO NA REDUÇÃO DAS INIQUIDADES EM SAÚDE EM SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM.
Pôster Eletrônico
1 IFAM
Período de Realização
Ocorreu durante o primeiro semestre de 2025.
Objeto da experiência
Descrever a realização do Curso de Especialização Técnica em Saúde Indígena na formação de profissionais para a atuação em ambientes interétnicos.
Objetivos
Descrever a formação especializada em Saúde Indígena para os profissionais da área de enfermagem da região do Alto Rio Negro; Fomentar um diálogo intercultural e a atenção diferenciada às populações indígenas a partir da Política de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI).
Metodologia
Trata-se de um relato de experiência, construído a partir da vivência dos profissionais de Enfermagem que já atuam junto aos povos indígenas, no município de São Gabriel da Cachoeira, que possui mais de 90% de suas áreas já demarcadas entre os inúmeros povos indígenas que vivem na região. O curso surgiu da demanda local por uma formação para atuação em ambientes interétnicos e foi realizado pelo Instituto Federal de Educação do Amazonas, Campus São Gabriel da Cachoeira.
Resultados
A Especialização Técnica em Saúde Indígena surgiu da necessidade de atender as especificidades da população indígena, que apresenta um perfil epidemiológico diferenciado, com maior prevalência de doenças infecciosas, a malária, a tuberculose, DSTs, entre outras relacionadas a falta de saneamento ambiental. Nessa primeira turma formaram-se 26 profissionais de saúde de diferentes etnias, bem como não indígenas, que saem mais aptos para atender a diversidade étnica e cultural da região.
Análise Crítica
O IFAM campus São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, está inserido em um município majoritariamente indígena e de maior diversidade étnica, onde convivem cerca de vinte e três etnias, com registro de quatro línguas cooficiais, além do português. Sendo estas: nheengatu, tukano, baniwa e mais recente o Yanomami. A oferta de uma Especialização Técnica em Saúde Indígena insere-se nesse contexto de atender as necessidades sociolinguísticas e culturais dos diferentes povos indígenas.
Conclusões e/ou Recomendações
A promoção da saúde indígena sempre foi um desafio, seja na dificuldade de recursos e acesso as áreas mais isoladas, como na escassez de profissionais, principalmente da própria região e falante das línguas indígenas. Assim, observa-se a importância de criar estratégias de viabilizar a capacitação dos profissionais de saúde, indígenas e não indígenas, visando reduzir as iniquidades em saúde nessa população mais vulnerável.
DISSEMINAÇÃO DA CIÊNCIA, ARTE E DIÁLOGOS DE SABERES COM OS POVOS ÍNDIGENAS E TRABALHADORES DO SASI-SUS DO CEARÁ
Pôster Eletrônico
1 Fundação Oswaldo Cruz Ceará
2 Representante Indigena do Povo Anacé
3 Dsei Ceará
Período de Realização
Realizado entre abril e maio de 2025.
Objeto da experiência
A Jornada de Saúde Indígena em alusão ao Abril de Lutas em defesa da vida dos povos indígenas do Ceará.
Objetivos
Relatar a experiência de fortalecimento de mobilização social, comunicação e disseminação científica sobre a saúde dos povos indígenas do Ceará; Fortalecer o reconhecimento territorial e cultural dos povos originários.
Metodologia
A Jornada percorreu territórios do litoral ao sertão cearense, promovendo diálogos entre os povos indígenas, pajés, lideranças, pesquisadores, educadores, jovens, gestores e profissionais do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena do Sistema Único de Saúde (SASI-SUS). Foram realizados: seminários, oficinas, atividades culturais, rodas de conversa, lançamento de vídeo, entrega de cartilhas que divulgam as práticas e saberes indígenas para a promoção da saúde e valorização da identidade indígena.
Resultados
Fortalecimento da parceria com o DSEI-CE discutindo as vivências e experiências do cotidiano da gestão do SASI-SUS no estado, com professores de instituições de ensino e público em geral. As atividades alcançaram 8 povos, sendo: 20 lideranças, 50 representantes indígenas, 15 profissionais de saúde e 30 professores. Foram distribuídos 1.500 materiais educativos, apresentado um vídeo do povo Anacé e debatido sobre as práticas de cuidado, manejo ambiental e políticas de inclusão nos territórios.
Análise Crítica
A jornada reforçou a importância da autonomia comunitária, do reconhecimento territorial e da integração entre educação, arte, comunicação e saúde, que são bases na construção de políticas públicas inclusivas e na defesa da ciência a serviço da vida. Além disso, fortaleceu e ampliou as parcerias institucionais com as lideranças indígenas.
Conclusões e/ou Recomendações
A troca entre saberes dos povos originários e acadêmicos contribuiu para a valorização das práticas indígenas na promoção da saúde. Portanto, recomenda-se a continuidade de ações de disseminação científica, ampliando redes de colaboração e fortalecendo espaços de participação dos povos indígenas na formulação de políticas públicas e qualificação do cuidado nos serviços de saúde indígenas junto com os pesquisadores.
PRÁTICAS TRADICIONAIS E SAÚDE: PLANTAS MEDICINAIS NO TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO EM POVOADO INDÍGENA
Pôster Eletrônico
1 UNEB
2 UNEB e Territorio Massacará
Período de Realização
Realizado em 2024..
Objeto da experiência
Valorização de saberes indígenas, promovendo cuidados em saúde que respeitam cultura e tradição como chás ou infusões específicas.
Objetivos
Este relato objetiva apresentar conhecimentos, habilidades e atitudes de profissionais de saúde indígenas na utilização de ervas medicinais para hipertensão arterial, destacando a articulação entre práticas tradicionais e saúde ocidental na Terra Indígena Massacará, Bahia.
Metodologia
O relato de experiência foi realizado na Terra Indígena Massacará, Bahia, por meio de entrevista semiestruturada com duas técnicas de enfermagem indígenas. A coleta ocorreu durante atividade extensionista conduzida por três fisioterapeutas, abordando a articulação dos sistemas tradicionais indígenas e a saúde ocidental, além do uso de ervas medicinais no manejo da hipertensão arterial.
Resultados
Os profissionais indígenas utilizam ervas medicinais como Capim Santo, Camomila, com infusão, e a Jurema para manejo da hipertensão arterial sistémica, integrando saberes tradicionais e biológicos. Hortas na unidade de saúde, comunitárias e participação em conferências fortalecem essa prática. Contudo, há resistência de alguns usuários e profissionais à medicina tradicional, evidenciando desafios na integração dos sistemas de saúde indígena e ocidental no território Massacará.
Análise Crítica
A experiência evidenciou a importância da valorização dos saberes indígenas no manejo da hipertensão por profissionais de saúde, promovendo cuidado integral e culturalmente sensível. O uso das plantas medicinais fortalece a identidade e autonomia do povo Kaimbé, apesar das resistências enfrentadas. O relato destaca a necessidade de diálogo e capacitação para integrar práticas tradicionais e biomédicas, contribuindo para a saúde intercultural e a preservação cultural no território Massacará.
Conclusões e/ou Recomendações
O relato reforça a relevância das práticas tradicionais na promoção da saúde indígena, especialmente no controle da hipertensão arterial. Destaca-se a necessidade de políticas que incentivem a valorização desses saberes e a capacitação contínua dos profissionais de saúde. A integração cultural é fundamental para ampliar e fortalecer o acesso e a efetividade do cuidado no território Massacará.
CASA DE TAIPA DA MEDICINA INDÍGENA XUKURU DO ORORUBÁ: TRADIÇÃO E ANCESTRALIDADE NO ENCONTRO ENTRE SABERES DE SAÚDE DO PASSADO E DO PRESENTE
Pôster Eletrônico
1 UFPE
2 Povo Xukuru do Ororubá
Período de Realização
O espaço foi aberto à visitação na 25ª Assembleia Xukuru do Ororubá, entre 17 e 20 de maio de 2025.
Objeto da experiência
A Casa de Taipa possibilitou caminhar pela história e tradições da medicina de um povo que (re)existe e se fortalece a partir da sua ancestralidade.
Objetivos
Criar um espaço para o resgate e a valorização da prática ancestral do cuidado na defesa da saúde e da vida, compreendendo que no território se faz uma saúde diferenciada, não apenas por pertencer a um Subsistema, mas por constituir um legado de tradição e costumes do Povo Xukuru do Ororubá.
Descrição da experiência
Na entrada, um pergaminho levava à fonte de água de caju roxo e mel e a foto do Mandaru (cacique Xikão que foi assassinado). No chão coberto por folhas, a travessia se dava em três pausas: chá, álcool e lambedor, proporcionando sentir sabores e aromas. Ao centro, as ervas medicinais utilizadas e nas paredes, registros por fotos em preto e branco apresentavam os cuidadores indígenas, ancestralizados ou não. A parede de fundo reverenciou três grandes guerreiras: Dona Lica, Dona Dina e Dona Judith.
Resultados
Concebida articulada ao memorial Lica Xukuru, símbolo da valorização e resgate da Medicina Indígena, a Casa de Taipa proporcionou uma viagem conectando passado e presente. Os detentores de conhecimentos tradicionais: parteiras, rezadores(ras), raizeiros(ras) e suas ervas apresentaram a medicina da natureza, alicerçada na ciência da mata e conhecimentos repassados a gerações com a intercessão dos Encantados, guerreiro(as) ancestralizado(as) que guardam a Serra Sagrada do Mestre Rei do Orubá.
Aprendizado e análise crítica
Conhecer a história e as pessoas que fizeram e fazem a Medicina Indígena reveste-se de importância para a discussão e reflexão sobre as ações desenvolvidas no subsistema de atenção à saúde indígena e sua relação com as práticas ancestrais e tradicionais dos povos originários. A Casa de Taipa bradou que saúde não se restringe ao atendimento médico e que a saúde Xukuru é diferenciada não por pertencer a um Sistema, mas por pertencer a um povo, um legado de tradição, história, identidade e cultura.
Conclusões e/ou Recomendações
(Re)visitar a história, costumes e aprendizados na trilha dos passos dos ancestrais, desvelou o alicerce e as referências dos fazeres e saberes da Medicina Xukuru. Um legado escrito com a memória que preserva a cultura, tradição e identidade de um povo. Como anunciado no pergaminho de entrada da Casa de Taipa: “Aqui, nos conectamos com a nossa essência voltando ao passado, para refletirmos sobre o presente e projetarmos o futuro da nossa nação”.
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA MULTIPROFISSIONAL EM MEDICINAS INDÍGENAS COM GRADUANDAS INDÍGENAS
Pôster Eletrônico
1 Universidade Federal do Pará
Período de Realização
o projeto de realização é de 01 de Março à 30 de junho de 2025.
Objeto da experiência
Relato de experiências sobre Implementação de um projeto de extensão em medicinas indígenas, juntamente com movimento indígena.
Objetivos
Descrever a implementação de projeto de extensão multiprofissional pautado no ciclo feriado, ação–reflexão–ação para identificação de demandas formativas e práticas prioritárias sobre medicinas indígenas.
Descrição da experiência
Ocorreu a parceria com movimento indígena e juntamente com mais seis graduandas indígenas dos cursos de Farmácia, Biomedicina e Enfermagem para mapear dez práticas de medicinas indígenas. Foi realizado mapeamento de produção sobre o tema e a identificação das áreas estabelecidas e conduzido apontamentos para criação de cartilhas e vídeos sobre medicinas indígenas e submetidos a ciclos formativos de grupos universitários.
Resultados
Foi dado ponto de partida da análise bibliográfica sobre medicinas e pesquisas indígenas, no qual já se identifica a lacuna na inclusão de medicinas tradicionais indígenas nas formações dos cursos de Farmácia, Biomedicina e Enfermagem dada a predominância de abordagem biomédica com pouca co-autoria indígena o que aponta a necessidade de metodologias participativas e co-produção de saberes medicinais indígenas.
Aprendizado e análise crítica
A Cogestão com movimentos indígenas legitima conteúdos. O Ciclo ação–reflexão–ação
fortalece identidades profissionais e competências interculturais. No entanto, há dificuldade de conciliar calendários acadêmicos em virtude da carga horária limitada para extensão universitária.
Conclusões e/ou Recomendações
O modelo participativo, ainda em fase inicial, mostra-se promissor para empoderar graduandas indígenas e consolidar a interculturalidade no ensino multiprofissional. Portanto, em análise preliminar, verifica-se a necessidade de prosseguir ciclos avaliativos e ampliar para outras áreas da saúde e integrar medicinas indígenas como componente obrigatório nos currículos de saúde.
ACOMPANHAMENTO DO ESTADO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS INDÍGENAS MENORES DE 5 ANOS
Pôster Eletrônico
1 SESAI/MS
Período de Realização
Série histórica do período de 2015 a 2024
Objeto da experiência
Monitoramento da vigilância alimentar e nutricional de crianças menores de 5 anos em territórios Indígenas
Objetivos
Objetivos
Identificar deficiências nutricionais e riscos à saúde possibilitando intervenções em tempo oportuno;
Desenvolver intervenções em nutrição e saúde nos territórios;
Reunir subsídios para melhor desenvolvimento de políticas públicas na área da nutrição infantil.
Metodologia
A experiência monitora continuamente o estado alimentar e nutricional de crianças indígenas menores de 5 anos, com dados do SIASI. Visa garantir avaliações regulares e identificar precocemente agravos nutricionais, apoiando intervenções adequadas nos territórios. Com uma série histórica de dez anos, permite analisar tendências nutricionais e avaliar os impactos das ações implementadas.
Resultados
A análise dos dados do SIASI mostra avanços na vigilância nutricional de crianças indígenas menores de 5 anos, com maior alcance e regularidade das avaliações. Observa-se estabilização do estado nutricional adequado e redução do déficit de peso, indicando maior efetividade das intervenções na atenção básica. O monitoramento contínuo é essencial para detectar precocemente agravos e direcionar respostas adequadas.
Análise Crítica
A vigilância nutricional indígena mostrou-se essencial para a detecção precoce de riscos e para orientar intervenções adequadas. O aumento da cobertura reflete o fortalecimento das ações, porém a queda em 2024 indica desafios logísticos e operacionais. A manutenção de indicadores estáveis de peso adequado e redução do déficit evidencia eficácia, mas destaca a necessidade de ações contínuas, capacitação das equipes e respeito às especificidades culturais para aprimorar os resultados.
Conclusões e/ou Recomendações
A vigilância alimentar e nutricional é fundamental para detectar riscos nutricionais e orientar políticas territoriais. É essencial garantir continuidade das ações, fortalecer a logística e capacitação das equipes, além de incorporar aspectos culturais nas estratégias nutricionais. Reforça-se a importância da vigilância como política permanente para assegurar a saúde e o desenvolvimento adequado das crianças indígenas menores de 5 anos.
CARCINOMA PAPILÍFERO DE TIREOIDE EM PACIENTE DA ETNIA KURIPAKO: UM RELATO DE CASO SÓCIO-ÉTNICO-CULTURAL
Pôster Eletrônico
1 Prefeitura Municipal de Guarulhos
2 Projeto Xingu / UNIFESP
Período de Realização
DEZEMBRO DE 2024 A ABRIL DE 2025
Objeto da experiência
Relato de carcinoma papilífero em indígena Kuripako, abordando saúde, doença, território, língua e compreensão no contexto sociocultural
Objetivos
Descrever um caso de carcinoma papilífero de tireoide;
Abordar a manifestação da doença na perspectiva da etnia Kuripako;
Relacionar aspectos científicos com étnico-culturais.
Descrição da experiência
CLG, mulher de 84 anos, etnia Kuripako, da comunidade indígena Roraima (Alto Rio Negro), São Gabriel da Cachoeira-AM. Encaminhada por equipe da EDS após suspeita de tumor de tireoide. Relatava “bola no pescoço” desde jan/24, sem dor, disfagia ou perda de peso. Inicialmente associou o quadro a uma “maldição”, após sonho com cobra, buscando tratamento com Pajé. A condição persistiu. Exames revelaram TIRADS V e citopatológico Bethesda V, sugerindo malignidade.
Resultados
Compareceu ao ASPIN em Jan/25, encaminhada do DSEI Alto Rio Negro, acompanhada do filho, que atuou como interlocutor. Paciente com 8 gestações, nega comorbidades. Realizou tireoidectomia total no HSP em Fev/25, sem complicações, estridor ou dispneia. Relatava estar curada da maldição, negando a sensação da cobra no pescoço após o procedimento. Durante o período, permaneceu na CASAI São Paulo.
Aprendizado e análise crítica
O significado da cobra para a etnia Kuripako e outras do Alto Rio Negro está ligado à cosmologia, sendo símbolo de perigo e avisos espirituais em sonhos. Para estes povos, a manifestação de doença pode estar relacionada a essa interpretação, como no caso da paciente, que sonhou com uma cobra em seu pescoço e passou a sentir-se amaldiçoada.
Conclusões e/ou Recomendações
O atendimento aos povos indígenas exige fortalecimento de competências culturais de acordo com cada etnia atendida. É necessária compreensão cosmológica, como significado de animais e sonhos, para correlacionar com aspectos clínicos de saúde ou doença que alguns indígenas podem apresentar, e fornecer melhor cuidado em saúde.
REDUÇÃO DAS EXTRAÇÕES DENTÁRIAS NO DSEI ALTO RIO JURUÁ: EXPERIÊNCIA DE AÇÕES EDUCATIVAS JUNTO AOS AGENTES DE SAÚDE INDÍGENA
Pôster Eletrônico
1 Universidade Federal do Acre
Período de Realização
2013 a 2023
Objeto da experiência
Reduzir o número de extrações dentárias por meio de ações educativas e restauradoras.
Objetivos
Reduzir o número de extrações dentárias por meio de ações educativas e restauradoras.
Integração entre saúde e valorização cultural, e ações educativas como ferramentas de aproximação e construção de confiança por parte das etnias atendidas e as equipes de saúde.
Descrição da experiência
Foram realizadas ações educativas envolvendo agentes indígenas (AIS) e equipes de saúde bucal. Essas ações incluíram orientações em saúde bucal, escovação supervisionada com entrega de kit de higiene bucal quatro vezes ao ano e procedimentos restauradores com técnicas como o Tratamento Restaurador Atraumático (ART) como é abordado no artigo de Spezzia, S. (2019), sempre respeitando a cultura indígena.
Resultados
Ao longo de 10 anos, na aldeia Extrema no município de Rodrigues Alves, a parceria entre AIS e equipes de saúde bucal transformou, significativamente, a saúde bucal da comunidade. Inicialmente, muitas extrações dentárias eram realizadas, mas com ações educativas, preventivas e o envolvimento cultural dos AIS, esse número caiu drasticamente de 100 extrações em 2013, para apenas 2 extrações de dentes permanentes no ano de 2023.
Aprendizado e análise crítica
As educações em saúde bucal com a participação conjunto dos AIS, representou excelente resultado na resolução no alto número de extrações dentárias na aldeia extrema por meio do estímulo das ações de saúde de forma respeitosa e contínua pela autonomia do indivíduo e da coletividade na prática das ações de saúde bucal no território e no auxílio dos atendimentos com interação tradicional da cultura indígena.
Conclusões e/ou Recomendações
A construção de saberes por meio da interação tradicional da cultura indígena levou a melhora nos resultados de atendimentos da população indígena no Distrito Sanitário Especial Indígena – DSEI Alto Rio Juruá. Essa conquista só se tornou possível por meio da integração entre saúde e valorização cultural, e ações educativas como ferramentas de aproximação e construção de confiança por parte das etnias atendidas e as equipes de saúde.
CUIDADO E VIGILÂNCIA POPULAR EM SAÚDE: PROTAGONISMO INDÍGENA FRENTE ÀS EMERGÊNCIAS CLIMÁTICAS
Pôster Eletrônico
1 Fiocruz Ceará e DSEI-CE
2 Fiocruz Ceará
3 Universidade de Brasília (UnB)
4 CLSI
5 DSEI_CE
Período de Realização
Realizada 29 e 30 de abril de 2025, nos turnos manhã e tarde, na localidade de aldeia Realejo, Crateús-CE.
Objeto da experiência
Oficina com 30 indígenas dos Sertões de Crateús-CE (Potyguara, Tabajara, Kariri, Tupimambá e Kalabaça) para construção de plano de ação coletivo.
Objetivos
Relatar a experiência da pesquisa -realizada com povos indígenas para uma investigação-ação-participativa, que resultou na construção coletiva de um mapeamento participativo e um plano de ação com estratégias de enfrentamento às mudanças climáticas no território dos Sertões de Crateús-CE.
Metodologia
A experiência contou com dois encontros. Na acolhida, houve o toré e a técnica da “máquina fotográfica humana”, com reflexões sobre natureza, cultura e clima. No Círculo de Cultura, debateram-se os saberes indígenas e a saúde diante das mudanças climáticas. As atividades contribuíram para a construção coletiva de um plano de ação voltado ao enfrentamento dos impactos no contexto do semiárido.
Resultados
O plano ação elencou ações de vigilância popular em saúde, valorizando a medicina indígena e os modos de vida nos territórios. A experiência contribuiu para sistematizar práticas já existentes, evidenciando a importância dos saberes tradicionais no cuidado à saúde e no enfrentamento das mudanças climáticas, com destaque para o respeito à natureza e às tradições dos povos indígenas.
Análise Crítica
A construção do plano revelou que os povos indígenas enfrentam há gerações os impactos das mudanças climáticas, como a estiagem, resistindo com base nos saberes tradicionais. A pesquisa-ação-participativa possibilitou trocas, fortalecimento de vínculos e valorização das tradições. Reconhecer o protagonismo indígena é essencial no cuidado, no território e diante das crises climáticas.
Conclusões e/ou Recomendações
Conclui-se que fortalecer os saberes tradicionais e reconhecer o protagonismo indígena são caminhos essenciais para o cuidado integral e o enfrentamento das mudanças climáticas. A experiência vivida reafirma que os povos indígenas resistem historicamente com base em seus modos de vida e que ações construídas com diálogo e respeito às tradições geram vínculos, transformações e defesa do bem viver nos territórios.
VIAGEM DE UMA EFSI À ALDEIA DE ORIGEM EM PERNAMBUCO DE UMA COMUNIDADE PANKARARU ATENDIDA EM SÃO PAULO
Pôster Eletrônico
1 UBS Real Parque
Período de Realização
28 outubro à 02 de novembro de 2024
Objeto da experiência
Aprofundamento cultural na população indígena Pankararu atendida pela equipe de estratégia de saúde da família em SP
Objetivos
Refletir sobre conceitos de território, possibilidades e limites da coordenação do cuidado. Elaborar expansões possíveis da ESF e da APS em contextos específicos. Discutir sobre a intersetorialidade (entre redes de cuidados interestaduais) e cuidados tradicionais Pankararu
Descrição da experiência
Viagem realizada por membros da Equipe de Estratégia de Saúde da Família Indígena (ESFI) do Real Parque em São Paulo voltada ao atendimento de Pankararu em contexto urbano, até a aldeia de origem dessa população (Brejo dos Padres, Pernambuco), onde grande parte dos pacientes e familiares que acompanham na unidade residem
Resultados
Melhora dos vínculos com os pacientes a partir do aprofundamento no território e na comunidade de origem.Visualizadas potencialidades frente a contatos com polos de saúde e equipes locais, com impactos na coordenação do cuidado pela equipe e aumento do alcance das ações de estratégia
Aprendizado e análise crítica
Reflexão sobre as potencialidades e os desafios de uma equipe de estratégia que atua numa noção territorial com recorte etnico e não geográfico
Conclusões e/ou Recomendações
Compreender e promover a educação permanente em Saúde Indígena em contexto urbano e aldeado com valorização da ancestralidade e saberes indígenas
AÇÕES DE TELESSAÚDE PARA APOIAR A ATENÇÃO AOS POVOS INDÍGENAS NO BRASIL: EXPERIÊNCIA DO NÚCLEO TELESSAÚDE UFSC
Pôster Eletrônico
1 TELESSAÚDE/UFSC
Período de Realização
janeiro de 2024 a maio de 2025
Objeto da experiência
Ações de Telessaúde para apoiar profissionais e gestores do SUS na atenção à saúde dos povos indígenas no território brasileiro.
Objetivos
Relatar a experiência do Núcleo Telessaúde UFSC e analisar o alcance e benefícios das ações de apoio a profissionais e gestores do SUS na atenção à saúde dos povos indígenas, no Norte e Centro Oeste do Brasil.
Descrição da experiência
O Telessaúde UFSC atendeu à demanda do Ministério da Saúde para apoiar a implantação de ações de saúde digital pactuadas com Núcleos de Telessaúde no Norte e Centro Oeste do país. Foram realizadas reuniões virtuais e visitas técnicas para diagnóstico, definição e pactuação das ações prioritárias. A capacitação dos profissionais e gestores foi realizada de forma presencial e remota com reuniões para definição e validação de fluxos operacionais e formação técnica sobre a plataforma.
Resultados
Foram implantados 17 fluxos de telediagnóstico, 6 de teleconsultoria, 2 de teleatendimento, ampliando a resolutividade dos profissionais de saúde que atuam no território. Houve maior integração entre profissionais experientes em saúde indígena e os recém formados, redução de encaminhamentos/remoções desnecessários e inclusão da saúde digital como pauta de discussão nos espaços de deliberação. A ação envolveu a capacitação de 367 pessoas, articulação institucional e adesão de atores locais.
Aprendizado e análise crítica
Soluções tecnológicas devem respeitar especificidades culturais, geográficas e estruturais, e por isso devem inserir profissionais familiarizados com saúde indígena. Telessaúde é promissora para ampliar e qualificar o cuidado, e sua efetividade depende da escuta qualificada dos profissionais, integração com saberes locais, capacitação contínua das equipes e infraestrutura adequada. O modelo proposto destaca a importância do uso compulsório das ações como estratégia reguladora no SUS.
Conclusões e/ou Recomendações
O Telessaúde é uma estratégia viável e potente para qualificar o cuidado em saúde dos povos indígenas, desde que envolva planejamento participativo, formação contínua e valorização da interculturalidade. Recomenda-se investir em infraestrutura, ampliar o uso das ações e manter fluxos integrados e compulsórios para garantir sustentabilidade e efetividade das estratégias.
DA ALDEIA À UNIVERSIDADE: DESVENDANDO CAMINHOS PARA A SAÚDE INDÍGENA EM DIFERENTES REGIÕES DO BRASIL
Pôster Eletrônico
1 Docente Enfermagem da Universidade Federal da Fronteira Sul - Campus Chapecó-SC
2 Acadêmico Enfermagem, Universidade Federal da Fronteira Sul - Campus Chapecó-SC
3 Coordenador Regional da Funai Interior Sul
4 Acadêmica de Enfermagem da Universidade Federal da Fronteira Sul - Campus Chapecó-SC
5 Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca -ENSP-Fiocruz
Período de Realização
Realização da oficina ocorreu em 14/05/2025.
Objeto da experiência
Promover um espaço de diálogo e troca de conhecimentos sobre os desafios e avanços da saúde indígena nas diversas regiões do Brasil.
Objetivos
Realizar uma oficina, visando fomentar a reflexão crítica sobre as políticas públicas de saúde indígena, e as práticas da medicina tradicional indígena, particularidades étnicas, sob a ótica e vivência de acadêmicos indígenas, que ingressaram na Universidade.
Metodologia
A oficina emergiu a partir da construção do projeto intitulado “Governança e Redes de Atenção na Saúde Indígena: análises da saúde diferenciada no DSEI Interior Sul.” A oficina ocorreu no dia 14/05/2025, das 14h às 17h, na Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), campus Chapecó/SC. Participaram estudantes indígenas e docentes da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), além de profissionais da saúde indígena da região.
Resultados
A roda de conversa sobre saúde indígena, foi focada nas perspectivas e vivências de acadêmicos indígenas. Reuniu 40 participantes, destacaram-se estudantes indígenas da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), representando uma variedade de cursos de graduação, além de profissionais da saúde indígena e docentes. As participações ativa dos estudantes indígenas através das suas falas trouxeram à tona a complexidade e a riqueza da saúde indígena, transcende as abordagens puramente biomédicas.
Análise Crítica
A experiência evidenciou a importância da resultou em troca de saberes e experiências, onde a voz dos acadêmicos indígenas ressoou a resiliência e a luta dos povos para garantia de seus direitos fundamentais. Os acadêmicos indígenas compartilharam avanços significativos em suas trajetórias e nas práticas da medicina tradicional indígena, ao mesmo tempo em que destacaram a necessidade premente de ampliar o acesso e a permanência de estudantes indígenas na universidade por meio de políticas afirmativas.
Conclusões e/ou Recomendações
A oficina demonstrou a relevância de se criar e manter espaços de diálogo . A manutenção de oficinas como esta é crucial para seguir fomentando o debate, para os novos profissionais e fortalecendo a rede de apoio à saúde indígena, garantindo que os avanços alcançados sejam sustentáveis e que os desafios remanescentes sejam enfrentados com a devida atenção e comprometimento.
INOVAÇÃO METODOLÓGICA DO AIDPI COMUNITÁRIO NA SAÚDE MATERNA E INFANTIL NO CONTEXTO INTERCULTURAL INDÍGENA
Pôster Eletrônico
1 Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde Indígena (Sesai)
2 Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde Indígena (Sesai).
Período de Realização
No período de junho de 2024 a junho de 2025.
Objeto da experiência
Inovação metodológica na estratégia Aidpi comunitário na saúde materna e infantil em territórios indígenas.
Objetivos
Fortalecer as competências dos Agentes Indígenas de Saúde (AIS), técnicos de enfermagem indígenas e não indígenas, parteiras e pajés para a identificação de sinais de alerta e perigo na saúde materna e infantil.
Descrição da experiência
A experiência foi desenvolvida em 26 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dseis) no período de junho de 2024 a junho de 2025, diretamente nos territórios indígenas. A metodologia contou com a participação ativa de parteiras, pajés e intérpretes indígenas, especialmente em territórios onde a população não fala português, garantindo compreensão plena. O material foi adaptado a partir do contexto intercultural, favorecendo a compreensão dos conteúdos.
Resultados
Houve maior adesão ao pré-natal, com a participação das parteiras, impactando diretamente no fortalecimento do vínculo entre a comunidade e os serviços de saúde, aprimoramento dos cuidados ao parto e ao recém-nascido e redução das complicações neonatais. A capacitação promoveu segurança aos profissionais na identificação de sinais de alerta e perigo, resultando em encaminhamentos adequados.
Aprendizado e análise crítica
A experiência demonstrou que, embora a metodologia do Aidpi Comunitário seja padronizada, a utilização de metodologias ativas, recursos lúdicos a partir do contexto intercultural e a inclusão efetiva dos especialistas indígenas foram diferenciais fundamentais para o sucesso, pois o modelo tradicional não contempla tais atividades.
Conclusões e/ou Recomendações
A adoção de metodologias inovadoras, aliadas à valorização dos especialistas indígenas, se mostrou uma estratégia eficaz na qualificação da atenção à saúde materna e infantil em territórios indígenas. A proposta final, portanto, é institucionalizar, monitorar e acompanhar essa abordagem no âmbito da formação dos profissionais que atuam na saúde indígena.
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO AOS INDÍGENAS WARAO: INTERVENÇÃO CLÍNICA E EDUCAÇÃO EM SAÚDE DA REDE SUS-BH/MG.
Pôster Eletrônico
1 PBH
2 PUC MINAS
Período de Realização
Novembro de 2023 a maio de 2025, Belo Horizonte-MG.
Objeto da experiência
Acolhida equânime da população migrante e indígena.
Objetivos
Fortalecer vínculo com a população, promovendo o cuidado integral, ampliando o acesso e sensibilizando profissionais da APS sobre a importância da saúde bucal no contexto da população migrante e indígena.
Descrição da experiência
Belo Horizonte apresenta imigrantes indígenas venezuelanos da etnia Warao, que chegaram ao município com demandas sociais, de educação e saúde, alterando inegavelmente sua cultura e estilo de vida.
Resultados
A intervenção na realização da aceitação do tratamento odontológico envolveu dinâmicas abordando alimentação saudável e saúde oral, distribuição de kits de escovação e orientações de como usar, desenvolvimento de material com informativo, levantamento de necessidades dos indígenas e atuação.
Aprendizado e análise crítica
Além da falta de costume em realizar a higiene dos dentes, soma-se o fator desconhecimento sobre as doenças bucais e suas possíveis conseqüências e sobre o consumo excessivo de açúcar resultar em doença, culminando em uma saúde oral precária.
Conclusões e/ou Recomendações
A vivência evidenciou a complexidade do trabalho em saúde pública e os desafios na adesão do paciente, principalmente no manejo comportamental e valorizaram a abordagem interdisciplinar, reforçando a universidade como agente transformador da realidade social.
PELE-MEMÓRIA: UM MERGULHO POLÍTICO-SOCIAL NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA RURAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, EM MANAUS, AMAZONAS
Pôster Eletrônico
1 PREFC
Período de Realização
A experiência vivida se datou no período de 06 à 20 de maio de 2025.
Objeto da experiência
O cuidado em saúde no contexto do estado do Amazonas, a partir de uma experiência vivida na Unidade de Saúde da Família Rural Nossa Senhora do Livramento
Objetivos
Refletir os desafios impostos pelas limitações geográficas, diversidade cultural das populações atendidas e escassez de recursos estruturais nos serviços de saúde a populações indígenas e ribeirinhas na Unidade de Saúde Rural Nossa Senhora do Livramento, em Manaus, Amazonas
Descrição da experiência
Atuar como enfermeira no Amazonas foi uma experiência de grande metamorfose pessoal e profissional. Durante quase duas semanas transitei até o porto da cidade, de onde saia a capitania de profissionais, rumo à Unidade de Saúde da Família Rural Nossa Senhora do Livramento. Realizei assistência às variadas linhas de cuidado, gerenciei planilhas e indicares e vivi a potência e sensibilidade do território amazônico a partir de visitas domiciliares aos povos ribeirinhos e aldeias indígenas.
Resultados
Como resultado, foi possível perceber que poucos são os profissionais de saúde comprometidos em envolver, nas práticas de cuidado, os saberes e bagagens da diversidade dos povos locais, em prol de práticas coloniais, curativistas e biomédico-centradas. Além disso, a fragilidade geográfica, compromete o atributo da longitudinalidade do cuidado e, somada à ausência de serviços essenciais, como laboratório, fortalece as limitações na estrutura que colocam em xeque a qualidade da atenção oferecida.
Aprendizado e análise crítica
A vivência permitiu uma análise crítica sobre a herança, ainda em cena, do modelo hegemônico biomédico nos mais variados cenários de assistência, também existente no antro das práticas ancestrais e populares: a Amazônica. Permitiu ainda, valorizar processos de trabalho e serviços presentes no município do Rio de Janeiro, onde atuo, e estender o olhar míope sobre a potência que o território exerce no cuidado, principalmente, em relação aos entraves ambientais e geográficos dos rios amazônicos.
Conclusões e/ou Recomendações
Faz-se evidente, portanto, a forte influência das barreiras geográficas, culturais e estruturais sobre a qualidade do serviço ofertado pelos profissionais, tornando urgente o resgate da lógica da Atenção Primária à Saúde em territórios rurais por meio de investimento em presença política-estrutural, qualificação profissional e atenção as fragilidades e saberes locais, de modo a produzir um o cuidado mais equânime e comprometido com a realidade.
SAÚDE INDÍGENA NO CONTEXTO URBANO DE FLORIANÓPOLIS: CONSTRUINDO ESTRATÉGIAS PARA UM MODELO DE ATENÇÃO CULTURALMENTE ADEQUADO
Pôster Eletrônico
1 Secretaria municipal de saude de Santa Catarina
2 Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis
3 Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis-Departamento de Integração Assistencial/ Área Técnica da Saúde da Mulher
Período de Realização
Em andamento desde agosto/2024 até o presente momento
Objeto da experiência
Implantar modelo de atenção à saúde indígena urbana com diagnóstico contínuo, formação intercultural e articulação SMS-SESAI e participação indígena.
Objetivos
Estabelecer bases para implantação de modelo de atenção à saúde indígena urbana por meio da articulação entre SMS-SESAI, elaboração de diagnóstico territorial contínuo, formação profissional intercultural e fortalecimento da participação social indígena.
Descrição da experiência
A iniciativa começou com um grupo de trabalho entre gestores da APS, equipe de um Centro de Saúde e SESAI/DSEI Interior Sul, que realiza reuniões quinzenais para planejamento estratégico. Foram planejadas oficinas de formação em saúde indígena urbana, baseadas no Projeto Xingu (SP), no intuito de estabelecer fluxos assistenciais adaptados. Atualmente, avança para diagnóstico participativo com a comunidade indígena, visando modelo culturalmente adequado, monitoramento e ajustes contínuos.
Resultados
Foi construída proposta de formação para a equipe de saúde, alinhada entre SMS e SESAI, sensibilizando para acolhimento intercultural. A articulação institucional fortaleceu o planejamento do diagnóstico. Apesar do estágio inicial das ações de campo, avançaram na mobilização institucional e plano assistencial participativo. Foram realizadas duas oficinas com profissionais e lideranças indígenas, promovendo diálogo e planejamento coletivo.
Aprendizado e análise crítica
A experiência evidenciou a importância da articulação intersetorial, do reconhecimento dos saberes indígenas e da formação contínua para promover equidade. A falta de políticas consolidadas para indígenas urbanos exige inovação dos gestores. Resistências iniciais, geradas por críticas indígenas na primeira oficina, foram superadas com diálogo e escuta ativa, destacando a necessidade de institucionalizar práticas interculturais no SUS.
Conclusões e/ou Recomendações
A experiência evidenciou que a atenção à saúde indígena urbana em Florianópolis requer processos de longo prazo, articulação institucional e formação contínua. Diagnósticos participativos e contínuos são fundamentais. Recomenda-se a continuidade das formações, integração SMS-SESAI e o fortalecimento de políticas que reconheçam os povos indígenas urbanos como sujeitos coletivos de direitos.
POVOS ÍNDIGENAS DO SEMIÁRIDO CEARENSE NA DEFESA DA SAÚDE E DO MODO DE VIDA NO CONTEXTO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Pôster Eletrônico
1 Fundação Oswaldo Cruz Ceará
2 Fundação Oswaldo Cruz
3 Organização Mundial da Saúde
Período de Realização
Janeiro a Abril de 2025, em territórios indígenas do semiárido cearense.
Objeto da produção
Produção audiovisual sobre a integração entre saberes indígenas, ciência e políticas públicas no enfrentamento das mudanças climáticas na saúde.
Objetivos
Documentar as oficinas da pesquisa realizada em comunidades indígenas acerca do enfrentamento de processos de vulnerabilização dos modos de vida de povos indígenas, relacionados as mudanças climáticas no semiárido, que contribuam para os Cuidados, Promoção e Vigilância Popular em Saúde.
Descrição da produção
Consistiu em sistematizar em uma produção audiovisual, as oficinas colaborativas com povos indígenas, pesquisadores e profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) sobre os impactos das mudanças climáticas na saúde. Os temas abordados foram: seca, saúde, preservação ambiental e fortalecimento do SASI-SUS. A escuta ativa e o reconhecimento dos territórios foram centrais para a construção de estratégias locais de resiliência e inovação social.
Resultados
O vídeo é uma forma de disseminar as discussões para outros povos indígenas, promover maior articulação entre os segmentos envolvidos, fortalecer o SASI-SUS e valorizar os saberes tradicionais. Defende-se práticas sustentáveis locais, políticas públicas adaptadas às realidades indígenas e maior conscientização sobre os efeitos das mudanças climáticas. A produção também gerou subsídios para replicação em outros territórios e contextos semelhantes.
Análise crítica da produção
A produção do vídeo documentário proporcionou um aprendizado significativo sobre a complexidade e a urgência das mudanças climáticas, especialmente em contextos de vulnerabilidade social e ambiental, como os territórios indígenas do Nordeste brasileiro. E registrou a potência do diálogo intercultural na construção de soluções para desafios globais, reforçando a necessidade de construção de pontes entre saberes e a valorização dos territórios.
Considerações finais
A resistência, ancestralidade e vínculo com a terra indígena, oferecem caminhos valiosos na construção de estratégias de adaptação e resiliência, reafirmando a importância de integrar saberes tradicionais e científicos na formulação de respostas às mudanças climáticas. Portanto, é urgente que a construção de políticas públicas participativas, respeitando a diversidade cultural e ambiental, e garantindo a continuidade das ações em defesa da vida.
PRODUÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO BILÍNGUE, WAI WAI PORTUGUÊS, EM MEIO FÍSICO E DIGITAL PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE INDÍGENA
Pôster Eletrônico
1 Ufopa/Ufsc
2 Ufopa/ ProfSaúde
3 Ufopa
Período de Realização
2023-2024-2025
Objeto da produção
Cartilha física e aplicativos digitais para a divulgação e discussão sobre temas relacionados à saúde, partes do corpo e dicionário temático.
Objetivos
Produzir materiais interculturais e bilíngues em meio físico (livreto e panfletos) e digital (e-book e aplicativos) para promover a educação em saúde e sensibilizar sobre a questão da saúde, em seu sentido ampliado, com populações indígenas.
Descrição da produção
O processo baseia-se em metodologias co-criativas, de caráter interdisciplinar e implicadas nas demandas sociais. A partir de 2023, teve início a produção de um aplicativo de dicionário para inserir termos relativos à noção de corpo e questões de saúde. Para tanto, os temas e termos são coletados com a equipe de saúde e com representantes das associações indígenas, e o conteúdo é traduzido do português para o wai wai com momentos de validação.
Resultados
Foram produzidos um aplicativo de dicionário, um aplicativo sobre saberes tradicionais e científicos, uma cartilha sobre uso racional de medicamentos, verbete temático sobre saúde e uma cartilha sobre saúde sexual e reprodutiva. Os produtos foram disponibilizados no site do grupo de pesquisa e no repositório institucional. Foram capacitados estudantes das áreas da linguística, saúde coletiva, antropologia, arqueologia, história, biologia e sistemas da informação, incluindo estudantes indígenas.
Análise crítica e impactos da produção
A produção de materiais bilíngues e com base digital possui grande adesão por parte dos usuários indígenas e profissionais de saúde. A metodologia participativa é um ponto positivo. Um dos desafios é o trabalho interdisciplinar e coordenação de trabalho entre instituições públicas e privadas, com ênfase no trabalho dos programadores e designers. A produção do material tem dialogado diretamente com a década das línguas indígenas e os tensionamentos colocados pela ideia do ‘falante ideal’.
Considerações finais
A produção de materiais bilíngues, a partir de centros fora do eixos tradicionais de produção de conhecimento, gera dificuldade na incorporação dessas ferramentas pelas equipes de saúde indígena, sobretudo pela persistência do modelo centralizado de gestão e baixa autonomia dos Conselhos Locais de Saúde Indígena na customização das políticas de assistência à saúde.
PLANO DE ENFRENTAMENTO À MORTALIDADE MATERNA E PERINATAL NA POPULAÇÃO XAVANTE DA UBS INDÍGENA SÃO MARCOS
Pôster Eletrônico
1 DSEI Xavante - UFMT/GENESIS
2 UFMT/GENESIS
Período de Realização
2024
Objeto da produção
Desenvolver um plano estratégico para reduzir a mortalidade materna e perinatal na UBS Indígena São Marcos.
Objetivos
Relatar a construção de um plano estratégico de enfrentamento à mortalidade materna e perinatal, promovendo planejamento participativo na UBS Indígena São Marcos. Implementar ações para reduzir indicadores alarmantes, considerando aspectos culturais e sociais da população indígena Xavante atendida.
Descrição da produção
Trata-se de uma produção técnica baseada na pesquisa-ação com abordagem exploratória, descritiva e intervencionista. O referencial metodológico foi o Planejamento Estratégico Situacional de Carlos Matus, aplicado por meio de oficinas participativas. A negociação baseada em princípios foi utilizada para alcançar consensos, junto à abordagem Two-Eyed, que incorporou perspectivas holísticas e culturalmente adequadas para fortalecer a efetividade das ações.
Resultados
O plano estratégico foi construído com a participação de 32 representantes; profissionais de saúde, parteiras e lideranças indígenas. O processo envolveu Análise do Problema, Explicação do Problema e Desenho de Intervenção. Foram priorizados desafios como insegurança alimentar, ausência de assistência humanizada, falta de intérpretes, dificuldades no pré-natal, alta incidência de óbitos perinatais por causas sensíveis à AB, falta de recurso humano qualificado para o atendimento pré-natal.
Análise crítica e impactos da produção
A construção coletiva revelou que a mortalidade materna e perinatal decorre de múltiplos fatores estruturais. A abordagem interprofissional, intersetorial e participativa garantiu maior adesão comunitária e dos profissionais. O impacto vai além da UBS São Marcos, pode influenciar políticas públicas e protocolos assistenciais, promover maior equidade no cuidado materno e perinatal. Após apresentação à secretária da SESAI a sala situacional de mortalidade materna e infantil foi criada pela SESAI
Considerações finais
A análise aprofundada dos desafios enfrentados demonstra a necessidade de aprimorar políticas, ampliar a assistência qualificada e garantir acesso a cuidados humanizados, promovendo impacto efetivo na saúde das mulheres e recém-nascidos. O planejamento estratégico visa reduzir iniquidades e fortalecer a resposta da APS à realidade indígena.
SABERES E CUIDADOS: TRADIÇÃO DO POVO KAIMBÉ JOGO TRIMBÉ – EDIÇAO PLANTAS MEDICINAIS ANCESTRAIS
Pôster Eletrônico
1 UNEB
Período de Realização
Projeto realizado em 2024
Objeto da produção
Valorização de saberes indígenas, promovendo cuidados em saúde que respeitam cultura e tradição.
Objetivos
Desenvolver um jogo de cartas educativo com a temática de plantas e ervas medicinais utilizadas por uma comunidade indígena Massacará, visando promover a valorização dos saberes tradicionais, o reconhecimento da biodiversidade local e o fortalecimento da educação intercultural.
Descrição da produção
A proposta do jogo de cartas foi levada para estudantes do Ensino Fundamental II do Colégio do Território Indígena Massacará. Foram realizadas atividades presenciais nas salas de aula do colégio, com a presença dos professores locais de artes e cultura indígena. Foram realizadas rodas de conversa, onde os estudantes identificaram plantas medicinais do território, transmitindo o conhecimento ancestral para que a tradição seja preservada.
Resultados
O jogo Trimbé é composto por 22 cartas de baralho, e cada carta tem as seguintes características: propriedades, estrutura, modo de preparo e consumo de 22 plantas medicinais. As cartas são distribuídas igualmente entre os jogadores. O número de jogadores pode variar, porém o mais comum é entre 2 e 4 jogadores. Cada jogador deve manter suas cartas viradas para baixo, de forma que ele não veja suas próprias cartas.
Análise crítica e impactos da produção
A criação do jogo Trimbé revelou-se uma ferramenta potente de valorização cultural, despertando o interesse dos estudantes pelas práticas medicinais tradicionais do povo Kaimbé. A metodologia participativa, baseada em rodas de conversa e atividades com professores locais, garantiu o protagonismo dos estudantes como produtores de conhecimento, fortalecendo sua identidade étnica e o sentimento de pertencimento ao território.
Considerações finais
Os estudantes identificaram 22 plantas medicinais do território, descreveram seus usos e modos de preparo, e colaboraram na criação das cartas e regras do jogo. A participação ativa nas rodas de conversa fortaleceu o vínculo com os saberes ancestrais. A carta especial “Jurema” estimulou reflexões sobre espiritualidade, identidade e resistência cultural dos povos indígenas.
DESAFIOS NA GESTÃO DE UM AMBULATÓRIO DE REFERÊNCIA PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA POPULAÇÃO INDÍGENA EM SANTO ANDRÉ
Pôster Eletrônico
1 Prefeitura de Santo André
Período de Realização
01 outubro de 2024 a 31 de maio de 2025
Objeto da produção
Gestão de um ambulatório de atendimento especializado com recorte etnico dentro da atenção primária
Objetivos
Descrever um tipo de gestão de um ambulatório de atendimento especializado dentro da APS e refletir sobre a importância de serviços de saúde especializados que acolham a população indígena reconhecendo suas especificidades culturais e garantindo um cuidado integral.
Descrição da produção
Foi feito levantamento de dados a partir de fontes como Censo 2022 e sistemas de informação de saúde como o SissOnline, e-SUS e VaciVida. Para cadastro e mapeamento dos indígenas, foi utilizado meio telefônico para contato, além da ajuda de transporte privado para busca ativa em domicílio e contato com a unidade de referência. Para acolhimento e atendimento de diferentes demandas, foram utilizadas ferramentas como teleconsulta, matriciamento, PTS e visitas domiciliares.
Resultados
Foram realizados 104 atendimentos totais desde o início das atividades do ambulatório, sendo 10 etnias diferentes, contando com 7 visitas domiciliares, 10 reuniões de matriciamento, 2 atendimentos de teleconsulta e 8 consultas de retorno. Atualização de cadastro e acolhimento de 8 usuários não identificados anteriormente como indígenas pelo sistema de saúde de Santo André. Foram atendidos 16 indígenas fora do município de Santo André.
Análise crítica e impactos da produção
Foi possível dar início ao mapeamento da população indígena de Santo André, e observar fragilidades no processo de cadastro, identificação e acolhimento dessa população, como por exemplo, na especificação étnica, com erro nos dados cadastrais e falta de sensibilização e conhecimento dos profissionais de saúde. A partir das informações dos atendimentos, foi possível levantar dados epidemiológicos dessa população.
Considerações finais
A especificidade no atendimento da população indígena é esquecida dentro dos contextos urbanos. Reféns de um sistema de saúde e de um contexto que os invisibilizam, os indígenas nos grandes centros não são vistos em suas complexidades culturais; e, quando atendidos, muitas vezes não são abordados integralmente pela falta de conhecimento quanto à suas existências nesses contextos e pela falta de capacitação dos serviços no acolhimento dessa população
SUPERANDO BARREIRAS: INDICADORES COMO APOIO AO PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DO SANEAMENTO EM TERRAS INDÍGENAS
Pôster Eletrônico
1 Núcleo de Extensão e Pesquisa com Populações Rurais, Negras, Quilombolas e Indígenas da Universidade Federal do Maranhão (UFMA).
Apresentação/Introdução
Considera-se estratégica a utilização de indicadores para apoiar a gestão dos serviços de saneamento nas áreas indígenas do país. Desta forma, a presente pesquisa apresenta bases metodológicas para elaboração de indicadores mais adaptados aos diferentes contextos das áreas indígenas e adequados à literatura científica de referência.
Objetivos
Apresentar e discutir a viabilidade do uso de indicadores para as ações de saneamento em áreas indígenas.
Metodologia
A presente pesquisa tem como objeto a proposição de indicadores de referência para o saneamento em áreas indígenas. A abordagem integrará aspectos técnicos e participativos, com foco na adaptação dos indicadores às especificidades das comunidades indígenas. Desta forma, o estudo propõe o emprego de métodos qualitativos e quantitativos, seguindo as orientações propostas na bibliografia de referência. As etapas propostas serão desenvolvidas conforme os itens a seguir: revisão bibliográfica e levantamento de dados secundários; Seleção e elaboração de indicadores; validação dos indicadores por especialistas e representantes indígenas; testes-piloto e avaliação; Classificação dos Indicadores.
Resultados
Os resultados esperados referem-se à aplicabilidade dos indicadores propostos para o planejamento, monitoramento e a avaliação das condições de saneamento em territórios indígenas. Com base nas fases metodológicas propostas, espera-se por:
1. Indicadores apropriados à gestão dos serviços de saneamento em áreas indígenas;
2. Organização dos indicadores em categorias;
3. Ferramentas técnicas padronizadas;
4. Validação colaborativa e participativa;
5. Implementação refinada e testada.
Conclusões/Considerações
Os resultados visam aprimorar a gestão dos serviços de saneamento em áreas indígenas por meio de indicadores mais adequados, aumentando a eficiência e a tomada de decisão, bem como proporcionar melhores condições de sanitárias às comunidades indígenas.
BAIXA ESTATURA E EXCESSO DE PESO EM ADOLESCENTES INDÍGENAS XAVANTE DA TERRA INDÍGENA PIMENTEL BARBOSA, MATO GROSSO
Pôster Eletrônico
1 Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz
2 Instituto de Nutrição Josué de Castro, Universidade Federal do Rio de Janeiro
Apresentação/Introdução
A baixa estatura e o excesso de peso, embora sejam desfechos em saúde aparentemente distintos, compartilham determinantes sociais e afetam cada vez mais populações vulnerabilizadas. Entre adolescentes indígenas, especialmente os Xavante, a coexistência dessas condições permanece pouco investigada, apesar da relevância para a compressão dos impactos das iniquidades em alimentação e nutrição.
Objetivos
Investigar a prevalência e os fatores associados à baixa estatura e ao excesso de peso em adolescentes indígenas Xavante da Terra Indígena Pimentel Barbosa, Mato Grosso (MT).
Metodologia
Estudo epidemiológico transversal com dados do Inquérito em toda a Terra Indígenas Xavante (2011), com adolescentes (10 a 19 anos). Não foram utilizados critérios de amostragem, incluindo toda a população. A coleta abrangeu dados antropométricos, sociodemográficos e maternos. Os desfechos foram excesso de peso (IMC/I >+2 escores-z) e baixa estatura (E/I <–2 escores-z), segundo critérios da OMS. As análises incluíram regressão logística bivariada e multivariada (IC95%), estratificada por sexo. Os modelos finais foram selecionados considerando significância estatística, qualidade do ajuste (AIC) e coerência teórica dos preditores.
Resultados
Foram analisados 250 adolescentes (53,0% mulheres). A baixa estatura foi de 34,6% nas mulheres e 6,0% nos homens; o sobrepeso foi mais frequente nas mulheres (48,1%) e 13,7% nos homens; apenas mulheres apresentaram obesidade (11,3%). Entre as mulheres, a baixa estatura associou-se à idade de 12 a <16 anos (OR=9,15;IC95%:2,43–15,08), ≥16 anos (OR=6,52;IC95%:5,37–25,59) e escolaridade (OR=0,02;IC95%:0,00–0,47). O excesso de peso associou-se ao estado civil (OR=2,29;IC95%:1,04–5,04), sobrepeso materno (OR=3,34;IC95%:1,18–9,49), obesidade materna (OR=5,39;IC95%:1,43–20,39) e mais adolescentes no domicílio (OR=2,34;IC95%:0,99–5,57). Os homens não tiveram prevalências para análises multivariadas.
Conclusões/Considerações
A coexistência de baixa estatura e excesso de peso no grupo populacional, característico de um cenário de dupla carga de má nutrição, especialmente entre adolescentes do sexo feminino, reflete desigualdades estruturais, com impactos diretos no estado nutricional de jovens indígenas. Faz-se necessário ações direcionadas também a este segmento populacional.
VIVÊNCIAS DE ENFERMEIROS RESIDENTES NA TENDA DE CUIDADOS DO ACAMPAMENTO TERRA LIVRE
Pôster Eletrônico
1 Fiocruz Brasília
Período de Realização
Período de realização: 07 a 11 de abril de 2025.
Objeto da experiência
Participação de enfermeiros residentes na Tenda de Cuidados do Acampamento Terra Livre (ATL) em contexto de práticas interculturais.
Objetivos
Relatar a experiência de enfermeiros residentes do Programa de Residência em Saúde da Família com ênfase na Saúde do Campo (PRMSFCampo) na Tenda de Cuidados da 21ª edição do ATL, destacando a integração entre saberes tradicionais e práticas do cuidado em saúde.
Descrição da experiência
O ATL é a maior mobilização indígena do Brasil, reunindo milhares de representantes de diferentes povos. Em sua 21ª edição, com o tema “APIB Somos todos nós: em defesa da constituição e da vida”, foi organizada a Tenda de Cuidados, espaço de escuta, acolhimento e práticas em saúde, onde enfermeiros residentes do PRMSFCampo atuaram como voluntários, vivenciando o cuidado em saúde no diálogo com saberes indígenas, práticas integrativas e a diversidade de realidades dos povos do campo, floresta e águas.
Resultados
Os residentes atuaram no acolhimento, preenchimento de ficha socioeconômica e cultural, triagem com avaliação clínica e escuta qualificada. A partir disso, realizavam os encaminhamentos conforme a necessidade: tenda de práticas integrativas, medicina indígena ou atendimento médico. A experiência proporcionou a articulação entre o conhecimento técnico-científico da enfermagem e os saberes ancestrais, fortalecendo o cuidado integral e o respeito às especificidades culturais.
Aprendizado e análise crítica
A residência em saúde do campo possibilitou um olhar ampliado da enfermagem, onde o cuidado se constrói na relação entre diferentes saberes e na valorização da diversidade cultural. Os residentes exercitaram escuta ativa, empatia e sensibilidade intercultural, reconhecendo as práticas indígenas como legítimas e potentes no cuidado. A Tenda revelou-se um espaço formativo de transformação para a prática profissional e para a construção de um SUS mais equitativo e inclusivo.
Conclusões e/ou Recomendações
Participar da Tenda de Cuidados no ATL foi uma vivência singular, que reafirma a importância de uma formação que considere os determinantes sociais da saúde e os saberes tradicionais. A residência ampliou a capacidade crítica dos enfermeiros, contribuindo para um cuidado mais sensível, potente e eficaz junto às populações do campo, floresta e águas, promovendo saúde com justiça social e respeito a diversidade de saberes.
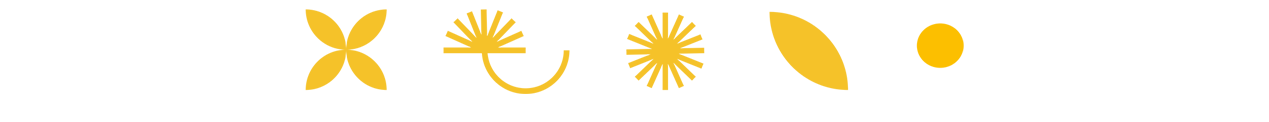
Realização:


Patrocínio:




Apoio:






