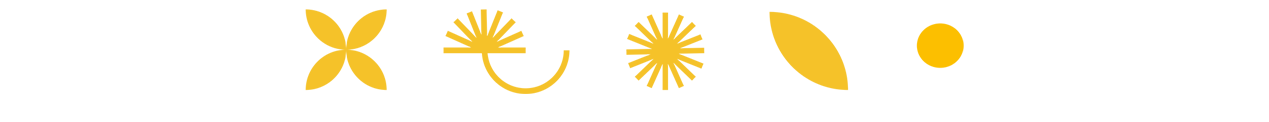
Programa - Pôster Eletrônico - PE35 - Violências e Saúde
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO (2013–2022): ANÁLISE DA INCIDÊNCIA E IMPACTOS DA PANDEMIA
Pôster Eletrônico
1 UFF
Apresentação/Introdução
A violência doméstica é um fenômeno complexo, associado a desigualdades estruturais e determinantes sociais da saúde. A pandemia da COVID-19 impactou diretamente os contextos familiares e os sistemas de denúncia, alterando a dinâmica dos registros de casos e ampliando vulnerabilidades sociais.
Objetivos
Analisar a incidência de violência doméstica no Rio de Janeiro entre 2013 e 2022, avaliando os impactos da pandemia da COVID-19 e sua relação com variáveis sociodemográficas e determinantes sociais da saúde.
Metodologia
Trata-se de um estudo ecológico, descritivo e quantitativo, com dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), acessados via TABNET/DATASUS. Foram analisadas todas as notificações de violência doméstica contra pessoas residentes no Município do Rio de Janeiro entre 2013 e 2022. Calcularam-se as taxas de incidência geral e específicas por sexo, faixa etária, raça/cor, escolaridade e motivação. Os dados foram organizados em séries históricas e comparados em períodos pré-pandemia (2013–2019) e pandemia (2020–2022), observando-se também a distribuição espacial em territórios de maior vulnerabilidade social.
Resultados
Foram registradas 68.313 notificações de violência doméstica no período. A maioria dos casos ocorreu entre mulheres (77,6%), pessoas negras (59,8%) e jovens entre 20 e 39 anos (46,3%). A taxa de incidência caiu de 155,7/100 mil em 2019 para 131,2/100 mil em 2020, ano inicial da pandemia. Apesar da redução nos registros oficiais, dados paralelos sugerem aumento de casos não notificados. As regiões com maiores taxas coincidem com áreas de maior vulnerabilidade social. Observou-se subpreenchimento em variáveis como escolaridade (28% ignorado) e motivação (21% ignorado), comprometendo parte da análise qualitativa.
Conclusões/Considerações
A pandemia impactou negativamente o registro de casos de violência doméstica, possivelmente mascarando o real aumento da violência. A análise revela padrões de desigualdade racial, territorial e etária. A concentração de casos em áreas vulneráveis aponta para a influência dos determinantes sociais da saúde. É urgente qualificar a coleta de dados e fortalecer políticas intersetoriais de prevenção e proteção.
ANÁLISE DAS NOTIFICAÕES DE VIOLÊNCIA CONTRA OS POVOS INDÍGENAS REGISTRADAS NO SINAN ENTRE 2015 E 2022: UM RECORTE DE CINCO ESTADOS BRASILEIROS
Pôster Eletrônico
1 UFPR
2 UFRGS
Apresentação/Introdução
A violência tornou-se responsabilidade do setor Saúde há duas décadas e desde então apresenta-se como um desafio constante e de difícil enfrentamento. Isto, pois, assume um papel fundamental na manutenção do Capitalismo, o qual faz com que haja populações em maior ou menor grau de vulnerabilização social. Os Povos Indígenas são um destes grupos, enfrentando a violência desde a colonização.
Objetivos
Apresentar e analisar o cenário das notificações de violência interpessoal/autoprovocada contra os Povos Indígenas dos cinco estados brasileiros que compreendem a zona territorial dos Distrito Sanitário Especial Indígena Interior Sul e Litoral Sul.
Metodologia
Estudo ecológico a partir das notificações de violência interpessoal/autoprovocada contra os Povos Indígenas registradas entre 2015 e 2022. Os dados foram levantados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) via TabNet em janeiro de 2025 e abordam os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Os dados foram tabelados no Excel e as análises foram agrupadas nos eixos: Perfil da Vítima (sexo determinado ao nascimento, faixa etária e escolaridade), Características da Violência (tipologia, local de ocorrência, violência por repetição, relação com o/a perpetrador) e Desfecho da Violência (encaminhamento ao setor de saúde e evolução do caso).
Resultados
Foram registradas 6.003 ocorrências de violência no período analisado, com predominância no ano de 2022 (18,66%). São Paulo é o estado com mais ocorrências (n=1.999), seguido por Rio Grande do Sul (=1.393), Paraná (=1,148), Santa Catarina (=950) e Rio de Janeiro (=622). As vítimas são mulheres (63,3%) na faixa etária entre 0 e 29 anos e de baixa escolaridade. A violência por repetição oscilou entre os estados. A violência familiar e doméstica mostrou-se a mais constante, correlacionada com pai, mãe e parceiros íntimos atuais ou anteriores. Destacam-se a violência física, psicológica e as de cunho sexual. Como também a má qualidade dos registros.
Conclusões/Considerações
A análise indica um aumento de 149% nas notificações de violência, sendo 63% contra mulheres indígenas. Isto pode indicar um aumento nas ocorrências de violência, como também uma maior efetividade das políticas intersetoriais de enfrentamento à violência doméstica. A qualidade dos registros apresenta-se como uma fragilidade neste recorte racial, especialmente no que diz respeito ao desfecho da violência, sendo necessárias melhorias estruturais.
VIVÊNCIAS DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENFRENTAMENTO AO ATENDER MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA
Pôster Eletrônico
1 UEL
Apresentação/Introdução
A violência contra as mulheres é a questão de saúde pública e um problema social que demanda políticas e práticas de prevenção e enfrentamento. Seja ela ocorrida em âmbito familiar ou comunitário, a violência é compreendida como um dos principais obstáculos para a garantia dos direitos humanos e das liberdades fundamentais de mulheres e meninas.
Objetivos
O estudo teve como objetivo analisar as percepções dos profissionais diante do atendimento à mulher em situação de violência.
Metodologia
Estudo qualitativo, de caráter exploratório e analítico. Amostra intencional com participação de 28 membros de 22 serviços entre abril e maio de 2021. A técnica utilizada para coleta de dados foi entrevista a partir de roteiro semiestruturado contendo 31 questões distribuídas nos seguintes tópicos: dados pessoais; dados do serviço, e percepções dos profissionais. Para análise, utilizou-se a análise de conteúdo. O estudo faz parte da dissertação “ Rede de enfrentamento à violência contra as mulheres do município de Londrina-Pr: potencialidades e desafios”, aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Estadual de Londrina, parecer nº 4.630.051.
Resultados
Emergiram duas subcategorias: sentimentos e vivências dos profissionais. Os sentimentos experimentados durante o atendimento aos casos de violência contra as mulheres, alguns profissionais relataram enfrentar um misto de sentimentos (alegria, empatia e realização). Porém, a impotência, a tristeza e o medo estão entre os sentimentos mais citados. As vivências dos profissionais apresentam experiências e conhecimentos adquiridos nos atendimentos a mulheres em situação de violência. O atendimento a mulheres em situação de violência remete a memórias, fazendo com que as profissionais se identifiquem com as mulheres, e chegam a pensar que a violência relatada, amanhã, pode acontecer com elas.
Conclusões/Considerações
Evidencia-se a necessidade de investimentos em políticas públicas articuladas para combater esse fenômeno complexo e cruel que permeia todas as estruturas da nossa sociedade. Mesmo com todos os limitadores, os profissionais ocupam um papel estratégico no enfrentamento a violência, sendo que o atendimento constitui um momento privilegiado na busca por romper com o ciclo da violência.
VIVÊNCIAS DE ENFERMEIROS NA ASSISTÊNCIA A MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA
Pôster Eletrônico
1 Universidade Estadual da Paraíba
2 Universidade Federal de Campina Grande
Apresentação/Introdução
A violência contra a mulher é um grave problema de saúde pública em todo o mundo, independe das condições socioeconômicas, culturais ou demográficas. Dessa forma, equipe de enfermagem exerce um papel fundamental no acolhimento dessas vítimas, contudo, desafios em seu ambiente profissional, frequentemente motivados pelo receio de possíveis retaliações por parte do agressor.
Objetivos
Compreender as vivências de enfermeiros na assistência a mulheres em situação de violência.
Metodologia
Trata-se de um estudo descritivo de abordagem qualitativa realizado no município de Campina Grande, Paraíba, nas Unidades de Saúde da Família. A população foi composta por 14 enfermeiros, cujo processo amostral se deu por conveniência. Quanto aos critérios de inclusão: ter mais de um ano de experiência na Estratégia Saúde da Família. E como critérios de exclusão: enfermeiros em licença ou férias, e não localizados no ambiente de trabalho em três tentativas subsequentes. A análise dos dados foi conduzida pela Análise de Conteúdo, conforme Bardin (2016). A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética sob o parecer nº 6.980.900/2024.
Resultados
Após análise das entrevistas foi possível elencar três categorias: 1. Medo e insegurança no exercício profissional, que evidenciou o medo como um fator limitante, impactando diretamente na assistência; 2. Medidas de autoproteção adotadas pelos profissionais, que inclui estratégias adotadas para proteção dos profissionais, como: não realizar visitas domiciliares sozinhos, e sempre acionar os gerentes de saúde em casos de suspeitas de violência; 3. Protocolos legais e notificações institucionais, que aborda os procedimentos normativos mencionados pelos profissionais diante de episódios de ameaça ou violência, isso inclui o uso de boletins de ocorrência e preenchimento de fichas de notificação.
Conclusões/Considerações
Os resultados apontam que, apesar de os enfermeiros desenvolverem táticas para minimizar riscos, o medo de represálias fragiliza a assistência de enfermagem a vítimas de violência, gerando descaso e atendimento de menor qualidade. Recomendamos capacitação continuada, implantação de protocolos clínicos e investimento na formação e estrutura organizacional, protegendo a equipe e assegurando um atendimento mais humano e eficaz.
VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: UM OLHAR ANTES E DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 EM PERSPECTIVA EPIDEMIOLÓGICA E GEORREFERENCIAL (MINAS GERAIS)
Pôster Eletrônico
1 UFTM
Apresentação/Introdução
Introdução: A violência sexual contra crianças e adolescentes foi impactada pela pandemia de Covid-19. O período de reclusão, marcado pela ausência do espaço escolar as expôs, ainda mais, à essa forma de violência, haja vista ocorrer, em sua maioria, no espaço doméstico e ser praticada por homens que possui relação de proximidade com as mesmas. Cenário que agravou a subnotificação pelos serviços de saúde.
Objetivos
Analisar as notificações de violência sexual atendidos em um Hospital de Clínicas (Minas Gerais), antes e durante a pandemia de Covid-19 para compreensão do perfil sociodemográfico das vítimas e a distribuição geográfica dos casos (2018 e 2021).
Metodologia
Trata-se de estudo quantitativo com análise de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Utilizou-se análise estatística descritiva, teste qui-quadrado e uma análise de associação entre as variáveis sexo e faixa etária, sexo e cor da pele. Com base na delimitação territorial estabelecida pelo Censo IBGE de 2022, mapeou-se os casos em Uberaba, MG, agrupando numa tabela os casos de violência por bairros na área urbana. Em seguida, fez-se a análise espacial dos casos. Foram usados 52,22% dos registros da base SINAN do período da pesquisa, totalizando 153 fichas, pois nos outros 140 registros não havia dados referentes ao bairro da ocorrência.
Resultados
Considerou-se período pré-pandemia (jun/2018 a dez/2019) e pandemia (jan/2020 a jul/2021). Perfil - pré-pandemia: registro de 198 casos, 80,3% do sexo feminino. Pandemia: 95 notificações. Predomínio: faixa etária de 13 a 15 anos; 29,7% dos casos em ambos os sexos. Mostrou-se associação estatisticamente significativa entre sexo e faixa etária nos dois períodos. Distribuição - pré-pandemia: 77 casos de 198 (39% das notificações); incidência: de 0,35 a 13,04 casos/1.000 habitantes, concentração maior nos bairros próximos ao centro. Pandemia: 59 casos de 95 (62% das notificações); variação entre 0,334 e 9,126 casos/1.000 habitantes, mantendo os bairros centrais como os mais afetados.
Conclusões/Considerações
Perfil etário, de gênero e racial corrobora outros estudos. Na pré-pandemia a violência sexual concentrou-se em bairros próximos ao centro da cidade, no período seguinte, deslocou-se para os bairros mais afastados. Evidencia-se a relevância de redes socias institucionais como fator de proteção. O atendimento eficiente passa por ampliar espaços de acolhimento e capacitar profissionais como forma de fortalecer políticas públicas intersetoriais.
TÁTICAS DE CONFLITOS ENTRE MÃES E FILHOS EM UMA CAPITAL DO SUDESTE BRASILEIRO: PREVALÊNCIA E CORRELAÇÕES
Pôster Eletrônico
1 UFES
Apresentação/Introdução
Conflitos familiares recorrentes podem prejudicar o desenvolvimento emocional e cognitivo das crianças, e, frequentemente estão associados a ciclos intergeracionais de violência e negligência, com repercussões sociais amplas.
Objetivos
identificar a prevalência das táticas de conflitos da relação mãe-filhos e suas correlações.
Metodologia
Estudo epidemiológico transversal, de base populacional, realizado com mulheres residentes de Vitória, Espírito Santo. O desfecho mensurado foi a tática de resolução de conflitos utilizada pelas mães com filhos menores de 19 anos. As táticas mensuradas foram: Disciplina Não Violenta, Agressão Psicológica, Punição Corporal e Maus Tratos. Na análise bivariada, aplicou-se Qui-quadrado de Pearson (χ²) e do teste Exato de Fisher, a fim de examinar a relação entre as variáveis. Para testar a correlação entre os itens que compõem as táticas de conflitos, coeficientes Phi (φ) foram calculados dado a natureza das variáveis.
Resultados
Nota-se uma prevalência em relação ao desfecho de disciplina não violenta onde a maioria (P: 88,8%; IC 95% 85,7 - 91,8) das mães explicou aos filhos por que suas ações estavam erradas. Cerca de 82% (IC 95% 78,1 - 85,5) das mães fizeram uso da agressão psicológica onde, por exemplo, recorreram à prática de gritar ou berrar. Sobre a Punição Corporal 35,9% (IC 95% 31,3 - 40,5) sacudiram a criança, enquanto 23,4% (IC 95% 19,4- 27,5) usaram objetos para bater em outras partes do corpo além do bumbum, configurando um maus-tratos físicos. Além disso, algumas práticas de punição corporal estiveram correlacionadas a práticas de maus tratos físicos.
Conclusões/Considerações
Os dados sugerem que, embora a disciplina não-violenta seja amplamente adotada, há uma presença significativa de agressão psicológica e física, com destaque para punições corporais e práticas de maus-tratos. O castigo corporal é considerado um grave problema de saúde pública. Esses aspectos evidenciam a importância de medidas preventivas mais específicas e adaptadas às necessidades desse grupo.
VIOLÊNCIA SEXUAL EM ESCOLAS: ANÁLISE DAS NOTIFICAÇÕES NO BRASIL
Pôster Eletrônico
1 Universidade Federal de Goiás
Apresentação/Introdução
A violência sexual é uma expressão de desigualdades estruturais marcadas por gênero, idade e raça. Quando ocorre na escola, espaço que deveria ser de proteção, impõe rupturas profundas nos processos de cuidado, aprendizagem e cidadania, exigindo respostas intersetoriais, sensíveis ao território e articuladas à vigilância em saúde.
Objetivos
Descrever o perfil das notificações de violência sexual ocorridas em escolas brasileiras (2012-2023).
Metodologia
Estudo transversal e retrospectivo com dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Foram incluídas notificações de violência sexual em pessoas de 6 a 19 anos, ocorridas em escolas, no período de 2012 a 2023. Foram analisadas as variáveis sexo, faixa etária, raça/cor e macrorregião de residência. Realizou-se análise descritiva e teste de qui-quadrado.
Resultados
Ao longo da série, observa-se crescimento da proporção de vítimas do sexo feminino nas notificações escolares, variando de 64% (2012) a 72%–81% (2021–2023). No início dos anos analisados, predominavam crianças de 6 a 9 anos (46%); a partir de 2021, observa-se maior frequência no grupo de 10 a 14 anos (51%–55%). Brancos (38%–46%) e pardos (37%–42%) compuseram os maiores grupos raciais. Regionalmente, Sudeste (33%–44%) e Sul (20%–25%) concentraram mais registros. Reduziu-se a frequência de dados ignorados ao longo da série.
Conclusões/Considerações
Os resultados apontam desigualdades de gênero nas notificações de violência sexual em escolas, com maior frequência entre adolescentes meninas. As características etárias, raciais e territoriais evidenciam vulnerabilidades que exigem respostas intersetoriais, integração entre saúde e educação e fortalecimento da vigilância para qualificar as estratégias preventivas.
INVALIDAR SABERES, INVISIBILIZAR DORES: A CONSTRUÇÃO DE UM DEBATE SOBRE A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA EM MULHERES CAMPONESAS DO RIACHO DOS CAVALOS - PI
Pôster Eletrônico
1 *
2 Universidade de Brasília
Apresentação/Introdução
A violência obstétrica é uma violência estrutural que afeta intensamente mulheres rurais, onde desigualdades de gênero e a desvalorização dos saberes tradicionais são mais evidentes. Nas comunidades camponesas, práticas e conhecimentos transmitidos por gerações, que simbolizavam cuidado e autonomia, são progressivamente negados pela colonialidade do saber.
Objetivos
Analisar a relação entre a violência obstétrica e a desvalorização dos saberes
tradicionais das mulheres da comunidade Riacho dos Cavalos PI, abordando as
reproduções das colonialidades do saber que afetam as mulheres camponesas.
Metodologia
Uma vez que busca compreender de forma profunda e sensível as experiências das mulheres camponesas da comunidade em estudo, acerca da violência obstétrica e da negação dos saberes tradicionais no contexto do parto. A escolha pela abordagem qualitativa justifica- se pela natureza do objeto de estudo, que envolve percepções, memórias, sentimentos e relações construídas a partir das vivências dessas mulheres. O foco da pesquisa está centrado na escuta das interlocutoras e na valorização de seus saberes como fonte legítima de conhecimento, priorizando o diálogo e a interpretação do sentido atribuído por elas às experiências vividas.
Resultados
Como resultado, propõe-se a criação de cartilhas educativas, em parceria com movimentos sociais do campo, para conscientizar as mulheres sobre a violência obstétrica e suas especificidades no meio rural. Também se aponta a necessidade de políticas públicas que garantam maternidades próximas com partos humanizados, respeitando os saberes tradicionais e o uso da biodiversidade local nos cuidados do pós-parto.
Conclusões/Considerações
Esta pesquisa denuncia a violência obstétrica contra mulheres camponesas, cujas experiências são invisibilizadas pelo isolamento e pela ausência de dados específicos. Ao romper com a abordagem homogênea das políticas públicas, o estudo reivindica uma atenção crítica e inclusiva, fundamental para a construção de políticas rurais que garantam os direitos humanos e a valorização dos saberes tradicionais.
VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA MENINAS E MULHERES EM BELÉM E REGIÃO METROPOLITANA: ANÁLISE DAS NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/ AUTOPROVOCADA (2011 - 2022)
Pôster Eletrônico
1 ENSP/FIOCRUZ
Apresentação/Introdução
Esta pesquisa analisa os casos notificados de violência sexual contra meninas e mulheres em Belém e Região Metropolitana entre 2011 e 2022, a partir de uma abordagem interseccional e decolonial. A violência sexual é apresentada como um grave problema de saúde pública, com alta incidência na Amazônia Legal, especialmente entre meninas e mulheres jovens, negras e indígenas.
Objetivos
O estudo tem como objetivo geral caracterizar o perfil das vítimas e dos autores da violência sexual, identificar as principais características e consequências da violência, além dos procedimentos e encaminhamentos realizados.
Metodologia
A pesquisa teve como base os dados de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada (VIA) disponíveis no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Foi analisado um conjunto de 33 variáveis relativas ao perfil das mulheres e meninas com notificação de violência sexual, e a tipologia da violência, procedimentos e encaminhamentos realizados, bem como as características dos prováveis autores. Estes dados compreendem campos da ficha de notificação de violências. Os dados foram reunidos em um banco de dados elaborado no programa SPSS 24. Na sequência, procedeu-se à descrição das variáveis por meio da construção das distribuições de frequência e elaboração de gráficos e tabelas.
Resultados
A maioria das vítimas são meninas (78,5%) e mulheres jovens (17,5%), autodeclaradas negras (86%), com ensino fundamental incompleto (54,8%) e estado civil solteira (46,8%). A maioria dos prováveis autores são homens (91,3%), conhecidos das vítimas (37,1%) e que agem sozinhos (86,2%). Eles possuem algum tipo de relação/vínculo familiar (25,1%) ou afetivo, sexual ou conjugal (12,4%) com as vítimas. No que diz respeito às características do evento, a maioria das vítimas sofreram estupro (86%), dentro da própria residência (77,6%), repetidas vezes (54,5%), sendo que nestes casos, o estupro foi com penetração vaginal (18,2%), seguido da penetração anal (5,4%) e oral (3,2%). No que tange às consequências para a saúde sexual e reprodutiva, destacam-se as IST's (19,2%) e o estresse (8,1%) como expressão do sofrimento e adoecimento psicossocial provocado pela violência sexual.Em relação aos procedimentos, a maioria das meninas e mulheres vítimas de violência sexual em Belém e região metropolitana foram encaminhadas para a rede de saúde (25,7%). No entanto, tendo em vista o acesso à saúde e aos direitos sexuais e reprodutivos, uma quantidade irrisória de pacientes recebeu o atendimento adequado e teve o direito à saúde sexual e reprodutiva garantido, incluindo a oferta de profilaxias para IST's (8,9%), HIV (8,5%), Hepatite B (6,4%), contracepção de emergência (5,5%) e aborto previsto em lei (0,7%). Sobre os encaminhamentos, apesar da maioria das vítimas terem sido encaminhadas para a rede de saúde, observa-se números expressivos de encaminhamentos para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (13,0%) e para o Conselho Tutelar (10,4%).
Conclusões/Considerações
Os dados apontam para a invisibilização e negligência da violência e exploração sexual contra meninas (até 14 anos de idade) e mulheres jovens (de 15 a 29 anos de idade) na região como questão de saúde pública e (in) justiça reprodutiva. As vítímas de estupro e estupro de vulnerável estão mais expostas às IST's, gravidez indesejada e infantil e ao abortamento ilegal e inseguro, em decorrência das iniquidades e desigualdades de acesso e atendimento no sistema público de saúde (Góes, Nascimento, 2013; Góes et al., 2020), impactando diretamente na garantia dos direitos sexuais e reprodutivos.
110 ANOS DE ATAQUES CONTRA ESCOLAS: EXPRESSÕES VIOLENTAS DAS MASCULINIDADES PRÉ-CELIBATÁRIOS INVOLUNTÁRIOS NOS SÉCULO XX-XXI
Pôster Eletrônico
1 IMS/UERJ
Apresentação/Introdução
Esta pesquisa de doutorado investiga os ataques contra escolas ocorridos no mundo entre 1913 e 2023 e sua relação com as masculinidades pré-celibatários involuntários (Incel). Os Incel surgiram na internet em 2014 e despertaram interesse devido ao seu envolvimento em ataques contra escolas. Identificamos a partir de 1913 práticas análogas aos Incel em outros homens autores desta violência escolar.
Objetivos
Posto que os estudos sobre a relação entre ataques contra escolas e masculinidades dos autores são embrionários na Saúde Coletiva, pretendemos desnaturalizar e historicizar este fenômeno a fim de desconstruir a constante patologização dos autores.
Metodologia
Realizamos pesquisa documental com fontes disponíveis em hemerotecas digitais e no repositório virtual schoolshootings.com organizado pelo psicólogo Peter Langman (EUA). Examinamos 119 episódios de ataques contra escolas entre 1913 e 2023 ocorridos na América do sul, América do norte, Europa e Oceania. Esta pesquisa encontra-se em andamento e investigará casos no continente africano e asiático. Analisamos documentos originais tais como cartas suicidas, diários, correio eletrônico, inquéritos policiais e relatórios judiciais referentes aos episódios; classificamos e organizamos os dados levantados em seções temáticas; amparados pela literatura teórica, tecemos seus contextos sociopolíticos.
Resultados
Neste período estudado, observamos que 95 casos ocorreram na América do norte, seguidos por 13 casos na Europa, 9 na América do sul e 2 na Oceania. Percebemos também que o fenômeno passa a ser mais recorrente nestas regiões a partir de 1999 e os anos mais letais foram 2006, 2014, 2017 e 2018. O período de maior incidência de ataques ocorreu coincidentemente a partir da década da popularização da internet, surgimento dos Incel e ascensão política de forças da extrema-direita. Considerando os dados sobre gênero, raça e faixa etária, obtivemos os resultados de 117 casos de autoria de homens cisgênero; 76 casos de autoria de homens brancos e 95 casos cometidos por homens entre 14 e 29 anos.
Conclusões/Considerações
O advento da internet originou os fóruns virtuais onde os Incel, unidos por seus fracassos românticos, se consideram vítimas da sociedade hierarquizada por aparência física e celebram a violência contra mulheres, porém identificamos que a misoginia e questionamentos sobre a virilidade masculina também motivaram os ataques antes dos anos 90. Estas temáticas denotam aprofundamento sobre as relações entre violência e masculinidades
AVALIAÇÃO DO APLICATIVO NOTIVIVA, FERRAMENTA DIGITAL DESENVOLVIDA PARA AUXILIAR PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA NOTIFICAÇÃO DE CASOS DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL E AUTOPROVOCADA
Pôster Eletrônico
1 UFMG
2 USP
3 UFS
Apresentação/Introdução
Estudo Carga Global de Doença, em 2019, estimou 4,3 milhões de mortes por acidentes e violências no mundo, no Brasil, correspondem à terceira causa de óbito. Para compreender a magnitude e a importância da atualização dos profissionais de saúde, desenvolveu-se um aplicativo para orientar a identificação dos tipos de violência e qualificar o preenchimento da Ficha de Notificação Individual.
Objetivos
O objetivo do estudo consiste em avaliar os requisitos de qualidade, a usabilidade, a utilidade e a aceitabilidade da primeira versão do aplicativo NotiVIVA, através de Grupos Focais, realizado em três instituições em Belo Horizonte.
Metodologia
Estudo qualitativo, com objetivo de compreender a percepção acerca da interação do usuário com o aplicativo NotiVIVA, por meio da realização de Grupos Focais, técnica de coleta de dados utilizada neste tipo de desenho. Assim, o Grupo Focal Online (GFO), que é uma modalidade análoga ao grupo focal presencial, aborda a comunicação e a interação entre os pesquisadores e participantes em ambiente virtual, com garantia da qualidade dos dados produzidos e obtenção efetiva do objeto da pesquisa . O uso dessa técnica, possibilita compreender a utilização, percepção e a experiência dos profissionais de saúde que utilizaram o aplicativo NotiVIVA para capacitação em notificação de violência.
Resultados
Foram realizados quatro GFO, com 45 participantes, conduzidos de forma intencional, definidos e mediados por um moderador, utilizando questões disparadoras para estimular o debate. As atividades ocorreram em duas instituições até o momento. A partir de abordagem analítico-discursiva, foi possível construir e analisar o conhecimento produzido. Identificaram-se dificuldades dos profissionais quanto ao uso da Ficha de Notificação Individual, fragilidades na rede de atenção à saúde no manejo da violência contra populações vulneráveis e a necessidade de sensibilização e qualificação. Destaca-se a importância do aplicativo como ferramenta para melhorar a assistência e a notificação das violências.
Conclusões/Considerações
A avaliação do aplicativo é crucial para garantir sua efetividade nos reconhecimentos de casos de violência, na notificação e na promoção da saúde e bem-estar das populações. Assim, há necessidade de compreender os desafios enfrentados por profissionais de saúde no uso do NotiVIVA, para subsidiar estratégias que melhorem a qualidade das notificações e, consequentemente, a vigilância em saúde relacionada às violências.
TECNOLOGIA INOVADORA EM SAÚDE: IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO À PARENTALIDADE.
Pôster Eletrônico
1 Universidade de Brasília
2 Universidade Federal Fluminense
Apresentação/Introdução
O Programa Escola da Família, inserido em uma política pública de promoção da saúde e prevenção da violência, o Pacto Niterói Contra a Violência, propõe ações de cuidado para gestantes e puérperas na Atenção Primária, em Niterói (RJ). Este estudo analisa a implementação do programa, estruturado em dois eixos — formação parental e intervenções grupais —, enquanto tecnologia em saúde inovadora.
Objetivos
Analisar a implantação do Programa Escola da Família como tecnologia social inovadora em saúde,na prevenção da violência contra mulheres gestantes e puérpera ao promover práticas de cuidado e fortalecimento de vínculos no ciclo gravídico-puerperal.
Metodologia
Trata-se de pesquisa-ação desenvolvida entre 2022 e 2024, na qual pesquisadores atuaram como participantes ativos. Os dados foram coletados e analisados por meio de diários de campo produzidos pela equipe do projeto, durante as oficinas de formação em parentalidade com profissionais da saúde (428) e visitas às unidades de saúde. Como método, utilizou-se a cartografia, que permite acompanhar o percurso da experiência sem prescrição prévia, possibilitando que os caminhos se construíssem durante a prática. As oficinas foram desenvolvidas com metodologia ativa, valorizando a participação, escuta e protagonismo dos profissionais envolvidos, estabelecendo espaços de reflexão e construção coletiva.
Resultados
As oficinas e encontros realizados proporcionaram espaços de escuta qualificada e troca afetiva, rompendo silenciamentos em torno da violência intrafamiliar. A formação parental favoreceu a ressignificação de práticas profissionais e o fortalecimento dos vínculos entre equipes de saúde, gestantes, puérperas e suas famílias. Observou-se a ampliação de redes de apoio e o surgimento de práticas colaborativas mais humanizadas na Atenção Primária. O programa demonstrou capacidade de integrar cuidado técnico e afetivo, promovendo transformações concretas nas relações de cuidado e prevenção da violência, além de consolidar-se como referência no acolhimento e escuta de contextos familiares vulneráveis.
Conclusões/Considerações
Apresentou-se como tecnologia que ultrapassou capacitações técnicas, promovendo práticas afetivas e colaborativas em saúde pública. Favoreceu um campo de escuta das histórias singulares e fortaleceu políticas de prevenção à violência na parentalidade, configurando-se como instrumento fundamental no início da vida, na Atenção Primária. Enquanto uma tecnologia em saúde, o Programa foi um tear que entrelaçou vínculos, redes de apoio e cuidado.
PERFIL E PADRÃO DAS NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO BRASIL (2009–2021): ANÁLISE TRANSVERSAL COM BASE NOS DADOS DO SINAN
Pôster Eletrônico
1 Unicamp
Apresentação/Introdução
A violência contra a mulher é uma grave violação dos direitos humanos e um problema de saúde pública. Afeta milhões de mulheres em todo o mundo, com impactos físicos, mentais e sociais. No Brasil, a notificação compulsória foi regulamentada em 2003, e em 2009 iniciou-se a padronização com formulários específicos, permitindo melhor análise epidemiológica dos casos.
Objetivos
Analisar o perfil das vítimas, os tipos de violência sofridos e os encaminhamentos realizados pelos serviços de saúde com base nas notificações de violência contra a mulher no Brasil entre 2009 e 2021.
Metodologia
Estudo transversal com dados secundários do SINAN, referente às notificações de violência contra a mulher de janeiro de 2009 a dezembro de 2021. A análise estatística foi realizada no software R. Aplicou-se regressão de Poisson com variância robusta para estimar associações entre os tipos de violência (física e psicológica) e variáveis independentes. Variáveis com p<0,20 na análise bivariada foram incluídas nos modelos múltiplos ajustados por QIC. Permaneceram no modelo final aquelas com p≤0,05. Os dados foram organizados em planilhas do Excel, e o nível de significância adotado foi de 5%.
Resultados
Foram analisadas 2.872.993 notificações. A violência predominou entre mulheres adultas (57,3%), com ensino médio (46,9%) e brancas (40%). Gestantes representaram 3,8%, e 10% tinham alguma deficiência. A região Sudeste concentrou 46,1% dos registros. A violência física ocorreu em 36,3% dos casos, sendo mais prevalente entre indígenas (PR=1,33) e com irmãos como agressores (PR=1,29). A violência psicológica apareceu em 3,9% das notificações, mais comum entre idosas (PR=1,89) e vítimas de ex-parceiros (PR=1,56). Houve maior encaminhamento em casos psicológicos para o Ministério Público (PR=2,00) e serviços de apoio à mulher (PR=2,51).
Conclusões/Considerações
A análise evidenciou a alta prevalência da violência contra a mulher no Brasil e sua associação a fatores como idade, escolaridade e vínculo com o agressor. A vulnerabilidade de mulheres com menor escolaridade e a possível subnotificação em grupos raciais minorizados reforçam desigualdades. É essencial aprimorar os sistemas de notificação e fortalecer as políticas públicas e a rede de proteção para um enfrentamento mais eficaz da violência.
O PROCESSO DE SENSIBILIZAÇÃO NA IDENTIFICAÇÃO DA VIOLÊNCIA INTERPESSOAL COM A IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE PROMOÇÃO DA SOLIDARIEDADE E PREVENÇÃO DAS VIOLÊNCIAS (NPSPV)
Pôster Eletrônico
1 SMS/PCRJ
Período de Realização
Início do Núcleo em 2009 sendo fortalecido a partir de 2022
Objeto da experiência
Dar visibilidade às ações de sensibilização do tema da violência interpessoal do NPSPV para garantir a identificação dos casos e acompanhamento na APS
Objetivos
A implantação dos Núcleos são experiências orientadas pela Portaria MS nº 936 de 2004 que objetivam a estruturação da Rede Nacional de Prevenção da Violência e Promoção da Saúde com competência qualificar a rede e garantir a implantação da ficha de notificação e capacitar os profissionais.
Descrição da experiência
O Núcleo foi instituído através de Resolução em 2009, ficando vinculado à Superintendência de Promoção da Saúde, junto à Coordenação de Políticas e Ações Intersetoriais e vem fortalecendo ações nos últimos anos. As competências envolvem a construção de um Plano Municipal; a qualificação da rede de atenção à saúde; o desenvolvimento de ações de prevenção; estudos e pesquisas; o fortalecimento das ações para aumento do uso da ficha de notificação do SINAN, dentre outros.
Resultados
Como resultados, o Núcleo tem potencializado ações na identificação e acompanhamento de casos de violência. Em 2019, havia, 15536 casos notificados pela rede de saúde, sendo 20,84% do total dos casos notificados pela Atenção Primária. Já em 2024 foram notificados 27783, sendo 27,41% dos casos notificados pela APS carioca.
Aprendizado e análise crítica
A estruturação dos Núcleos municipais e estaduais como orientação nacional desde 2004 enquanto Política de Estado alcança a efetividade no desenvolvimento de ações para o fortalecimento da rede de atenção às violências e consegue resultados na melhoria dos indicadores de notificação e de acompanhamento dos casos, que demonstra que os profissionais estão mais sensíveis para a identificação e o seguimento dos casos.
Conclusões e/ou Recomendações
Levando em consideração que o fenômeno da violência ainda é um campo de recente investimento no setor saúde, leva os profissionais, historicamente, a atuarem na assistência ao agravo, nos casos onde a violência explodiu. Contudo, a sensibilização precisa ser constante e de forma sistemática para a instrumentalização dos profissionais para que se sintam seguros na identificação e na ampliação do olhar para a prevenção do agravo.
OFERTA DE PRÁTICAS DE ATENÇÃO À(S) PESSOA(S) EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA NAS UBS DO BRASIL: DADOS DO CENSO NACIONAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE 2024
Pôster Eletrônico
1 CIDACS
2 UFBA
3 UFPel
4 SAPS/MS
Apresentação/Introdução
A violência é um grave problema de saúde pública, com impactos físicos, psíquicos e sociais dos indivíduos. A Atenção Primária à Saúde (APS) no SUS possui um papel ordenador e coordenador do cuidado, com função estratégica no enfrentamento desse fenômeno, dada sua atuação territorializada, capilaridade, capacidade de vínculo e inserção comunitária.
Objetivos
Caracterizar a oferta de práticas de atenção à(s) pessoa(s) em situação de violência nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do país, a partir de dados do Censo Nacional das UBS, de 2024.
Metodologia
O Censo Nacional das UBS foi realizado em 2024. No presente trabalho, apresentamos os dados correspondentes ao universo de 44.937 UBS do país, com a seguinte distribuição pelas regiões: Norte (4.096), Nordeste (17.737), Sudeste (13.374), Sul (6.607) e Centro-Oeste (3.213). A coleta de dados foi realizada por meio de instrumento eletrônico disponibilizado no sistema e-Gestor, respondido por um profissional responsável ou representante da UBS, após preenchimento de um termo de adesão. A análise descritiva foi realizada pelo R® e concentrou-se na pergunta referente às ações de atenção à(s) pessoa(s) em situação de violência.
Resultados
No Brasil, 4,2% das UBS não realizam nenhuma ação de atenção à(s) pessoa(s) em situação de violência. As ações mais realizadas nas UBS para atenção à violência são o acolhimento por médicos (92,4%) e enfermeiros (92,6%). O encaminhamento para serviços de assistência social (86,7%) e para o conselho tutelar em caso de violência contra a criança e/ou adolescente (84,7%) e a notificação compulsória (83,5%) também se destacam. As ações menos frequentes são: a profilaxia pós-exposição às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) (38,3%), contracepção de emergência em casos de violência sexual (45,9%), o cuidado compartilhado com atenção ambulatorial especializada (50,8%) e o acolhimento e escuta pelos cirurgiões-dentistas (53,2%).
Conclusões/Considerações
Os resultados mostram que, embora a maioria das UBS atue na atenção à(s) pessoa(s) em situação de violência, persistem lacunas importantes, como profilaxia pós-exposição às ISTs, contracepção de emergência em casos de violência sexual e no compartilhamento do cuidado com a atenção ambulatorial especializada. Isso reforça a necessidade de qualificação contínua das equipes, melhorar a oferta de insumos e o fortalecimento das redes intersetoriais.
VIOLÊNCIA E CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA: LEITURAS INTERSECCIONAIS
Pôster Eletrônico
1 Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde (CIDACS/Fiocruz)
2 Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz)
Apresentação/Introdução
Pesquisa realizada com dados sobre violência no Brasil, divulgados pelo Atlas da Violência, desde a primeira edição com informações sobre pessoas com deficiência (2021). Leituras interseccionais (Akotirene, 2019; Moreira et al, 2022) iluminam aspectos relevantes quanto ao tipo e avaliação da deficiência, sexo, idade, tipo de violência, relacionando-os com uma agenda política e teórica do cuidado.
Objetivos
Compreender as relações entre deficiência, violência e cuidado a partir de dados publicados nas edições do Atlas da Violência entre 2021 e 2025 e analisar potencialidades da Política Nacional de Cuidados (PNC) para seu enfrentamento.
Metodologia
Estudo qualitativo de base documental com as edições do Atlas da Violência que contém informações sobre pessoas com deficiência (2021 a 2025) e a PNC. Verificamos o modelo conceitual da deficiência adotado e suas repercussões, os marcadores sociais da diferença ressaltados e a relação entre violência e cuidado enunciada pelos dados compartilhados. As análises foram realizadas à luz de estudos feministas da deficiência, que indicam o cuidado como necessidade coletiva que demanda abordagem política e orientação ética (Kittay, 2011; Guimarães et al, 2020; Dias, 2023; Luiz & Gesser, 2023), dimensões compartilhadas no marco teórico da PNC.
Resultados
Os dados envolvem distintas concepções de deficiência (SINAN e PNS), com predominância biomédica. Crianças e adolescentes são as principais vítimas; pessoas com transtornos mentais lideram denúncias desde sua inclusão (2023); negligência /abandono afetam mais crianças pequenas e idosos; pessoas com transtornos mentais, deficiência intelectual e física são vítimas preferenciais de violência sexual; negligência/abandono afetam mais pessoas com deficiência múltipla. Mulheres são as principais vítimas. A PNC pode ser estratégica, frente à predominância de violência doméstica e vítimas demandantes de cuidado, grupo incluído prioritariamente ao lado dos cuidadores.
Conclusões/Considerações
Dados baseados em diagnóstico clínico e autodeclaração desafiam metodologicamente as pesquisas sobre o tema. A intersecção entre violência e deficiência varia conforme sexo, idade e tipo de deficiência. Capturamos limites de acesso ao cuidado como pano de fundo de todas as notificações e consideramos a PNC uma potencial estratégia indireta de enfrentamento à violência contra pessoas com deficiência, promoção da justiça, reparação e bem viver.
AUMENTO DAS NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES NA BAHIA, 2019 A 2024: REFLEXOS NA SAÚDE COLETIVA
Pôster Eletrônico
1 UESB
Apresentação/Introdução
A violência contra a mulher configura-se como um relevante problema de saúde coletiva por apresentar elevada magnitude, transcendência e vulnerabilidade. Trata-se de um agravo que compromete a saúde física e mental das vítimas e está diretamente relacionado a determinantes sociais da saúde, como desigualdade de gênero, pobreza e exclusão social, que requer resposta contínua dos serviços públicos.
Objetivos
Evidenciar o aumento das notificações de violência contra mulheres no estado da Bahia, destacando seus reflexos na saúde coletiva.
Metodologia
Estudo ecológico, de caráter descritivo e abordagem quantitativa, realizado entre maio e junho de 2025 com dados extraídos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), disponíveis no Departamento de Informação e Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Foram analisadas notificações de violência interpessoal contra mulheres na Bahia, no período de 2019 a 2024. As variáveis consideradas incluíram o número absoluto e a frequência relativa anual dos casos, bem como os tipos de violência registrados: física, psicológica/moral e sexual. Os dados foram organizados em tabela simples para análise descritiva da distribuição e tendência dos casos.
Resultados
Entre 2019 e 2024, foram registradas 2.887 (100%) de notificações de violência interpessoal contra mulheres na Bahia. O número variou de 337 em 2020 (11,68%) a 652 em 2024 (22,60%), indicando uma tendência crescente ao longo do período, com aumento de 52,69% no número de notificações. Em 2019, foram registrados 427 casos (14,80%), com queda significativa em 2020. A partir de 2021, os registros aumentaram progressivamente, com 398 casos em 2021 (13,79%), 452 em 2022 (15,66%) e um salto expressivo em 2023, com 621 casos (21,52%). Os anos de 2023 e 2024 concentram juntos 44,1% de todos os registros.
Conclusões/Considerações
O aumento das notificações pode estar relacionado à maior visibilidade do tema, fortalecimento dos mecanismos de denúncia e agravamento das situações de violência no contexto pós-pandemia. Seus reflexos na saúde coletiva se manifestam no aumento da demanda por serviços de saúde física e mental, sobrecarga dos equipamentos de atenção básica e especializada, necessidade de educação permanente em saúde e articulação intersetorial.
DESIGUALDADES RACIAIS EM SAÚDE: UM CHAMADO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PNSIPN EM GOIANA-PE
Pôster Eletrônico
1 Escola de Governo em Saúde Pública de Pernambuco (ESPPE)
2 Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Apresentação/Introdução
Este trabalho analisa as desigualdades raciais em saúde no município de Goiana-PE, com ênfase na ausência da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN). Parte-se da compreensão de que o racismo estrutural e institucional atua como determinante social da saúde, produzindo um cenário de necropolítica marcado por altas taxas de homicídio que afetam a população negra.
Objetivos
Analisar a ausência da PNSIPN na XII GERES de Pernambuco, especialmente em Goiana-PE, frente aos indicadores de homicídio da população negra, evidenciando a negligência institucional e a necessidade de políticas públicas antirracistas.
Metodologia
Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo e transversal, que se debruça sobre os registros de homicídios ocorridos no município de Goiana-PE, no período de 2018 a 2022. Os dados foram extraídos do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) da Vigilância em Saúde e tabulados via Excel. A variável central foi a raça/cor, adotando-se os grupos preto e pardo sob a categoria de população negra. A pesquisa foi devidamente aprovada pelo Comitê de Ética, seguindo as as Resoluções CNS nº 466/2012 e nº 510/2016. A metodologia articula análise com uma perspectiva crítica sobre necropolítica e racismo institucional, considerando as dinâmicas históricas e socioeconômicas que permeiam o território.
Resultados
A análise dos dados revelou que, entre 2018 e 2022, 84,66% dos homicídios registrados em Goiana-PE vitimaram pessoas negras, totalizando 138 das 163 mortes. A desigualdade racial se manteve constante ao longo do período, inclusive em 2020, ano marcado por medidas de distanciamento social devido à pandemia. Não houve registros de homicídios entre pessoas indígenas ou amarelas. O grupo pardo concentrou a maioria absoluta dos casos em todos os anos. A disparidade racial na mortalidade por causas violentas evidencia a permanência do racismo estrutural como determinante das iniquidades em saúde, revelando a urgência da implementação da PNSIPN como política de enfrentamento à necropolítica vigente.
Conclusões/Considerações
A elevada taxa de homicídios entre a população negra em Goiana revela um cenário de necropolítica sustentado pela omissão do Estado. A ausência da PNSIPN na XII GERES reforça a invisibilidade das demandas raciais em saúde. É urgente incorporar o debate racial nos processos de gestão, planejamento e cuidado, rompendo com a naturalização da morte negra e promovendo uma política de saúde equitativa, emancipadora e de justiça social no SUS.
VIOLÊNCIAS INTERPESSOAIS SOFRIDAS POR MULHERES PRETAS NO ESTADO DO CEARÁ DE 2019 A 2023: UM ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO
Pôster Eletrônico
1 Centro Universitário Estácio do Ceará
2 Universidade Federal do Ceará
3 Universidade Federal de São Paulo
4 Universidad Nacional de Loja
Apresentação/Introdução
A violência é um problema social que afeta toda a população, exigindo políticas públicas eficazes e profissionais capacitados para combatê-la. Além das consequências físicas, muitas vezes fatais, causa sequelas psicológicas, que podem comprometer de forma permanente a saúde, inclusive a saúde sexual e reprodutiva da mulher. Provoca, ainda, impactos econômicos e perda de anos de produtividade.
Objetivos
Analisar a ocorrência das violências interpessoais vivenciadas por mulheres pretas no Ceará no período de 2019 a 2023.
Metodologia
Estudo ecológico, com dados secundários acerca da ocorrência de violências interpessoais vivenciadas por mulheres pretas no Ceará. As informações foram obtidas por meio de dados epidemiológicos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) extraídos do Departamento de Informação e Informática do SUS (DataSUS). Os filtros utilizados foram: sexo feminino, raça preta, ter sido notificada no período de 2019 a 2023 e não ter sido autoprovocada. A análise descritiva foi realizada em maio de 2025. Os dados foram avaliados por meio de planilhas. O presente estudo não necessitou de submissão e aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa, em razão do uso de dados de domínio público.
Resultados
Foram notificados 2.153 casos de violência interpessoal contra mulheres pretas no Ceará entre 2019 e 2023. Observa-se um aumento das notificações a partir de 2020, com destaque para 2023, que concentrou 38,4% (n=828) do total de registros. A maior parte das agressões foi cometida por pessoas adultas (n=1.395; 64,8%) e conhecidas das vítimas (n=1.391; 89,7%), bem como era um caso de repetição (n=1.434; 66,6%). O ambiente doméstico é, disparadamente, o principal local onde ocorrem as violências (n= 1.568; 72,9%), o que reforça a característica relacional e íntima da violência sofrida por mulheres pretas.
Conclusões/Considerações
A violência interpessoal contra mulheres pretas segue crescendo ao longo dos anos no estado do Ceará e reflete um perfil em que a vítima sofre repetidas vezes esse ocorrido e o perpetrador é uma pessoa adulta, de seus círculos sociais. É preciso evoluir no enfrentamento a essa violação dos direitos humanos.
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE MULHERES NEGRAS SOBRE A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: UMA ANÁLISE À LUZ DA INTERSECCIONALIDADE
Pôster Eletrônico
1 UESB
2 UESC
Apresentação/Introdução
A violência obstétrica afeta de forma desproporcional as mulheres negras, evidenciando desigualdades estruturais de raça e gênero. À luz da interseccionalidade e das representações sociais, o estudo contribui para a saúde coletiva ao dar visibilidade às experiências vividas nos serviços de saúde.
Objetivos
Analisar as representações sociais da violência obstétrica para as mulheres negras a partir da interlocução com os estudos interseccionais.
Metodologia
Estudo descritivo e exploratório, de abordagem qualitativa, fundamentado na Teoria das Representações Sociais com interlocução com os estudos interseccionais. Participaram 85 mulheres negras (pardas e pretas) que realizaram pré-natal na rede pública e parto normal em maternidade pública de um município baiano entre 2017 e 2021. Os dados foram coletados por formulário online, com questões sociodemográficas e evocações livres sobre “violência no parto”. Utilizou-se o software iramuteq nas interfaces Nuvem de Palavras e Análise de Similitude para análise lexicográfica. O estudo foi aprovado pelo CEP/Uesb (CAAE 26399819.4.0000.0055)
Resultados
O termo desrespeito emergiu como núcleo central das representações sociais da violência obstétrica entre as mulheres negras, articulando-se a termos como agressividade, dor, tristeza e falta de cuidado. A análise de similitude revelou conexões com experiências de humilhação, violência psicológica e medo, expressando a vivência de um cuidado desumano e marcado por falta de amor e profissionalismo. A nuvem de palavras reforça o caráter afetivo e relacional da violência, evocando sofrimento, abandono e negligência como dimensões simbólicas e práticas dessa experiência.
Conclusões/Considerações
As representações sociais revelam que a violência obstétrica vivenciada por mulheres negras está ancorada em práticas de desrespeito, dor e agressividade. A articulação com a interseccionalidade evidencia como o racismo estrutural atravessa o cuidado. Os achados reforçam a importância de práticas antirracistas e humanizadas na atenção obstétrica, com foco na equidade e no respeito.
CONTRIBUIÇÕES DA CASA DAS MULHERES DE JEQUIÉ NA REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES
Pôster Eletrônico
1 UESB
2 Associação Casa das Mulheres de Jequié
Apresentação/Introdução
A violência contra a mulher é um grave problema de saúde pública que demanda respostas articuladas. A Casa das Mulheres de Jequié desempenha um papel estratégico na garantia de um cuidado integral. Esse tipo de equipamento social oferece serviços essenciais na rede de enfrentamento à violência contra mulheres, fornecendo apoio e suporte para a superação da violência e retomada de direitos.
Objetivos
Analisar o perfil das mulheres atendidas e a atuação da Casa das Mulheres de Jequié na rede de enfrentamento à violência contra a mulher, com ênfase nas contribuições para o cuidado em saúde.
Metodologia
Estudo descritivo e com abordagem quantitativa, realizado com base em 253 prontuários de mulheres atendidas na Casa das Mulheres em Jequié, interior da Bahia, no período de 2022 a 2024. As variáveis analisadas incluíram dados socioeconômicos, características da violência, assistência recebida, encaminhamentos realizados, repercussões à saúde mental e indicadores de vulnerabilidade social. Os dados foram sistematizados em planilhas e analisados de forma descritiva e contextual, articulando-os com a literatura sobre violência, cuidado integral e redes de atenção à saúde. A pesquisa respeitou todas as normativas éticas, sendo aprovado no comitê de ética.
Resultados
A maioria das mulheres era cisgênero, heterossexual, parda, solteira e residente na zona urbana, com idades entre 28 e 47 anos. As formas de violência mais frequentes foram psicológica, física e moral, com predominância de ocorrências no ambiente doméstico. A principal via de acesso foi a demanda espontânea. Os atendimentos sociais e psicológicos foram os mais ofertados, enquanto o registro de denúncia policial foi minoritário. Observou-se baixa participação em atividades de capacitação e autonomia econômica limitada. A casa desempenhou papel essencial na escuta qualificada, no acolhimento e na articulação com serviços de saúde, assistência social e justiça.
Conclusões/Considerações
A análise evidenciou a importância da Casa das Mulheres como ponto estratégico da rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Ao articular escuta, acolhimento e encaminhamentos, a instituição contribui para a ruptura do ciclo da violência e empoderamento da mulher para enfrentamento da violência. Reforça-se a necessidade de políticas públicas que promovam a integração intersetorial e ampliem a proteção e autonomia das mulheres.
ANÁLISE DAS NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA EM UM HOSPITAL DE GRANDE PORTE NO NORTE DO ESPÍRITO SANTO
Pôster Eletrônico
1 UFES
2 HERAS
Apresentação/Introdução
A violência, que constitui-se como um grave problema de saúde pública, pode ser categorizada em interpessoal e autoprovocada e exige estratégias eficazes de vigilância. A análise das notificações contribui para compreender o perfil das vítimas e orientar políticas públicas. A completitude e consistência dos dados registrados influenciam diretamente a qualidade da informação gerada.
Objetivos
Analisar os casos de violências notificados em um hospital de grande porte na região norte do Espírito Santo, nos anos de 2020 a 2023.
Metodologia
Trata-se de um estudo descritivo, baseado na análise de notificações de violência registradas no Hospital Roberto Arnizaut Silvares, localizado no norte do Espírito Santo, entre 2020 e 2023. A base de dados utilizada foi o sistema e-SUS Vigilância em Saúde. Buscou-se identificar quais são os principais tipos de violência notificados e quais as características sociodemográficas das vítimas atendidas nesse período. As variáveis foram avaliadas quanto à completitude e consistência, utilizando-se o escore de Romero e Cunha como critério de classificação.
Resultados
Foram notificados 1.040 casos de violência no período, sendo 37,9% autoprovocados e 27,8% interpessoais. Verificou-se predominância de vítimas do sexo feminino (77,4%), com idade entre 20 e 39 anos (49,8%) e autodeclaradas pardas (58%). A violência física foi a forma mais registrada (57,5%). A avaliação da completitude evidenciou escore regular para a variável raça/cor (15,8%), apontando fragilidade no preenchimento de um dado fundamental para análise de iniquidades. As variáveis área de residência e sexo do autor apresentaram escores bom e ruim, respectivamente.
Conclusões/Considerações
A análise evidenciou prevalência de violência autoprovocada e interpessoal, especialmente entre mulheres jovens. O escore de Romero e Cunha demonstrou déficits importantes na completude das variáveis, especialmente escolaridade. A capacitação dos profissionais de saúde e o fortalecimento das rotinas de notificação são medidas essenciais para garantir a qualidade da informação e orientar políticas públicas eficazes.
PERFIL DE MULHERES VÍTIMAS DE ABUSO SEXUAL NO BRASIL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA
Pôster Eletrônico
1 UFMG
Apresentação/Introdução
A violência sexual é um problema de saúde pública global, com sérias conseqüências físicas, psicológicas e sociais. Estima-se que no Brasil, uma em cada três mulheres sofre violência física ou sexual ao longo da vida.
Objetivos
Objetivou-se identificar o perfil de mulheres vítimas de violência sexual, no Brasil no período de 2020 a 2024.
Metodologia
Trata-se de uma revisão interativa de literatura nas bases de dados Lilacs, Medline, Pubmed, Scopus e Web of Scienc e sistematizada conforme Protocolo Prisma 2020.
Resultados
Quanto às vítimas, ao menos quarenta por cento são negras ou parda. A combinação de baixa renda e transtornos mentais configura-se como fator de risco, elevando a vulnerabilidade à violência sexual entre mulheres no Brasil. O estupro foi a tipificação mais comum neste contexto, sendo a penetração vaginal a forma mais relatada. A residência da vítima é o local predominante onde a violência ocorre. A dificuldade em identificar a violência dentro de relações afetivas contribui para a subnotificação da violência. A reincidência da violência sexual representou um grave problema, com taxas variando entre 12% e 80% em onze estudos, sendo que seis deles apontam índices superiores a 47%.
Conclusões/Considerações
Conclui-se então que a violência sexual no Brasil, conforme delineada nos documentos revela padrões consistentes e preocupantes. Observa-se que a violência afeta desproporcionalmente grupos submetidos a múltiplas desigualdades, como mulheres negras/pardas e jovens em vulnerabilidade socioeconômica.
ESTUDO TRANSVERSAL DAS TENTATIVAS DE SUICÍDIO POR INTOXICAÇÃO MEDICAMENTOSA REGISTRADAS EM UM CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA EM FORTALEZA, CEARÁ, 2022
Pôster Eletrônico
1 UFC
2 Hospital Santa Rosa
Apresentação/Introdução
A intoxicação constitui um relevante problema de saúde pública. Casos de suicídio por intoxicação estão entre as principais causas de morte no mundo. Anualmente, ocorrem cerca de 703 mil óbitos por suicídio no mundo e o Brasil está entre os 10 países com maior número de mortes por essa causa. Os medicamentos estão entre os principais agentes químicos empregados nas tentativas de suicídio.
Objetivos
Analisar os casos de tentativas de suicídio por intoxicação medicamentosa registrados em um Centro de Informação e Assistência Toxicológica em Fortaleza, Ceará, 2022.
Metodologia
Trata-se de um estudo transversal com dados registrados no período 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022. A população compreendeu todos os casos de intoxicação medicamentosa por tentativa de suicídio atendidos pelo centro no período. Os dados foram coletados a partir do Sistema Brasileiro de Dados de Intoxicações dos Centros de Informação e Assistência Toxicológica (DATATOX). A análise compreendeu a estatística descritiva, com o cálculo das frequências absolutas e relativas para cada variável, utilizando os softwares Epiinfo, versão 7.2.5.0 e Microsoft Excel, versão 2019. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Ceará (CAAE: 67210323.90000.5054).
Resultados
Foram identificados 360 casos de tentativa de suicídio, dos quais 232 (64,4%) envolveram ingestão de medicamentos. A maioria ocorreu entre mulheres (71,1%), na faixa etária de 20 e 29 anos (28,5%), principalmente estudantes (21,6%), residentes em Fortaleza (66,4%) e na própria residência (92,2%). Foram empregados 505 (100%) princípios ativos, e os psicofármacos foram os mais implicados (63,8%), com destaque para amitriptilina e clonazepam (8,1% cada). Em 53,5% dos casos foram associados dois ou mais fármacos. Manifestaram-se sinais clínicos em 90% dos registros, 56,5% não precisaram de internação e 83,2% evoluíram para cura. Registraram-se sete óbitos, correspondendo a uma letalidade de 3%.
Conclusões/Considerações
Os resultados mostram a predominância de mulheres jovens e o uso de psicofármacos. A alta ocorrência da intoxicação medicamentosa se deve ao fácil acesso, baixo custo e aceitação dos medicamentos. Destaca-se a necessidade de estratégias preventivas, como o controle da venda, o descarte correto daqueles fora de uso ou com prazo de validade vencido, o desestímulo à estocagem de medicamentos e o fortalecimento da rede de apoio psicossocial.
TENDÊNCIA TEMPORAL DOS ACIDENTES DE TRANSPORTE TERRESTRE NO BRASIL DE 2012 A 2021: O PAPEL DO DESENVOLVIMENTO E DA DESIGUALDADE
Pôster Eletrônico
1 UESB
Apresentação/Introdução
As causas externas caracterizam-se por agravos à saúde que envolvem violência ou acidentes. Dentre as causas externas, destacam-se os Acidentes de Transporte Terrestre (ATT) que se impõem como grande desafio para a gestão da saúde pública. Os impactos dos ATT na saúde pública brasileira revelam um problema multidimensional, intersetorial e marcado por desigualdades geográficas e temporais.
Objetivos
Analisar a tendência temporal dos Acidentes de Transporte Terrestre no Brasil no período de 2012 a 2021.
Metodologia
Estudo ecológico de séries temporais. Foram incluídos óbitos e internações por ATT no Brasil entre 2012 e 2021 com dados do SIH e do SIM do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), extraídos por local de residência. Também incluídas variáveis de população, frota, renda per capita e IDH, extraídos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foi empregada a Regressão de Joinpoint para detectar pontos de inflexão das curvas de tendência e estimar as variações percentuais anuais. Considerou-se cada ano da série como unidade de análise. Todas as análises foram procedidas com o auxílio do software Joinpoint Regression Program 5.0.
Resultados
Os coeficientes de internação por ATT no Brasil mostram uma tendência de aumento acelerado até 2014 (4,7% ao ano) com mudança para crescimento lento (0,3% ao ano), com evoluções distintas entre as regiões. Já a mortalidade demonstra uma redução anual significativa que é interrompida em 2019, padrão que muito similar em todas as regiões. A evolução temporal da mortalidade por ATT mostra certa congruência com o inverso da evolução do IDH e do PIB per capita das regiões do Brasil, ao passo que frota de veículos no Brasil e das regiões mantém-se em crescimento acelerado (3,3% a 10,4% ao ano) em todo o período.
Conclusões/Considerações
A análise temporal dos ATT reflete as iniquidades estruturais do Brasil. A evolução dos coeficientes de mortalidade é inversamente proporcional às evoluções do PIB per capita e do IDH no Brasil e regiões. Isso demonstra que as ações de prevenção precisam levar em conta o combate à desigualdade e a promoção do desenvolvimento social, o que tem o potencial de mitigar os efeitos dos ATT, mesmo num cenário de crescimento sustentado da frota.
CARACTERÍSTICAS DAS TENTATIVAS DE SUICÍDIO NOTIFICADAS EM SANTA CATARINA ENTRE 2015 E 2022
Pôster Eletrônico
1 UFSC
Apresentação/Introdução
A tentativa de suicídio é um fenômeno complexo e multifatorial, configurando-se como um importante fator de risco para o suicídio e um grave problema de saúde pública. Estima-se que, para cada óbito por suicídio, ocorram entre 20 e 40 tentativas. Conhecer o perfil da população notificada por este agravo é fundamental para aprimorar estratégias de prevenção e promoção da saúde
Objetivos
Descrever e analisar as características das tentativas de suicídio em SC (2015-2022), identificando perfil sociodemográfico, meios utilizados, circunstâncias e taxas de incidência, com estratificação por sexo, ano e região.
Metodologia
Estudo retrospectivo e descritivo, de abordagem quantitativa, utilizando dados secundários de 91.672 notificações de violência autoprovocada registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), no período de 2015 a 2022, em Santa Catarina (SC). Analisaram-se variáveis sociodemográficas, circunstâncias e meios utilizados nas tentativas de suicídio, estratificadas por sexo. Foram calculadas frequências absolutas, relativas, intervalos de 95% de confiança (IC95%), valores de p e taxas de incidência de notificações por ano e por macrorregião de saúde. As variáveis de análise foram selecionadas de acordo com os campos existentes na ficha de notificação.
Resultados
Obteve-se como resultados: 35.853 (38,18%) notificações de TS, predominando em pessoas do sexo feminino (66,92%), entre 20 e 29 anos (26,46%), autodeclaradas brancas (88,44%), heterossexuais (96,20%), sem cônjuge (53,84%), nível de escolaridade médio (44,89%) e aproximadamente um terço (29,13%) possuem deficiência ou transtorno. O método mais utilizado para o TS notificado foi o envenenamento/intoxicação (79,59%), e a residência o local predominante (92,35%), quase metade referiu tentativas anteriores (42,50%). A maior frequência de notificações (19,44%) e taxa de incidência (89,14/100 mil) foi em 2019 e a incidência anual foi maior na Macrorregião Sul, em quase todo o período do estudo.
Conclusões/Considerações
As tentativas de suicídio em Santa Catarina predominam em mulheres jovens (20-29 anos), brancas, heterossexuais e com escolaridade média. A intoxicação é o método mais comum e predominantemente na residência. Fatores socioculturais como a violência de gênero podem estar associados. Também observou-se uma possível relação entre a maior incidência de tentativas de suicídio em regiões mais afetadas por desastres climáticos e ambientais.
ENTRE O CUIDADO E A VIOLÊNCIA: O DESAFIO INVISÍVEL VIVIDO POR MULHERES TRABALHADORAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 PUC- Goiás
2 PUC-Goiás
3 Secretaria Municipal de Saúde- Goiânia-GO
Período de Realização
Ocorreu em setembro de 2024, em roda de conversa, num Centro de Saúde da Família em Goiânia-GO
Objeto da experiência
Incentivar as mulheres profissionais de saúde a compartilhar suas vivências relacionadas aos diversos tipos de violência enfrentados no ambiente de trabalho
Objetivos
Identificar os tipos de violência enfrentados por trabalhadoras de um Centro de Saúde da Família, seus impactos, a relação com questões de gênero, as fragilidades institucionais no suporte oferecido e propor estratégias de enfrentamento.
Metodologia
Durante atividade do PET-Saúde Equidade, acadêmicos de diversas áreas realizaram uma roda de conversa com cerca de 20 trabalhadoras da Estratégia Saúde da Família, com a equipe de enfermagem e Agentes Comunitárias de Saúde. Após orientação sobre os tipos de violência segundo o Ministério da Saúde, as profissionais compartilharam vivências no trabalho. Os relatos foram analisados para identificar os tipos de violência, seus impactos e estratégias de enfrentamento na Atenção Primária.
Resultados
A análise revelou que as trabalhadoras enfrentam diversos tipos de violência no ambiente de trabalho, incluindo física, verbal e institucional. Essas violências afetam negativamente a saúde mental, gerando estresse e sensação de invisibilidade, principalmente enquanto mulheres. As participantes destacaram mecanismos de enfrentamento, como apoio coletivo e diálogo, mas ressaltaram a fragilidade das políticas institucionais para protege-las.
Análise Crítica
A experiência evidenciou a complexidade da violência no trabalho na saúde, revelando como ela está enraizada em relações de poder e na invisibilidade institucional. O diálogo coletivo permitiu identificar estratégias de resistência e a necessidade de políticas mais efetivas. Refletiu-se sobre a urgência de fortalecer espaços de escuta e acolhimento para contribuir para saúde mental e direito das trabalhadoras.
Conclusões e/ou Recomendações
O relato evidencia que a violência no trabalho na saúde é multifacetada e afeta negativamente as profissionais. Recomenda-se fortalecer políticas institucionais, criar espaços seguros para diálogo e acolhimento, além de promover ações contínuas de sensibilização. Investir em suporte psicológico e valorização das trabalhadoras é essencial para enfrentar essa problemática.
PREVALÊNCIA DOS CASOS NOTIFICADOS DE VIOLÊNCIAS INTERPESSOAIS/AUTOPROVOCADAS EM MULHERES
Pôster Eletrônico
1 Secretaria de Estado da Saúde- Goiás
Apresentação/Introdução
A violência contra as mulheres é uma violação dos direitos humanos que causa impactos devastadores na saúde e na cidadania, dificultando o exercício da liberdade. Embora seja uma realidade, essa violência por vezes acontece de forma silenciosa e invisível, o que pode dificultar o reconhecimento e o enfrentamento dessa questão.
Objetivos
Descrever o perfil epidemiológico das notificações das violências contra mulheres, no estado de Goiás, no período de 2015 a 2024.
Metodologia
Estudo observacional descritivo de série temporal, a partir de dados secundários do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), coletados da Ficha de Notificação de Violência Interpessoal/Autoprovocada, notificadas de 01/01/2015 a 31/12/2024 em Goiás. Dados de 2024 são preliminares. Dados extraídos pelo TabWin, e exportados para o Microsoft Office Excel. Foram consideradas as variáveis: faixa etária, raça/cor, local de ocorrência, escolaridade, reincidência e vínculo do provável autor das violências. As variáveis foram descritas na forma de frequência e proporção.
Resultados
De 2015 a 2024, foram registrados 67.684 casos de violência contra a mulher em Goiás. As principais formas foram: física (37%), tentativa de autoextermínio (21%), psicológica e sexual (16%). A maior prevalência dos casos ocorreu na fase adulta (55%), seguida por adolescentes (27%), crianças (14%) e idosas (4%), com aumento de 372% nos casos em idosas no período analisado. As mulheres adultas apresentaram predomínio na prevalência de violência física. Cor negra apresentou predomínio (71%), com ocorrência em residências de (70%). Mulheres com ensino médio somaram 30% das vítimas, e 37% dos casos houve reincidência. Referente ao provável autor da violência o cônjuge representou (12,4%).
Conclusões/Considerações
Compreender a violência na vida das mulheres é fundamental para o direcionamento adequado de ações e estratégias que busquem contemplar as vulnerabilidades e enfrentamento do agravo. Recomenda-se qualificar/apoiar as equipes de Atenção Primária à Saúde em ações intersetoriais de enfrentamento à esta violência com atenção às populações em situação de vulnerabilidade e/ou iniquidade e questões referentes à diversidade e a determinantes sociais.
RITUAIS DA MORTE E O LUTO PERINATAL DAS MULHERES: CAMINHOS PARA A VALIDAÇÃO DA DOR.
Pôster Eletrônico
1 Graduanda USP
2 Doutoranda EEUSP
3 Livre-Docente USP
Apresentação/Introdução
Na sociedade ocidental, a morte é um evento cercado por tabus. A capacidade de apreender uma vida depende de sua inteligibilidade social. Óbitos de fetos e bebês, por não se conformarem a normas sociais de reconhecimento, são invisíveis, invalidando o luto dos pais, resultando em uma violência silenciosa. Os rituais da morte, nesse cenário, podem ser aliados para a validação do luto das mulheres.
Objetivos
Investigar a manifestação dos rituais da morte em cenários de morte perinatal e seu impacto na vivência do luto vivido pelas mulheres, avaliando sua influência para a elaboração do processo de luto.
Metodologia
A metodologia da pesquisa ocorreu através da etnografia virtual, utilizando como principal instrumento a coleta de dados pela observação participante e entrevistas semi estruturadas com mulheres, que participam da Roda de Apoio ao Luto gestacional, perinatal e neonatal do Instituto de Luto Parental que reúne pessoas que passaram ou estejam passando pelo luto perinatal.
As rodas acontecem quinzenalmente de forma remota através do aplicativo Zoom. A observação abrangeu o período de 20 de novembro de 2024 a 19 de fevereiro de 2025. Foram realizadas cinco entrevistas de maneira remota com mulheres participantes do grupo de apoio.
Resultados
O "não nascer" ou "nascer e não viver" rompe as expectativas sociais de "vida", fazendo com que a sociedade não reconheça o luto materno. Sendo assim, o luto perinatal emerge como um fenômeno de sofrimento social e não apenas individual, perpetuado, inclusive por profissionais de saúde que negligenciam a experiência de perda, sendo necessário estratégias de enfrentamento para tal sofrimento.
Os rituais da morte, presentes nos relatos do grupo e das entrevistadas, auxiliam na validação do luto. O grupo de apoio ao luto parental, um ritual coletivo, emerge como uma rede de compartilhamento e visibilidade através do reconhecimento da vida e da criação de vínculos entre os participantes.
Conclusões/Considerações
O reconhecimento do luto perinatal exige que profissionais de saúde compreendam essa dor, evitando negligência e oferecendo apoio. A Lei nº 15.139, que institui a Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental, formaliza o atendimento humanizado, validando o sofrimento. Com ela, profissionais são orientados a implementar práticas que apoiam a perda, com suporte psicológico e emocional, possibilitando a disseminação dos rituais.
O SUICÍDIO EM MINAS GERAIS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19
Pôster Eletrônico
1 UFTM
Apresentação/Introdução
O suicídio é definido como a violência autoinflingida com o intuito de provocar o fim da própria vida. Durante o início da pandemia do COVID-19, estudos já discutiam sobre o aumento do suicídio esperado decorrente do estresse, ansiedade e medo provocado pelas situações que a população mundial foi submetida, como o isolamento social e perdas de pessoas próximas.
Objetivos
Descrever a tendência dos suicídios e o perfil epidemiológico entre 2020 e 2023 em Minas Gerais (MG).
Metodologia
Os dados referentes aos óbitos por autoextermínio foram oriundos do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM). Foram extraídas do SIM as variáveis sexo, faixa etária, raça, estado civil, escolaridade e categoria CID-10 (X60 a X84). As variáveis analisadas foram aquelas com incompletude inferior a 20%. Foram realizadas análises exploratórias dos dados, a partir da apuração de frequências simples absolutas e percentuais para as variáveis categóricas e média e desvio padrão para as variáveis numéricas. As taxas de mortalidade foram expressas por 100.000 habitantes. A análise dos dados foi feita utilizando o SPSS v.25 e a tendência temporal o modelo de regressão do Joinpoint (JoinPoint 5.4.0).
Resultados
Foram registrados 7.491 suicídios entre 2020 e 2023 no estado de Minas Gerais, correspondendo a uma taxa de mortalidade média anual de 8,7 óbitos/100.000 habitantes. Foi observado um aumento 16,2% no período analisado (APC = 6,32). O perfil dos suicídios foi predominantemente em homens (77,5%), na faixa etária entre 30 e 39 anos (21,9%), raça branca (45,8%) ou parda (43,6%) e estado civil solteiro (49,7%), seguido por casado (25,2%) ou separado (8,4%). A maioria dos suicídios ocorreu no interior de domicílio (58,9%) e foram consumados por meio de enforcamento (71,7%). No período pandêmico a tendência de crescimento foi maior entre as mulheres (APC = 8,25) do que entre os homens (APC = 6,78).
Conclusões/Considerações
O perfil dos suicídios em Minas Gerais demonstrou que os adultos jovens e do sexo masculino são o grupo populacional mais afetado para o agravo. Os suicídios apresentaram uma tendência de aumento acentuada durante a pandemia da COVID-19. Pesquisas futuras, após um intervalo pós-pandemia considerável, permitirão analisar melhor os efeitos da pandemia na tendência temporal da taxa de mortalidade por suicídio.
TRAUMATISMOS BUCOMAXILOFACIAIS DECORRENTES DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
Pôster Eletrônico
1 UESB
Apresentação/Introdução
A violência, segundo a Organização Mundial de Saúde, dá-se como o uso intencional da força física ou do poder contra si e/ou a outra pessoa, este evento pode ser desencadeado por diversos fatores. No Brasil, a violência de gênero afeta especialmente as mulheres, sendo traumas bucomaxilofaciais uma consequência recorrente, impactando a funcionalidade, estética, saúde e qualidade de vida.
Objetivos
Analisar a ocorrência de traumatismos bucomaxilofaciais em mulheres vítimas de violência de gênero e suas implicações para a saúde pública.
Metodologia
Trata-se de uma revisão integrativa, tendo como base de dados a SciELO, Pubmed e BVS. Foram utilizados os descritores: “Violência”, “Trauma”, “Facial” e “Mulher”, sendo estas associadas por meio do indicador booleano AND. Os critérios de inclusão para a busca foram: estudos gratuitos, publicados entre 2015 e 2025, nos idiomas português e inglês, que abordassem sobre mulheres, casadas ou não, vítimas de violência com traumas em face. Foram encontrados 45 artigos, dos quais 07 foram selecionados para leitura e análise do resumo, por se adequarem à temática proposta. Excluíram-se estudos duplicados, com dados insuficientes, voltados a outros tipos de violência.
Resultados
Traumas bucomaxilofaciais em mulheres vítimas de violência de gênero, no Brasil, são manifestações de agressões que ultrapassam o corpo, afetando identidade, autoestima e dignidade. No Nordeste, mulheres jovens, negras ou pardas, com baixa escolaridade, são as mais atingidas. As lesões refletem não apenas a violência física, mas também desigualdades estruturais que limitam o acesso à saúde e à proteção social. As cicatrizes deixadas ultrapassam o visível, carregando significados emocionais e sociais que aprofundam o sofrimento e o isolamento dessas mulheres.
Conclusões/Considerações
Os traumas bucomaxilofaciais por violência de gênero evidenciam não só a expressão física da agressão às mulheres, mas também o silenciamento institucional diante de um impasse de saúde pública. A subnotificação e cuidado focado nos danos físicos reforçam a necessidade de fortalecer a educação permanente, a articulação intersetorial e a escuta qualificada no acolhimento e enfrentamento desse grave problema de saúde pública.
FORMAS DA RUA: A ATUAÇÃO TERRITORIAL E O VÍNCULO COMO FACILITADORES DA MUDANÇA
Pôster Eletrônico
1 Fundação Oswaldo Cruz Brasília e Instituto No Setor
2 Fundação Oswaldo Cruz Brasília
Período de Realização
Fevereiro de 2024 e junho de 2025
Objeto da experiência
A experiência do projeto Formas da Rua na área central de Brasília, como espaço de vivência
de grande número de pessoas em situação de rua
Objetivos
Desenvolver metodologias para o trabalho com a população em situação de rua, com base nas
ações territoriais, na promoção de cultura comunitária e participativa, para fortalecer os laços
no território central de Brasília/DF.
Metodologia
A população de rua, marcada historicamente por processos de violência e exclusão, reproduz
em suas relações as violências vividas. Desse modo, a transformação dessas relações
acontece, principalmente, por meio da convivência comunitária, de articulação de políticas
públicas e sociais. Sem contornos institucionais que regulam o espaço, o vínculo se tornou o
principal instrumento e a mediação das relações uma das necessidades de atuação da equipe.
Resultados
Pensar o território do projeto como um espaço comunitário permitiu ao projeto realizar
análises críticas das dinâmicas e estratégias para a população atendida. As partir da análise do
contexto, foram possíveis intervenções mais seguras que incidiram sobre a dinâmica já
existente. Destacamos dois momentos: um de mediação de conflito relacionado à violência
conjugal e outro em que a realização de denúncias formais ao poder público serviram como
resistência às violências impetradas pelo Estado.
Análise Crítica
Dentro de espaços de extrema vulnerabilidade, as dinâmicas sociais reproduzem as violências
sofridas e a resolução de conflitos não considera o Estado como regulador das relações
humanas. Pelo contrário, os agentes do Estado são considerados inimigos por serem
perpetradores de violência. Os conflitos se tornam sempre em violências. Conviver e
construir conjuntamente novas possibilidades de resposta aos conflitos possibilitou o
desenrolar de caminhos menos danosos aos indivíduos e ao coletivo.
Conclusões e/ou Recomendações
Além de garantir direitos básicos, a convivência comunitária se tornou essencial para o
desenvolvimento do projeto. Foi por meio desses espaços relacionais que se construíram
vínculos e foi possível compreender a fundo o contexto sociocultural vivenciado. O vínculo
possibilitou a construção de estratégias de segurança da equipe e permitiu a intervenção nos
ciclos reprodutivos de violência.
BARREIRAS DE ACESSO NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DE GÊNERO CONTRA MULHERES: UMA ABORDAGEM INTERSECCIONAL E INTERSETORIAL
Pôster Eletrônico
1 IFF/ Fiocruz
Apresentação/Introdução
A violência de gênero contra as mulheres impacta a saúde física e mental. O Brasil ocupa a 5ª posição no ranking do feminicídio (ACNUDH, 2024). O fenômeno é objeto de estudo e intervenção de diversas políticas públicas, considerando marcadores (idade, classe, raça, gênero). Este estudo destaca os entraves no cotidiano dos serviços de atendimento.
Objetivos
Busca identificar e analisar as principais barreiras de acesso enfrentadas por mulheres em situação de violência, discutindo seus impactos na saúde física e mental, os desafios impostos às redes e serviços de atendimento.
Metodologia
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa, baseada em análises de dados secundários, marcos legais e autores que abordam saúde pública, interseccionalidade e direitos humanos das mulheres. O foco principal é identificar as barreiras de acesso que limitam o cuidado integral e intervenção qualificada, reforçando desigualdades históricas, sociais e culturais no enfrentamento à violência de gênero na sociedade brasileira.
Resultados
Em 2024, evidencia-se o crescimento de todas as modalidades de violência contra mulheres, com maior incidência sobre negras e jovens. 64,3% das mulheres foram mortas em sua residência, 90% dos assassinos são homens. Destes homens, 63% parceiro íntimo e 21,2% ex-parceiro íntimo. A Justiça concedeu medida protetiva apenas a 81,4% das solicitações, um crescimento de 26,7% em comparação ao ano de 2023. Os dados revelam que a violência racial e o sexismo no Brasil persistem. As principais barreiras de acesso são: geográfica, ausência de serviços especializados, racismo institucional, deslegitimação da dor e fragmentação das redes de atendimento agravam a saúde mental das mulheres.
Conclusões/Considerações
Superar barreiras de acesso é essencial para a efetividade das políticas públicas voltadas às mulheres. É urgente garantir um cuidado integral, humanizado e intersetorial, para que mulheres rompam o ciclo de violência. Profissionais devem compreender as relações étnico-raciais e a interseccionalidade, fortalecendo o compromisso ético-político com políticas que respeitem a diversidade e os direitos das mulheres.
NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL CONTRA A POPULAÇÃO IDOSA DO NORDESTE BRASILEIRO
Pôster Eletrônico
1 UESB
Apresentação/Introdução
A violência contra a pessoa idosa é um problema crescente e multifatorial. Dentre as suas formas, destaca-se a violência interpessoal, cometida por familiares ou pessoas próximas, que pode assumir formas físicas, psicológicas ou de negligência. No Nordeste, as notificações apontam desigualdades estruturais que exigem respostas articuladas e políticas públicas efetivas.
Objetivos
Descrever o perfil dos casos de notificação de violência interpessoal na população idosa do Nordeste brasileiro entre os anos de 2014 a 2024.
Metodologia
Trata-se de um estudo epidemiológico, delineamento temporal, do tipo ecológico, com dados oriundos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Foram analisadas notificações de violência interpessoal contra pessoas com 60 anos ou mais, residentes nos estados do Nordeste brasileiro, registradas entre os anos de 2014 e 2024. As variáveis analisadas incluíram o ano de notificação, unidades federativas de notificação, sexo, raça/cor da pele, local da ocorrência e o tipo/natureza da violência. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva, utilizando o software Jamovi versão 2.3.28.
Resultados
Verificou-se a ocorrência de 53.505 notificações de violência interpessoal na população idosa do nordeste brasileiro. Evidenciou-se que o ano de 2024 apresentou o maior número de registros (n=10.173; 19%). A maioria das vítimas era do sexo feminino (n=29.486; 55,1%) e de raça/cor parda (38.739; 72,4%). Quanto à natureza da violência, a negligência/abandono foi a mais prevalente (n=22.591; 42,2%), seguida pela física (n=21.858; 40,8%) e psicológica/moral (n=2.827; 5,2%). A residência foi o principal local das ocorrências (n=35.715; 66,7%). Dentre os estados que compõem a região Nordeste, houve um predomínio de notificações em Pernambuco (n=19.683; 36,7%) e no Ceará (n=14.981; 28%).
Conclusões/Considerações
A violência contra idosos no Nordeste revela um cenário marcado principalmente por negligência e agressões no ambiente familiar, além de evidenciar as desigualdades regionais, refletindo a vulnerabilidade dessa população e a necessidade de atenção por parte do poder público. Nesse contexto, torna-se essencial fortalecer políticas públicas, redes de apoio e a atuação interprofissional na proteção da pessoa idosa.
“PARECE QUE EU NÃO VIVO, VEGETO”: A EXPERIÊNCIA DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E O PAPEL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 Universidade de Brasília (UnB)
Apresentação/Introdução
A violência doméstica é um fenômeno atravessado por diferentes marcadores sociais sendo uma realidade presente no Distrito Federal e afetando a vida de milhares de mulheres. Ao mesmo tempo, como questão de saúde pública, os profissionais da Atenção Primária à Saúde podem e devem desempenhar um importante papel no apoio às mulheres vítimas de violência através de seus atendimentos ambulatoriais.
Objetivos
A pesquisa teve por objetivo compreender e analisar as manifestações de violência contra mulheres, moradoras de uma região rural do Distrito Federal, e como se dava a percepção e conduta dos profissionais da Unidade Básica de Saúde (UBS) onde vivem.
Metodologia
Tratou-se de uma pesquisa qualitativa, usando as técnicas de observação participante e realização de entrevistas semiestruturadas com mulheres vítimas de violência doméstica e os profissionais de saúde da UBS onde elas são usuárias. Para a análise das entrevistas com as mulheres foi utilizado o método de biografia coletiva, para uma melhor compreensão do grupo estudado uma vez que o grupo de mulheres apresentaram trajetórias e outros dados homogêneos. A análise das entrevistas com os profissionais de saúde foi feita com base na técnica da entrevista focada, dividida em núcleos de pesquisa que permitiram consolidar as informações em categorias simples para posterior discussão temática.
Resultados
Os resultados foram divididos e tratados a partir da tipologia de violência, segundo a Lei Maria da Penha, debatendo os relatos das mulheres e dos profissionais em face a esta lei e a Política Nacional de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher. A biografia coletiva corrobora o ciclo de violência vivenciado por mulheres de outras situações demográficas e socioeconômicas encontradas na literatura, mostrando como esse tipo de violência se perpetua em diferentes realidades. As entrevistas com os profissionais de saúde demonstraram empatia e ações voltadas para o cuidado, mas, ao mesmo tempo, reconhecimento sobre a falta de capacitação para melhor atendimento dessas mulheres.
Conclusões/Considerações
Consideramos que a rede de enfrentamento à violência contra a mulher possui diversas lacunas, como o despreparo e falta de capacitação profissional, falta de comunicação entre os setores multidisciplinares e de apoio individualizado para cada mulher em situação de violência. Além disso, nas unidades de saúde é necessária a criação de estratégias de educação popular em saúde que possam colaborar na prevenção à violência.
VUNERABILIDADE E VIOLENCIA DA POPULAÇÃO NEGRA NO LIVRO QUARTO DE DESPEJO - OBRA DE CAROLINA MARIA DE JESUS
Pôster Eletrônico
1 Instituto Federal Goiano Campus Urutaí
2
Período de Realização
A experiencia teve início em fevereiro de 2025, é tem acontece até os dias de atuais.
Objeto da experiência
Promover estudos e vivencias para a formação antirracista, entre as diferentes modalidades de ensino do Instituto Federal Goiano Campus Urutaí.
Objetivos
O estudo tem como objetivo apresenta e discutir os impactos da violência e o racismo ambienta para a saúde da população negra na perspectiva do livro Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus. Busca identificar na obra literária o porquê a violência assola a população periférica, sobretudo negra.
Descrição da experiência
A experiência aqui descrita é um fragmento do projeto Mulungu Formação Antirracista, desenvolvido no curso de Nutrição do Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí. esta experiência destaca a leitura de obras literárias negras e encontros de debate. Nesses debates, exploramos a temática racial, escrevivência negra, violência e saúde. Este relato em particular compartilha as reflexões surgidas durante os encontros do Mulungu, que teve como foco a obra Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus.
Resultados
Participaram desse encontro, discentes e a docente responsável. E nesse encontro debatemos alguns trechos de violência encontrados no “Quarto de Despejo”:
Pagina 13: “Uma mulher de 48 anos brigar com criança! As vezes eu saio,
ela vem até a minha janela e joga o vaso de fezes nas crianças.”.
Pagina 43: “Agrediram a mulher que estava com o Alcino. Quatro mulheres e
um menino avançaram na mulher com tanta violência e lhe jogaram no solo”.
Aprendizado e análise crítica
Os discentes e docentes do projeto Mulungu debatem o relato da página 13 e 43 nesse encontro. Que as atitudes da mulher de 48 anos são inaceitáveis, percebendo que a mulher pode ter problemas de estresse e talvez problemas psicológicos. A covardia de 4 mulheres e um menino jogando de forma violentando uma mulher no chão, são consequência da inveja e da raiva da população quando vivem em um local onde a situação e difícil de se viver como a favela.
Conclusões e/ou Recomendações
Percebemos que a violência e algo presente na vida da sociedade negra, humilde e periférica, porque tudo pode ir de mal a pior quando as necessidades fundamentais para ser viver não são levadas a sério e negligenciadas pelo governo, deixando assim população periférica sobretudo negro a própria sorte. Tendo que vivendo sobre a lei do mais forte, assim causando mortes, agressões, estropos e levando as crianças para a vida do crime na favela.
CIBERVIOLÊNCIA NO CONTEXTO UNIVERSITÁRIO: EXPERIÊNCIAS E POSSIBILIDADES DE ENFRENTAMENTO
Pôster Eletrônico
1 UFPR
2 UFRN
Apresentação/Introdução
A ciberviolência consiste em atos de violência facilitados por tecnologias ou mídias digitais. No contexto universitário, pode impactar negativamente a saúde, a vida social e acadêmica dos estudantes, levando ao abandono dos estudos. Há uma lacuna nas pesquisas realizadas acerca de proposições de intervenções colaborativas com os estudantes para enfrentar a ciberviolência na universidade.
Objetivos
conhecer e analisar as percepções de jovens universitários sobre a ciberviolência e sobre possibilidades de enfrentamento para o problema.
Metodologia
Estudo exploratório e descritivo, de abordagem qualitativa. Este estudo foi fundamentado na Teoria da Intervenção Práxica da Enfermagem em Saúde Coletiva (TIPESC) e concentrou-se nas três primeiras etapas: 1) captação da realidade objetiva; 2) interpretação da realidade objetiva; 3) construção do projeto de intervenção na realidade objetiva. Os dados foram coletados em uma sessão da Oficina de Trabalho Crítico-emancipatória (OTC), desenvolvida no mês de julho de 2024 com sete estudantes universitários, e submetidos à análise de conteúdo com apoio do software MaxQDA, versão 24.2.0.
Resultados
Duas categorias empíricas derivam da análise: Vozes universitárias: experiências e percepções sobre a ciberviolência; e A universidade e a ciberviolência: vislumbrando caminhos para o enfrentamento da problemática. A ciberviolência atravessa a vida dos participantes e impacta dimensões sociais, acadêmicas e de saúde dos indivíduos. Como estratégia de enfrentamento, foi proposta a criação de um projeto de extensão universitária multidisciplinar, com ações como acolhimento psicológico, suporte jurídico, campanhas educativas e fortalecimento dos canais de denúncia, visando a construção de um ambiente universitário mais seguro, inclusivo e informado sobre a ciberviolência.
Conclusões/Considerações
Este estudo evidenciou que a ciberviolência é frequentemente naturalizada por jovens universitários, sobretudo em relações íntimas, em que comportamentos abusivos são confundidos com demonstrações de afeto. A OTC estimulou reflexões críticas e a construção de ações para o enfrentamento da ciberviolência. A pesquisa amplia o conhecimento sobre o tema e fomenta abordagens transformadoras e ações colaborativas no ambiente universitário.
PERCEPÇÕES E VIVÊNCIAS DE CIBERVIOLÊNCIA ENTRE PARCEIROS ÍNTIMOS UNIVERSITÁRIOS: ANÁLISE À LUZ DAS CATEGORIAS GÊNERO E GERAÇÃO
Pôster Eletrônico
1 UFPR
2 UFRN
Apresentação/Introdução
A ciberviolência é qualquer ato violento facilitado por tecnologias ou mídias digitais. No ambiente universitário, pode causar abandono dos estudos e afetar a vida social, acadêmica e a saúde. Há uma lacuna nas investigações sobre a temática, pois elas não analisam os resultados à luz de gênero e geração, categorias essenciais para entender o fenômeno, que atinge principalmente mulheres jovens.
Objetivos
Conhecer as percepções e vivências de jovens universitários sobre a ciberviolência e analisar qual é sua articulação com as questões de gênero e geração.
Metodologia
trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, do tipo exploratório, guiado pelo referencial teórico-metodológico da Teoria da Intervenção Práxica da Enfermagem em Saúde Coletiva e pelas categorias gênero e geração. Vinte e nove universitários de uma universidade pública no estado do Paraná foram entrevistados entre abril e junho de 2024. Os dados foram gravados, transcritos e analisados conforme a metodologia de Bardin, com apoio do software MaxQDA, versão 24.2.0. Os resultados foram discutidos à luz das categorias gênero e geração.
Resultados
65,52% dos participantes vivenciaram ciberviolência. Quatro categorias empíricas derivaram da análise: Percepções sobre a ciberviolência; Vivência da ciberviolência; Consequências da ciberviolência; Sentimentos em relação à ciberviolência. A ciberviolência se manifesta por meio de controle, exposição de informações ou fotos íntimas, assédio, coerção, pressão, monitoramento, silenciamento, ameaças e perseguições, agravando-se em tentativas de término de relacionamento. As consequências afetam a vida social, acadêmica e a saúde emocional, psicológica e física, com relatos de depressão, ansiedade, crises de pânico, ganho de peso e tentativas de suicídio.
Conclusões/Considerações
A ciberviolência é determinada pela desigualdade de gênero e geração. A interseção dessas subalternidades evidencia que mulheres jovens e adolescentes são as mais afetadas pela ciberviolência, enfrentando desigualdades geracionais e de gênero em uma sociedade marcada por disparidades entre homens e mulheres. Este estudo amplia o conhecimento na área sobre o tema e fomenta investigações e intervenções no ambiente universitário.
ASSOCIAÇÃO ENTRE CONSUMO DE ÁLCOOL E FEMINICÍDIO EM CAPITAL DA AMAZÔNIA BRASILEIRA
Pôster Eletrônico
1 Instituto Leônidas e Maria Deane - ILMD/FIOCRUZ
2 Universidade Federal de Rondônia- UNIR
3 Secretária Estadual de Saúde de Rondônia
4 Tribunal de Contas do Estado de Rondônia- TCE/RO
Apresentação/Introdução
O feminicídio é um problema multifatorial e relevante causa de mortalidade prematura entre mulheres no Brasil. Na região Norte, estudos sobre fatores de risco associados à ocorrência do crime ainda são escassos. Portanto, identificar fatores de risco pode contribuir ao aprimoramento de estratégias de prevenção e subsidiar políticas públicas enfrentamento à violência letal contra mulheres.
Objetivos
Avaliar a associação entre consumo de álcool e feminicídio, em amostra feminina com 10 anos ou mais, cidade de Porto Velho, capital do estado de Rondônia, no período de 2019-2024.
Metodologia
Estudo de mortalidade proporcional, pautado em inteligência epidemiológica e que integra dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade, Secretaria de Segurança Pública, Judiciário e imprensa online. A exposição foi o consumo de álcool, da vítima e/ou agressor, durante ou horas antes do fato. Feminicídio presumível ou não foi determinado com base nas circunstâncias dos assassinatos, relatos policiais e informações do Judiciário. Usou-se regressão logística e a medida de associação foi a Odds Ratio (OR), ajustando por raça/cor, estado civil e local de ocorrência. Na OR bruta (ORb), o nível de significância foi 20% e na OR ajustada (ORa) 5%. As análises foram feitas no R e RStudio.
Resultados
Ao todo, o estudo incluiu 91 assassinatos. Desse total, 53,84% foram classificados como feminicídios presumíveis, com mediana de idade de 34 anos e, em sua maioria, em vítima parda/preta (81,63%), casada/união estável (65,31%) e cuja agressão ocorreu no domicílio (75,51%). A ORb foi de 3,48 (IC: 1,29-10,62) e a ORa foi de 3,54 (IC: 1,06-13,80) nas vitimizações que envolveram uso de álcool, em comparação a sua contraparte.
Conclusões/Considerações
Os assassinatos que envolveram violência de gênero predominaram em mulheres negras, casadas e em contexto domiciliar. O consumo de álcool esteve associado a maior chance de feminicídio, mesmo após o ajuste para possíveis confundidores. Estes achados, alinhados aos de outros estudos que associam o consumo de álcool a desfechos violentos negativos, pode subsidiar ações mais efetivas de prevenção da violência contra a mulher em contexto amazônico.
CAPACITAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS E OS PRODUTOS CRIADOS DE BAIXO CUSTO PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES NO TERRITÓRIO
Pôster Eletrônico
1 UFMG
Apresentação/Introdução
A prevenção da violência na Atenção Primária é essencial para a saúde das mulheres. Em Contagem-MG, este estudo desenvolveu um projeto de intervenção em duas UBS para capacitar ACS no enfrentamento da violência de gênero. A experiência da autora no NASF e no mestrado da UFMG revelou a urgência dessa formação e resultou na criação de instrumentos de baixo custo e integração à rede de enfrentamento.
Objetivos
Objetivos
Capacitar ACS para o enfrentamento da violência contra mulheres, articulando impactos no processo saúde-doença, produzindo instrumentos de baixo custo e promovendo conhecimento sobre a Rede de Enfrentamento de Contagem.
Metodologia
Metodologia
Projeto de intervenção em duas UBS de Contagem-MG com três equipes de ACS. Foram aplicados dois cursos: 12h (E1) e 4h (E3); E2, sem capacitação, foi grupo controle. O projeto seguiu cinco etapas: 1) Planejamento dos cursos sobre violência de gênero; 2) Aplicação dos cursos; 3) Avaliação pré/pós dos ACS e questionário a enfermeiros supervisores; 4) Produção de dois produtos de baixo custo: a) Coletânea com textos dos ACS; b) Criação do Atenciômetro, ferramenta simbólica e de monitoramento; 5) Realização do encontro “Café com a Rede”.
Resultados
Resultados
A capacitação impactou positivamente a prática dos ACS. O curso de 12h mostrou melhores resultados na identificação e encaminhamento de casos de violência, ao passo que o de 4h teve efeito limitado. Na equipe sem formação, observaram-se fragilidades nesse reconhecimento. Os produtos gerados — Atenciômetro, Coletânea Temática e Café com a Rede — foram fundamentais para o fortalecimento da atuação dos ACS e para a discussão e enfrentamento da cultura sexista. Os dados indicam que a capacitação contínua melhora significativamente a assistência às mulheres em situação de violência.
Conclusões/Considerações
Considerações
Capacitar ACS é essencial para fortalecer a APS no enfrentamento à violência. O curso de 12h foi mais eficaz. Produtos de baixo custo como o Atenciômetro, a Coletânea Temática e o Café com a Rede fortaleceram a formação. Recomenda-se ampliar a capacitação e integrar ações às diretrizes da Atenção Básica.
VÍNCULOS, ESCUTA E REDE: ITINERÁRIOS TERAPÊUTICOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA
Pôster Eletrônico
1 Unicamp
Apresentação/Introdução
A violência de gênero pode gerar sofrimento psíquico importante e configura grave violação de direitos humanos. Tal fenômeno demanda, portanto, respostas intersetoriais no campo da saúde coletiva. O uso de itinerários terapêuticos permite compreender os percursos, rupturas e vínculos que atravessam o cuidado em saúde mental, especialmente no contexto da atenção a mulheres em situação de violência.
Objetivos
Analisar, por meio de itinerários terapêuticos, os percursos de mulheres em situação de violência atendidas por um serviço de psicanálise e matriciamento do interior de São Paulo com foco nas experiências subjetivas e na construção de vínculo-rede.
Metodologia
Este estudo é um relato de pesquisa qualitativa, ancorado nos referenciais da saúde coletiva e da psicanálise. Foram construídos itinerários terapêuticos com base em 4 entrevistas semi-estruturadas e diário de campo, com mulheres atendidas pelo serviço. A análise incidiu sobre a trajetória dessas mulheres na rede de cuidados do município, considerando dimensões subjetivas, institucionais e intersubjetivas que atravessam os vínculos estabelecidos com os serviços. A abordagem buscou problematizar o acesso, a continuidade do cuidado e os efeitos do acompanhamento psicossocial em situações marcadas pela complexidade das violências vividas.
Resultados
Os itinerários revelam percursos marcados por descontinuidades no cuidado e por relações frágeis com os serviços, muitas vezes pautadas na responsabilização individual. Apesar disso, a escuta qualificada e a criação de vínculos emergem como fatores fundamentais para a permanência dessas mulheres na rede. O serviço se destaca como espaço de acolhimento e articulação com outros pontos do cuidado, permitindo construir intervenções sustentadas por um olhar clínico, ético e político. A pesquisa aponta ainda os efeitos psíquicos e institucionais da violência nos modos de circular pela rede.
Conclusões/Considerações
O estudo reforça a potência dos itinerários terapêuticos como ferramenta importante para analisar o acesso à construção de rede e a experiência no cuidado em saúde mental. Evidencia-se a importância do vínculo e da escuta como eixos de sustentação do cuidado a mulheres em situação de violência.
ESTUDO DOS FACILITADORES E DAS BARREIRAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO APOIO MATRICIAL INTERSETORIAL NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA NOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO EM CAMPINAS
Pôster Eletrônico
1 UNICAMP
2 USP
Apresentação/Introdução
No enfrentamento à violência, a política da Educação destaca-se ao desempenhar uma função de identificação e cuidado às vítimas, podendo contribuir de forma preventiva. Já no SUS, o apoio matricial tem se mostrado eficaz para a integração de redes de cuidado. Daí a importância do trabalho intersetorial no fortalecimento das políticas e cuidado das vítimas de violência.
Objetivos
O objetivo do estudo é identificar as barreiras e facilitadores para implementação da Rede de Apoio e Acompanhamento às Situações de Exposição a Violência no distrito Norte de Campinas-SP na perspectiva dos trabalhadores da educação.
Metodologia
Trata-se de uma pesquisa qualitativa de ciência de implementação que adotará como método a realização de entrevistas em profundidade para estudo de contexto. As entrevistas em profundidade são indicadas sempre que é relevante conhecer experiências, percepções e valores de grupos sociais estratégicos, no período de novembro de 2024 à março de 2025, 20 trabalhadores da educação foram entrevistados: 6 professoras, 4 gestoras e 10 pessoal de apoio. Respeitando-se essas categorias, os critérios de inclusão foram ter mais de 6 meses de trabalho na região, e seguir a diretriz da máxima diversidade e da repetição da frequência em campo.
Resultados
A análise dos resultados, ainda em fase preliminar, indica como um dos facilitadores à implementação do apoio matricial intersetorial a visão positiva que os trabalhadores da educação têm do trabalho em rede, reconhecendo sua potência e necessidade para enfrentamento das situações de violência. Já a desvalorização da profissão docente e a rigidez da política da educação são apontadas como barreiras que impedem os trabalhadores de circular por outros espaços, reunir-se com outras políticas para pensarem suas práticas de forma criativa e dinâmica diante dos desafios da violência no cotidiano escolar.
Conclusões/Considerações
Este estudo destaca o papel estratégico da educação e do SUS no enfrentamento à violência, enfatizando a importância do trabalho intersetorial, nesse sentido o apoio matricial pode atuar como uma ferramenta de fortalecimento da rede de cuidado na medida em que favorece a condução coletiva dos casos, propõe espaços formativos e de suporte interdisciplinar para trabalhadores apoiados, tornando o ambiente escolar mais horizontal e criativo.
PERFIL DA MORTALIDADE POR AGRESSÕES NO ESTADO DE GOIÁS ENTRE 2019 E 2023: UM RECORTE TEMPORAL
Pôster Eletrônico
1 Universidade Federal de Catalão (UFCAT)
Apresentação/Introdução
A Organização Mundial da Saúde define agressão como um evento físico lesivo ou fatal aos indivíduos. Nesse panorama, a mortalidade decorrente de agressões é um fator complexo e multifatorial, relacionado a condições socioeconômicas, como o acesso a armas de fogo, uso de álcool e drogas e baixa escolaridade. Tais fatores, além de diminuir a longevidade, tornam-se um agravante à Saúde Pública.
Objetivos
Investigar a distribuição espacial e o perfil da mortalidade por agressões no estado de Goiás entre os anos de 2019 e 2023.
Metodologia
Trata-se de uma pesquisa quantitativa de abordagem exploratória, baseada em dados secundários extraídos do Sistema de Informações de Mortalidade disponíveis na plataforma DATASUS. Para a coleta de dados, considerou-se os óbitos por agressões de acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID-10) X85 a Y09 no estado de Goiás. Os dados referem-se ao período de 2019 a 2023. A análise de dados abrangeu as variáveis: sexo, raça e faixa etária de 15-24; 25-34; 35-44; 45-54; 55-64; >65 anos, tabulados e estratificados por meio do software Tabwin. Para cálculo da taxa, utilizou-se a taxa de mortalidade específica.
Resultados
Foram registrados 8.090 óbitos em Goiás por agressões no período analisado. Em 2019, registrou-se o maior número de ocorrências, com 1968 óbitos (24,32%), seguido por 2020 (1892), 2021 (1508), 2022 (1409) e 2023 com (1313). Em relação à distribuição demográfica, os homens representaram 92,2% das vítimas (7462 óbitos), já as mulheres corresponderam a 7,8% (628 óbitos). Quanto à faixa etária, indivíduos do sexo masculino com idade entre 15 e 34 anos concentraram 65% das ocorrências por morte violenta, enquanto mulheres de 25 a 34 anos, representaram 26% dos casos. A raça/cor parda teve predominância entre as vítimas: 72% nos homens e 64% nas mulheres.
Conclusões/Considerações
Salienta-se, assim, que a mortalidade por agressões afeta majoritariamente homens jovens e pardos, que possuem um risco 12 vezes maior se comparado às mulheres. Em 2023, houve redução desse índice de fatalidade. Por isso, é crucial a implementação de políticas públicas e preventivas e o fortalecimento de estratégias intersetoriais voltadas à prevenção da violência e à promoção da equidade em saúde.
GOVERNANÇA NA ESCOLA: TÁTICAS PARA CONTROLAR A INDISCIPLINA E VIOLÊNCIA EM COLÉGIOS PÚBLICOS DE SALVADOR/BAHIA
Pôster Eletrônico
1 UNEB
Apresentação/Introdução
A violência escolar é um grave problema de saúde pública, que tem estado presente nas pautas das autoridades, representando uma fonte de interlocução da Saúde Coletiva com a Sociologia, Antropologia, Psicologia e Educação. Logo, a abordagem da segurança na escola envolve agressões verbais, físicas, simbólicas, que acometem a comunidade escolar e colocam em risco a segurança nesses espaços.
Objetivos
Por essa perspectiva, o objetivo deste estudo foi conhecer práticas de governança de três colégios estaduais de Salvador, a fim de minimizar atos de indisciplina e violência interpessoal entre estudantes.
Metodologia
Quanto à orientação metodológica, a presente pesquisa assumiu um caráter descritivo e analítico, amparada no estudo de caso de três colégios estaduais de Salvador. Para isso, as abordagens quantitativa e qualitativa foram adotadas, com a finalidade de analisar as percepções e práticas dos estudantes, bem como os recursos utilizados por tais unidades de ensino com vistas a prevenir, controlar e/ou coibir a dinâmica e os efeitos da violência nesses espaços coletivos. Nesse sentido, o estudo foi baseado na observação direta, entrevistas com profissionais e estudantes do diurno, e aplicação de um questionário com discentes matriculados nas séries finais do ensino fundamental.
Resultados
Os resultados mostraram situações distintas que transitaram da rígida vigilância e controle dos alunos, assinalados pela definição de regras, supervisão dos colaboradores e anuência dos pais ou responsáveis; perpassaram pela fragilidade das normas internas, que paradoxalmente era protegido pelo tráfico de drogas; e culminaram com um terceiro cenário marcado pelo entorno violento, ingerência do tráfico dentro do colégio e intervenção da Ronda Escolar. De modo complementar, professores, colaboradores e gestores apontaram problemas de adoecimento físico e mental decorrentes das tensões vivenciadas no ambiente laboral.
Conclusões/Considerações
Conclui-se que o contexto sociocultural dos bairros, o perfil dos estudantes e as especificidades relacionadas às estratégias, mais ou menos contundentes, adotadas pelos agentes de segurança de cada colégio dialogam com a concepção de (in)segurança escolar. Esses resultados, portanto, apenas reforçam a gravidade e a necessidade de intervenções proativas, que visem acima de tudo um ambiente de aprendizado saudável e motivador para todos.
A REVISTA CAPRICHO E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A SAÚDE COLETIVA: UMA ANÁLISE DA CAMPANHA “DIGA NÃO AO BULLYING” NO PERÍODO DE 2010 A 2011
Pôster Eletrônico
1 UFBA
2 UNEB
Apresentação/Introdução
Atualmente denominado bullying, as agressões sistemáticas no ambiente escolar, antes naturalizadas como "brincadeiras", são reconhecidas como violência interpessoal e questão de saúde pública, com impactos diretos na adolescência. No Brasil, o termo ganhou visibilidade nos anos 2000, influenciando mídias juvenis e discursos educacionais, como a campanha "Diga Não ao Bullying" da revista Capricho.
Objetivos
Analisar de que maneira o bullying foi abordado pela revista Capricho entre 2010 e 2011, à luz da Saúde Coletiva, a fim de compreender como os discursos midiáticos construíram sentidos sobre essa violência e suas implicações à saúde de adolescentes.
Metodologia
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de natureza documental e exploratória, que analisou 10 edições da revista Capricho publicadas entre 2010 e 2011, empregando a análise de discurso para investigar os enunciados da campanha "Diga Não ao Bullying". Ancorada no referencial da Saúde Coletiva, a leitura crítica e a análise priorizaram as dimensões subjetiva, social e institucional da violência escolar. Considerou-se também elementos da ecologia de saberes, articulando narrativas de adolescentes, especialistas e personagens midiáticos, a fim de desvelar o papel da mídia na sensibilização, visibilização e estratégias de enfrentamento às violências que impactam a saúde e direitos dessa população.
Resultados
A Capricho abordou o bullying enquanto expressão da violência estrutural, associando-o ao sofrimento psíquico e à marginalização social. A análise indicou que a campanha ampliou a sua visibilidade como violência escolar, usando linguagem acessível e depoimentos para aproximá-lo do cotidiano juvenil. Nota-se que houve ênfase em estratégias individuais de enfrentamento e denúncia, com menor aprofundamento sobre determinantes sociais ou articulação com políticas públicas, serviços de saúde e marcos legais de direitos humanos. Contudo, os discursos geraram reconhecimento da dor e mobilização subjetiva, fomentando empatia e tornando a revista em um espaço extraescolar de educação socioafetiva.
Conclusões/Considerações
A campanha contribuiu para visibilizar o bullying como violência e problema de saúde, embora com limitações na abordagem coletiva. Os discursos midiáticos podem ser potentes aliados no enfrentamento, desde que articulem crítica social, intersetorialidade e ecologia de saberes. Recomenda-se que futuras iniciativas midiáticas integrem ações intersetoriais de vigilância em saúde e capacitação de profissionais, fortalecendo redes de cuidado.
O AMOR ROMÂNTICO COMO FATOR VULNERABILIZANTE EM SAÚDE: DESNATURALIZAÇÕES E DESAFIOS NO CUIDADO NÃO REVITIMIZANTE ÀS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Pôster Eletrônico
1 Universidade Federal Fluminense
Apresentação/Introdução
Este artigo analisa o amor romântico como construção social e ideológica que se constitui como um fator vulnerabilizante na saúde das mulheres, em especial as mulheres negras, favorecendo e naturalizando a violência doméstica. Fundamentado no feminismo negro, utiliza-se a interseccionalidade como metodologia analítica, para situar os atravessamentos entre opressões de raça, gênero e classe.
Objetivos
- Discutir as contribuições do amor romântico como parte da determinação social do processo saúde-doença-cuidado das mulheres em situação de violência doméstica;
- Propor reflexões sobre práticas de cuidado em saúde não revitimizantes.
Metodologia
A partir de revisão bibliográfica, dialogamos com base no pensamento afrodiaspórico do feminismo negro e decolonial nacional e internacional, que inaugura a crítica sobre o amor romântico como saldo histórico dos processos de opressão decorrentes da colonização, sequestrando territórios, corpos, subjetividades/afetividades. Para tanto, utiliza-se a interseccionalidade como ferramenta analítica para subsidiar a análise de sistemas de raça, gênero e classe que operam de forma interdependente. As referências teóricas para esse estudo passa pelo comprometimento epistemológico com narrativas contra hegemônicas, corpos que não por acaso, são mais expostos à violência doméstica: as mulheres negras.
Resultados
Para hooks (2021) e outras referências utilizadas no estudo, o amor romântico é uma invenção social, capaz de reproduzir as imposições de dada realidade social. Naturalizado, costuma se apresentar como intangível, ainda distante do campo de discussão das políticas de cuidado em saúde. As estruturas de opressão de raça, gênero e classe se reelaboram na produção de subjetividades nas relações afetivas sexuais baseadas nessa ideologia, contribuindo para a violência doméstica, especialmente contra mulheres negras. Tal contexto se expressa no Dossiê Mulher (ISP/RJ, 2024), que indica como autores de violência doméstica, em maioria, são homens com quem as vitimadas tinham uma “história de amor”.
Conclusões/Considerações
Sugere-se que o amor romântico, ao reforçar papéis de gênero, hierarquias raciais e submissão da mulher, projeta idealizações afetivas, naturaliza violências e perpetua ciclos de violências. Propõe-se refletir a (des) territorialização do saber na formação para o cuidado, associando cognição e afetividade como insurgência no modo de produzir conhecimento e práticas em saúde (Franco, 2007), visando o cuidado não revitimizante.
MAPEANDO O ACESSO: A DISPONIBILIDADE DE PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO À VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL NOS ESTADOS BRASILEIROS
Pôster Eletrônico
1 EEUSP
Apresentação/Introdução
No Brasil, em 1999, o Ministério da Saúde lançou a norma técnica “Prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e adolescentes”, como resultado de pactuações que o país é signatário, como a CEDAW(1984), e Belém do Pará(1994). Desde então, a assistência das vítimas se tornou prioritária no país, bem como a estruturação de protocolos assistenciais estaduais.
Objetivos
Identificar a existência de protocolos assistenciais para a assistência de vítimas de violência sexual nos serviços de saúde em diferentes estados brasileiros.
Metodologia
Estudo exploratório e qualitativo, desenvolvido por meio de pesquisa documental em protocolos assistenciais oficiais dos diferentes estados brasileiros, voltados à atenção às vítimas de violência sexual. Foram utilizados protocolos disponibilizados online nos sites das Secretarias Estaduais de Saúde (SES), por solicitação direta da pesquisadora via e-mail ou, e, na ausência da resposta, por meio de contato com pesquisadores da temática nas diferentes regiões do país. A busca foi realizada entre maio de 2024 e abril de 2025.
Resultados
A busca iniciou nos sites das 26 SES, com achados por região: Norte(2), Nordeste(2), Centro-Oeste(1) e Sul(2). Depois, e-mails foram enviados (exceto um estado da Região Sul e DF), com retorno: Norte(6), Nordeste(1), Centro-Oeste(3), Sul(2), e Sudeste(2). Alguns informaram não ter protocolos: Norte(1), Centro-Oeste(1) e Nordeste(1). Outros exigiram documentação para posterior envio: Sudeste(1), Norte(2) e Centro-Oeste(1). Para as SES que não responderam, recorreu-se a pesquisadores locais obtendo-se os protocolos do: Sudeste(1), e Nordeste(1). Não foi possível ter acesso aos protocolos: Norte(3), Nordeste(5) e Sudeste(1).
Conclusões/Considerações
Apesar da dificuldade de acesso aos protocolos e normas de assistência às vítimas de violência sexual nos diferentes estados do Brasil, a pesquisa identificou sua existência na maioria deles. Espera-se que esses documentos sejam, de fato, utilizados para garantir um atendimento adequado às mulheres vítimas de violência sexual no país.
CARACTERIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA INTERPESSOL/AUTOPROVOCADA: DESAFIOS E OPORTUNIDADES
Pôster Eletrônico
1 Secretaria de estado da saúde de Goiás
2 Universidade Federal de Goiás
Apresentação/Introdução
A violência interpessoal/autoprovocada é um fenômeno cada vez mais crescente, e se desenvolve nas relações sociais e interpessoais. Segundo a ONU, é o uso intencional de força ou poder, por ameaça ou ação, contra si mesmo ou outros, que pode causar ferimentos, morte, sofrimento psicológico, mau desenvolvimento ou privação
Objetivos
Descrever e analisar as notificações da violência interpessoal/autoprovocada no Estado de Goiás, no período de 2015 a 2024
Metodologia
Estudo ecológico, de série temporal, caráter descritivo e analítico, com dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) sobre violência interpessoal/autoprovocada contra a população do Estado de Goiás de 2015 a 2024. Foram realizadas análises estatísticas descritivas (frequência e proporções) para estudar a distribuição dos casos segundo as variáveis sexo, faixa etária, raça/cor, escolaridade, situação conjugal, presença de deficiência transtorno, local de ocorrência e repetição. Também foram realizados cálculo da variação percentual anual (VPA) e variação média no período (VMP) e taxas de notificação como base na população residente segundo IBGE.
Resultados
Foram registrados 123.331 casos de violência interpessoal/autoprovocada, com crescimento nas notificações e na taxa das mesmas, que passou de 91,2 por 100.000 habitantes em 2015 para 312,9 em 2024. Houve predomínio no sexo feminino (67,5%), faixa etária adulta (50,2%), ocorrência na residência (68,0%). Maior concentração de violências na raça/cor negra em todos os ciclos de vida, com percentuais de 78,6% na infância, 74,3% na adolescência, 74,8% na idade adulta e 70,9% idosos. Entre as formas de violência, 33,4% foram reincidentes, 14,4% em pessoas com transtorno/deficiência, ocorrendo principalmente em pessoas com baixa escolaridade, até 8 anos de estudo.
Conclusões/Considerações
O aumento dos casos evidenciados, não necessariamente indica um crescimento real na ocorrência de violência, mas também pode estar relacionado à implementação da notificação. A proporção de campos em branco/ignorados e a conhecida subnotificação dos registros de violência são desafios e oportunidades de melhoria para o fortalecimento de políticas públicas de enfrentamento às violências na saúde coletiva.
VIOLÊNCIA DE GÊNERO E O PROCESSO DE TORNAR-SE MULHER: REPERCUSSÕES NA SUBJETIVAÇÃO DE MULHERES OCIDENTAIS - UMA REVISÃO INTEGRATIVA
Pôster Eletrônico
1 UFTM
Apresentação/Introdução
A subjetividade, composta por fluxos, mobilizam o desejo e constrói territórios existenciais. A violência, por outro lado, se baseia na estagnação desses fluxos de desejo, assujeitando mulheres à uma lógica de relação de poder, aprisionando-as a um modo de ser e estar no mundo. Essas exigências impostas pelas tecnologias de gênero reservam sofrimento mental e existencial às mulheres.
Objetivos
Compreender os desdobramentos da violência de gênero no processo de subjetivação de mulheres vitimizadas ao longo de suas vidas.
Metodologia
Estudo de Revisão Integrativa sobre a subjetivação de mulheres em contexto de violência de gênero. Por meio da estratégia PICo a pergunta de pesquisa foi: “como a vivência da violência ao longo da vida atravessa a subjetividade de mulheres?”. Empregou-se os Descritores “Mulher”, “Violência Doméstica” e “Subjetividade”, combinados entre si pelo operador booleano AND. Pesquisou-se nas bases PubMed, Periódicos Capes e BVS Saúde. Critérios de inclusão: artigos publicados em português e inglês; nos últimos 5 anos (2019-2024) e disponibilizados de forma gratuita e na íntegra. E exclusão: resultados duplicados, publicações fora do recorte temático, teses e dissertações.
Resultados
Ao final do processo, 6 publicações foram selecionadas. Emergiu uma categoria essencial: caminhos de subjetivação. As produções evidenciaram que as linhas de poder social e historicamente estabelecidas na cultura ocidental exercem efeitos sobre a subjetividade das mulheres. O tornar-se mulher faz parte de um processo interpelado por mecanismos de poder, a qual a violência de gênero faz parte, que conformam subjetividades e delineiam formas de estar-no-mundo. Esse lócus é um importante fator de vulnerabilização para mulheres. O cotidiano da violência intensifica as repercussões em suas relações interpessoais e conjugais, em um movimento de heterocentramento, gerando sofrimento.
Conclusões/Considerações
A violência de gênero possui forças para estruturar relações e existências. Os modos de subjetivação circunscritos ao ser mulher nessa conjuntura, reserva aos corpos femininos graus de sofrimento psíquico e identitário. Há a necessidade do cuidado à saúde da mulher considerar a dimensão subjetiva, forjada nas relações sociais de iniquidade em sua trajetória, logo, um cuidado em perspectiva integral e intersetorial.
MORTALIDADE DE MULHERES POR AGRESSÃO E NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA PRÉVIA: FATORES ASSOCIADOS
Pôster Eletrônico
1 Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul
2 Escola Nacional de Saúde Pública/ FIOCRUZ
Apresentação/Introdução
A violência faz parte do cotidiano de muitas mulheres. Estes eventos, entretanto, tendem a se tornar progressivamente mais graves, podendo culminar na morte das vítimas. Conhecer as características dos indivíduos mais vulneráveis pode resultar na diminuição destes agravos.
Objetivos
Analisar as características associadas ao óbito por agressão, entre as mulheres adultas com notificação de violência, no estado do Mato Grosso do Sul, no período de 2009 a 2018.
Metodologia
Estudo transversal, de relacionamento probabilístico das notificações de violência doméstica e óbitos de mulheres de 20 a 59 anos, ocorridos em Mato Grosso do Sul, de 2009 a 2018, por meio da regressão logística.
Resultados
Mulheres tiveram notificação prévia de violência doméstica apresentaram taxas de mortalidade por agressão de 64,87 vezes à da população em geral. Houve associação entre notificação e óbito por agressão para mulheres na faixa etária de 30 a 39 anos (OR = 1,81) e de raça/ cor indígena (OR = 4,08), agressores do sexo masculino (OR = 9,02), parceiros íntimos da vítima (OR =1,65), sob influência de álcool (OR = 1,68). A principal causa de óbito foi a utilização de objetos cortantes ou penetrantes (44,21%), seguida pelo uso de arma de fogo (28,42%).
Conclusões/Considerações
Em Mato Grosso do Sul, mulheres com histórico prévio de violência, especialmente indígenas, apresentaram maior vulnerabilidade ao óbito por agressão. A adequada identificação, registro e encaminhamento desses casos são fundamentais para reduzir a magnitude do problema e subsidiar ações de prevenção e proteção mais eficazes.
SATISFAÇÃO COM A TELEMEDICINA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL: ESTUDO DESCRITIVO EM SERVIÇO DE REFERÊNCIA BRASILEIRO
Pôster Eletrônico
1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU)
Apresentação/Introdução
O uso da telessaúde ampliou-se com a pandemia pela COVID-19 e mostrou-se importante no acompanhamento de diversas condições clínicas, inclusive no acompanhamento das pessoas em situação de violência sexual.
Objetivos
Comparar a satisfação das pessoas em situação de violência sexual sobre a qualidade do atendimento ambulatorial via telessaúde em relação ao atendimento presencial de um serviço de referência de um hospital universitário do Brasil.
Metodologia
Trata-se de um estudo descritivo retrospectivo com pessoas acima de 18 anos, alfabetizadas, que tiveram ao menos um atendimento no serviço entre Agosto de 2020 a Janeiro de 2022. As pessoas elegíveis foram convidadas por telefone para participar da pesquisa, que consistia em uma entrevista de satisfação de consulta presencial e/ou remota realizada no serviço do estudo, baseada em um questionário com 14 itens.
Resultados
Vinte e duas mulheres foram incluídas no estudo. A média de idade foi de 29,8 ± 7,2 anos, 40,9% eram pardas e a maioria (60,9%) tinha ensino médio completo ou mais. Quando comparadas, as
percepções de satisfação dos atendimentos via telessaúde ou presencial não diferiram entre as participantes do estudo (p>0,05).
Conclusões/Considerações
A telemedicina mostra-se como ferrramenta importante no atendimento a pessoas em situação de violência sexual, com satisfação semelhante em relação ao atendimento presencial. Seu uso deve ser estimulado para melhoria da qualidade dos serviços, como forma alternativa viável à assistência em saúde dessa população.
VIOLÊNCIAS E ASSÉDIOS NO TRABALHO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Pôster Eletrônico
1 Senado Federal
Período de Realização
As ações analisadas tiveram início em dezembro de 2018 e seguem em andamento.
Objeto da experiência
Iniciativas institucionais de prevenção e enfrentamento às violências e aos assédios no ambiente de trabalho do Senado Federal.
Objetivos
Analisar a experiência do Senado Federal no enfrentamento às violências e aos assédios no trabalho, à luz da literatura especializada, normativas e legislações, destacando ações preventivas, interventivas e de cuidado continuado.
Descrição da experiência
Com uma abordagem qualitativa, analisou-se as ações de enfrentamento e prevenção de violências e assédio no Senado Federal a partir do modelo proposto por Chapell e Di Martino (2006): primário (medidas educativas e preventivas), secundário (resposta dada pelos fluxos de denúncia) e terciário (cuidados continuados oferecidos pelo serviço psicossocial). Os procedimentos metodológicos envolveram mapeamento e análise de conteúdo de instrumentos normativos, relatórios, planos, projetos e serviços.
Resultados
Desde a publicação de ato normativo em 2018, outras ações institucionais de enfrentamento ao assédio vêm sendo implementadas. Trata-se de campanhas de conscientização dos trabalhadores; capacitação de gestores, estagiários e grupos específicos; orientação e acompanhamento psicossocial dos envolvidos em situações de violência no trabalho; mediação de conflitos; responsabilização de agressores; relatórios anuais sobre casos notificados; revisão dos normativos internos; outras medidas gerenciais.
Aprendizado e análise crítica
As ações analisadas demonstram significativo avanço na implementação do modelo tripartido de enfrentamento proposto por Chapell e Di Martino (2006), principalmente no que tange a campanhas educativas, fluxos de denúncia e suporte psicossocial. No entanto, persistem lacunas que requerem atenção: a necessidade de maior efetividade nas respostas institucionais considerando a diversidade de vínculos funcionais, bem como melhor integração entre as áreas envolvidas na atuação multisetorial.
Conclusões e/ou Recomendações
A experiência reforça a importância da atuação intersetorial, normativa e educativa, de forma coordenada, no enfrentamento das violências no trabalho. A fim de superar desafios, ações como a criação de comitê de ética independente e representativo dos trabalhadores, a revisão dos contratos de terceirização e a adoção de iniciativas de proteção a servidores comissionados configuram-se como medidas de aperfeiçoamento da política institucional.
VIOLÊNCIA NO TRABALHO EM TEMPOS DE CRISE DA COVID-19: UM ESTUDO QUALITATIVO NA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Pôster Eletrônico
1 FMUSP
2 FMUSP - FSM
Apresentação/Introdução
Durante a pandemia de COVID-19, profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) enfrentaram aumento da violência no trabalho, incluindo agressões verbais e físicas, estigma e preconceito. Embora essa violência já existisse antes, a pandemia modificou seu formato e intensidade, além de escancarar novas nuances do fenômeno.
Objetivos
Compreender as percepções dos profissionais da APS sobre a violência no trabalho durante a pandemia de COVID-19; e analisar as diferenças entre o fenômeno no contexto pré-pandemia e durante a pandemia.
Metodologia
Este estudo qualitativo integra a pesquisa de métodos mistos "A saúde mental dos trabalhadores da saúde no contexto da pandemia da COVID-19" no município de São Paulo. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas em 2022 com trabalhadores da APS de Unidades Básicas de Saúde (UBSs), selecionados por critérios pré-definidos. As entrevistas exploraram percepções da violência no trabalho e foram analisadas por meio de análise de conteúdo. A checagem de membros validou os dados. O estudo possui aprovação no Comitê de Ética e Pesquisa.
Resultados
Foram entrevistados 30 trabalhadores da APS (26 mulheres, 4 homens) com idades de 24 a 67 anos. As categorias profissionais entrevistadas foram: enfermagem, agentes comunitários de saúde, auxiliares administrativos e médicos. Emergiram dois temas principais a partir das entrevistas: 1) características da violência contra trabalhadores da APS, com categorias como antes x durante a pandemia, tipos de violência (discriminação e estigma, violência verbal e física) e fatores desencadeantes (características do atendimento, fake news e vacinação); 2) medidas para lidar com a violência, incluindo transferências de trabalhadores para outros serviços como ação institucional.
Conclusões/Considerações
A violência contra profissionais da APS se intensificou durante a pandemia, ampliada por fake news, estigmas e mudanças nos processos de trabalho. O estudo destaca que medidas como apoio entre pares, suporte institucional e ações para resguardar a integridade física e mental são essenciais, mas ainda insuficientes frente à falta de políticas governamentais de enfrentamento à violência e a difusão de mensagens falsas.
PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS ÀS VIOLÊNCIAS FÍSICA, PSICOLÓGICA E SEXUAL NO NAMORO ADOLESCENTE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
Pôster Eletrônico
1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, Campus Ceres, Ceres, GO, Brasil.
2 Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO, Brasil.
3 Universidade Evangélica de Goiás, Ceres, GO, Brasil.
4 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, Campus Ceres, Ceres, GO, Brasil e Universidade de São Paulo, Escola Médica, São Paulo, SP, Brasil.
5 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, Campus Ceres, Ceres, GO, Brasil e Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Nutrição, Goiânia, GO, Brasil.
Apresentação/Introdução
A prevalência da violência no namoro entre adolescentes configura-se como grave violação de direitos humanos e relevante problema de saúde pública. Frequentemente bidirecional, pode levar a problemas físicos, psicológicos, acadêmicos e de saúde sexual. Fatores individuais, relacionais e contextuais, como saúde mental, uso de substâncias e normas de gênero, estão associados à sua ocorrência.
Objetivos
Este estudo teve como objetivo avaliar a prevalência e identificar os fatores associados às violências física, psicológica e sexual no namoro entre adolescentes
Metodologia
Revisão sistemática estruturada conforme PRISMA e registrada no PROSPERO. Aplicaram-se critérios de elegibilidade conforme a estratégia PECO: P= adolescentes (10–19 anos); E= prevalência e fatores associados; C= não aplicável; O= violência física, psicológica e sexual. As buscas foram adaptadas às seis bases de dados consultadas (Scopus, Web of Science, PubMed, Embase, APA PsycNet e CINAHL). Incluíram-se artigos publicados entre 2019-2025. Identificaram-se 8.587 artigos, dos quais 5.994 foram triados por dois revisores independentes; 116 foram selecionados para leitura completa e, ao final, 92 incluídos para extração de dados, com concordância entre revisores de K = 0,88.
Resultados
A violência física no namoro adolescente apresenta prevalência de 10% a 50%, associada à exposição à violência familiar, atitudes permissivas, bullying, problemas emocionais e uso de substâncias. A violência psicológica é a forma mais prevalente, variando entre 44% e 60%, e está relacionada a bullying, normas permissivas, déficits socioemocionais, problemas emocionais e uso de substâncias. A violência sexual apresenta prevalência significativa, até 30%, associada à ambiguidade no consentimento, pressão do parceiro, uso de substâncias, desigualdades de gênero e histórico de vitimização. O contexto social e familiar perpetua desigualdades de gênero e as violências no namoro adolescente.
Conclusões/Considerações
Foram identificadas lacunas, como a escassez de abordagens interseccionais e de estudos longitudinais, diferentes terminologias para designar a violência no namoro entre adolescentes, dificuldade na definição e mensuração de fatores sociais, além da heterogeneidade dos dados. Evidenciam-se a necessidade de intervenções preventivas, com foco na educação sexual e consentimento, equidade de gênero e políticas de apoio e proteção às vítimas.
NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA POR PARCEIRO ÍNTIMO NA GESTAÇÃO NO BRASIL, 2011-2023
Pôster Eletrônico
1 UFPI
Apresentação/Introdução
A violência por parceiro íntimo contra a mulher é um grave problema de saúde pública e de violação dos direitos humanos. Gestantes não estão isentas de violência, podendo os episódios iniciar ou aumentar durante o ciclo gravídico-puerperal.
Objetivos
Descrever o perfil das notificações de violência por parceiro íntimo na gestação no período de 2011 a 2023 no Brasil.
Metodologia
Trata-se de estudo transversal descritivo, realizado a partir de dados secundários de acesso público disponíveis no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, oriundos das notificações de violência interpessoal do Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Foram calculadas as frequências absolutas das notificações de violência contra gestante no Brasil, segundo tipos de violência (física; sexual; psicológica), regiões do país, tipo de parceiro íntimo (namorado; ex-namorado; cônjuge; ex-cônjuge) e faixa etária das vítimas.
Resultados
Foram notificados 147.290 casos de violência contra gestantes no período, com aumento de 3.659 em 2011, para 21.456 em 2023. Desse total, 50,3% foram perpetradas por parceiro íntimo (cônjuge/ex-cônjuge: 63,3%; namorado/ex-namorado: 27,7%). Quanto à tipologia, a mais prevalente foi a física (47,5%), seguida da sexual (29,0%) e psicológica (23,5%). Quanto às regiões, as Sudeste e Nordeste lideraram, com cerca de 38,7% e 20,2%, respectivamente, seguidas de 17,3% dos casos na região Norte, 15% na Sul e 8% na Centro-Oeste. Ademais, 99% das notificações corresponderam à vítimas na faixa etária fértil (10 a 49 anos), com ênfase nas faixas de 20-34 anos (46,8%), 15-19 (21,5%) e 10-14 anos (20, 6%).
Conclusões/Considerações
Conclui-se que as notificações de violência contra gestantes no Brasil aumentaram no período avaliado, destacando a violência física praticada principalmente pelos cônjuges e contra gestantes jovens, nas faixa de 10 a 34 anos. Reforça-se a necessidade de educação continuada aos profissionais para qualificar o acolhimento e o preenchimento adequado das notificações e ampliar o arcabouço sobre a temática nos sistemas de dados.
VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA MULHERES EM IDADE NÃO REPRODUTIVA NO BRASIL: UMA ANÁLISE DA ÚLTIMA DÉCADA
Pôster Eletrônico
1 UFPI
Apresentação/Introdução
A violência é um problema de saúde pública e que está presente em todas as classes sociais. A Lei Nº Lei nº 11.340, traz que a violência física é qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher. Dados mostram que as mulheres que estão no fim da idade reprodutiva (45 a 55 anos) período do climatério, ainda são invisibilizadas e sofrem com as consequências da violência.
Objetivos
Analisar a prevalência da violência física contra a mulher em idade não fértil no Brasil, utilizando dados secundários dos DATASUS.
Metodologia
Estudo transversal com dados secundários do DATASUS da última década (2014-2024) incluindo mulheres com idade de 50-59, 60 e mais residentes das cinco regiões brasileiras (Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste) que ao procurar os serviços de saúde e segurança, preencheram a ficha de notificação de violência e violência autoprovocada.
Resultados
Entre as regiões pesquisadas, a que apresentou maior número de casos de violência física no período estudado foi a Sudeste, com um total de 192.336 casos, seguido pelo Nordeste (52,765 casos), Sul (54.864 casos), Centro-Oeste (19.617 casos) e Norte (13.630 casos). Já o ano que apresentou maior número de notificações foi o ano de 2023 com 45.940 casos. Foi possível ainda notar que o pico absoluto ocorreu na Região Sudeste em 2023 e que houve uma queda no ano de 2020, possivelmente devido ao impacto da pandemia de COVID-19.
Conclusões/Considerações
Os achados evidenciam que a questão de violência contra a mulher segue sendo um grande problema de saúde pública. As mulheres em idade não reprodutiva no Brasil ainda enfrentam tipos adicionais de descriminação (etarismo) evidenciando a fragilidade e despreparo dos serviços para lidar com estas mulheres. Desta forma, é urgente a criação e inovação das políticas públicas já vigentes para se criar um ambiente seguro para estas mulheres denunciarem
VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA MENINOS E HOMENS NO BRASIL: REVISÃO DE ESCOPOS SOBRE SUBNOTIFICAÇÃO, PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS (2015–2020)
Pôster Eletrônico
1 UNIVAG
2 Instituto de Saúde da Secretaria de Saúde de São Paulo.
3 FCMSCSP
Apresentação/Introdução
A violência sexual contra meninos e homens é historicamente negligenciada, o que contribui para subnotificação e ausência de políticas públicas específicas. Apesar disso, dados oficiais indicam aumento de notificações e prevalências elevadas em grupos específicos, revelando a urgência de visibilizar e enfrentar esse problema de forma intersetorial.
Objetivos
Mapear a produção científica sobre violência sexual contra meninos e homens brasileiros, identificando dados sobre subnotificação, prevalência e fatores associados, em estudos publicados entre 2015 e 2020.
Metodologia
Trata-se de uma revisão de escopo conforme metodologia do Joanna Briggs Institute. As buscas foram realizadas em cinco bases de dados (PubMed, BDTD, BVS, Scopus e Web of Science), em julho de 2020. Foram incluídos estudos que apresentassem dados sobre violência sexual contra meninos e homens brasileiros, com enfoque em prevalência, subnotificação e fatores associados. Dos 1.481 trabalhos identificados, 53 atenderam aos critérios de elegibilidade. Os dados foram analisados quanto ao tipo de violência, perfil das vítimas e desfechos em saúde, com atenção às lacunas de conhecimento e limitações dos registros.
Resultados
Foram incluídos 53 estudos, majoritariamente quantitativos, com 1.416.480 participantes. As prevalências variaram de 0,1% a 71%, sendo maiores entre HSH, usuários de drogas e homens com disfunções sexuais. A subnotificação foi atribuída a barreiras culturais, medo, culpa e ausência de preparo institucional. A maioria dos casos ocorreu no domicílio, envolvendo agressores conhecidos. Entre os fatores associados, destacaram-se TEPT, ideação suicida, uso de drogas, psicose, disfunções sexuais e histórico de outras violências. Poucos estudos abordaram agressões de repetição ou com autoras mulheres.
Conclusões/Considerações
A violência sexual contra meninos e homens é prevalente, mas invisibilizada nas estatísticas e na produção científica. O estudo evidencia a necessidade de ampliar o reconhecimento institucional e social das vítimas, qualificar a notificação, formar profissionais e criar estratégias de acolhimento específicas, rompendo com estigmas de gênero e promovendo respostas integrais em saúde e direitos humanos.
PANORAMA DAS NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL E AUTOPROVOCADA EM NITERÓI/RJ (2018–2024)
Pôster Eletrônico
1 Fundação Municipal de Saúde de Niterói (FMS)
2 Universidade Federal Fluminense (UFF)
Apresentação/Introdução
No Brasil, os casos de violência mostram-se como um importante problema de saúde pública, sendo uma das primeiras causas de mortalidade no país. A nível municipal, delinear as principais características que concernem às dinâmicas de violência no território é de suma relevância para subsidiar políticas públicas e estratégias de intervenção.
Objetivos
Analisar o perfil das notificações de violência interpessoal e autoprovocada no município de Niterói/RJ, entre 2018 e 2024, visando contribuir para o entendimento do fenômeno em sua dimensão local.
Metodologia
Análise descritiva dos casos de violência interpessoal e autoprovocada notificados entre 2018 e 2024 em residentes de Niterói/RJ extraídas do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). O período analisado possibilita a análise preliminar do cenário pré, durante e pós pandemia de COVID-19, sendo importante para observar transformações e tendências em saúde pública. Os dados analisados foram estratificados segundo sexo, ciclo de vida e raça/cor das vítimas, além de variáveis pertinentes às características das ocorrências relacionadas ao local de ocorrência e tipo de violência.
Resultados
De 2018 a 2024 foram notificados 9.262 casos de violência em residentes de Niterói, com aumento de registros a partir de 2021. Dos casos notificados, 75,2% envolveram vítimas mulheres, com aumento de 67,7% em 2018 para 78,9% em 2024. A maior parte dos casos envolveu adultos (45%). Nota-se predominância da população negra com 52,1% e proporção de ignorados na dimensão reduzindo de 21,8% em 2018 para 1,7% em 2024. O local mais prevalente foi a residência da vítima (61,8%), com destaque ao ano de 2021 (70,1%). A violência física foi a mais prevalente (48,3%), com breve tendência de aumento (48,3% em 2018 para 54,6% em 2024), seguida pela psicológica/moral (22,9%) e negligência/abandono (14,7%).
Conclusões/Considerações
A análise das notificações de violência evidenciou crescimento de registros no município a partir do período pandêmico, marcado pela intensificação de vulnerabilidades no isolamento com mulheres vítimas de violência doméstica. Destaca-se importante avanço no preenchimento da dimensão raça/cor impulsionada por políticas de qualificação e acolhimento que potencializam a avaliação de desigualdades e qualificação estratégias de intervenção.
MORTALIDADE POR AGRESSÕES CONTRA MULHERES - PIAUÍ, 2012 A 2023: ESTUDO DE SÉRIES TEMPORAIS
Pôster Eletrônico
1 UFPI
Apresentação/Introdução
A violência contra a mulher (VM) pode ser definida como qualquer ato de violência de gênero que cause dano físico, sexual ou mental, afeta 35% das mulheres mundialmente, com 137 mortes diárias por membros da família. No Brasil, o cenário é preocupante, com 13 feminicídios diários em 2019 e aumento de 6,1% em 2022.
Objetivos
Analisar aspectos epidemiológicos e a tendência temporal dos homicídios femininos no Piauí, de 2012 a 2023.
Metodologia
Realizou-se um estudo epidemiológico de séries temporais, com dados de óbitos por agressões físicas (CID-10: X85-Y09) contra mulheres. Analisaram-se variáveis sociodemográficas. Utilizou-se a regressão linear de Prais-Winsten para identificar tendências temporais.
Resultados
No período de 2012 a 2023, o Piauí registrou 679 óbitos por agressão contra mulheres, sendo a maioria das vítimas com 20 a 29 anos de idade (27,8%), solteiras (44,2%), negras (82,2%) e com baixa escolaridade (58,2%). A maioria das mortes ocorreu no ambiente domiciliar (34,2%), por arma de fogo (46,7%) ou objetos cortantes/penetrantes (32,1%). O coeficiente de mortalidade (CM) médio foi de 3,35 por 100.000 mulheres, mantendo-se estacionário durante o período de estudo.
Conclusões/Considerações
A persistência da mortalidade por VM no Piauí, com a vulnerabilidade de mulheres negras e de baixa escolaridade, destaca as iniquidades sociais. São essenciais políticas públicas eficazes para combater a VM no Piauí.
ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIOLÊNCIA NO TRABALHO: ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS PARA SENSIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS
Pôster Eletrônico
1 UNIFOR
2 SMS FORTALEZA
Período de Realização
As ações foram realizadas nos dias 2 e 11 do mês de Abril de 2025.
Objeto da experiência
A violência sofrida por mulheres no contexto do trabalho em saúde.
Objetivos
Promover momentos educativos de discussão sobre a violência no trabalho em saúde, a fim de aumentar o número de notificações.
Descrição da experiência
As ações foram realizadas em duas Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) na cidade de Fortaleza-CE, tendo como público alvo doze mulheres trabalhadoras do Sistema Único de Saúde (SUS). A metodologia adotada foi a roda de conversa, que favoreceu a escuta e o compartilhamento de experiências entre as participantes. A atividade foi dividida em dois momentos: debate sobre a violência no trabalho e informe sobre a ficha de notificação compulsória do Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN).
Resultados
Durante a atividade foram relatadas diversas situações de violência vivenciadas pelas trabalhadoras, tais como institucionais, sexuais, físicas e psicológicas. As experiências demonstraram gerar impactos no exercício da profissão e na vida pessoal das participantes. Ademais, foi possível notar o sentimento de desamparo vindo das trabalhadoras, as quais relataram a falta de apoio por parte da coordenação da unidade de saúde, diante dos agravos experiênciados, sobretudo no território.
Aprendizado e análise crítica
A experiência evidenciou que trabalhadoras do SUS vivenciam diversas formas de violência no trabalho. A subnotificação apareceu como um problema central, associada ao desconhecimento da ficha de notificação compulsória e à insegurança diante do ato de notificar. Como consequência, não há dados suficientes para a criação de políticas públicas eficazes acerca da problemática, culminando na retroalimentação deste cenário.
Conclusões e/ou Recomendações
Conclui-se que é necessário ampliar as ações educativas sobre a violência no trabalho em saúde, bem como fortalecer o apoio institucional às trabalhadoras. Recomenda-se a maior divulgação da ficha de notificação compulsória e a criação de estratégias que garantam segurança no ato de notificar, contribuindo para a valorização e proteção dos profissionais do SUS.
FATORES ASSOCIADOS A VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA.
Pôster Eletrônico
1 IAM-FIOCRUZ PE
2 PPGERO-UFPE
Apresentação/Introdução
A violência contra a pessoa idosa desenha-se como um problema de saúde pública de complexa administração. É de fundamental importância conhecer seus fatores associados, com ênfase em cada tipo de violência, para possibilitar a criação de políticas públicas baseadas em evidências.
Objetivos
Realizar uma revisão sistemática da literatura de estudos epidemiológicos analíticos sobre os fatores associados à violência contra idosos.
Metodologia
Realizou-se uma revisão de acordo com as diretrizes dos Principais Itens para Relatar Revisões Sistemáticas e Meta-análises (PRISMA) e da Meta-análise de estudos observacionais em epidemiologia (MOOSE). A mesma foi orientada pela seguinte pergunta: “Quais os fatores associados à violência em idosos, presente na literatura em estudos epidemiológicos analíticos?”.Para a pesquisa bibliográfica utilizou-se quatro bases de dados: PubMed, Scopus, Web of Science e Lilacs, sem corte de anos. A seleção dos artigos foi realizada por pares e em duas etapas: leitura dos resumos (3121) e leitura dos artigos completos (64), tendo sido selecionados 27 artigos. O risco de viés foi avaliado.
Resultados
Os fatores associados à violência geral foram idade, sexo, estado civil, nível de educação, renda, arranjo familiar, suporte social, solidão, transtorno mental, depressão, tentativa de suicídio, dependência para atividades da vida diária, função cognitiva, doenças crônicas, abuso de álcool ou drogas, entre outros.
Conclusões/Considerações
A violência contra idosos apresentou-se como um fenômeno multifatorial e complexo, por isso não pode ser vista de forma parcial, unidimensional e sim levando em consideração todas as dimensões e entender que há uma interdependência entre elas.
VIOLÊNCIA GERAL NO NAMORO ENTRE OS ADOLESCENTES DO ENSINO MÉDIO: ESTUDO DE BASE ESCOLAR
Pôster Eletrônico
1 UFES
Apresentação/Introdução
A violência nos namoros adolescentes envolve atos específicos entre parceiros íntimos, desde formas físicas, emocionais e sexuais culminando em consequências graves à saúde. A violência no namoro (VN) refere-se a agressões físicas, emocionais ou sexuais entre parceiros íntimos, podendo incluir controle e restrição de autonomia do parceiro.
Objetivos
Identificar a prevalência de violência geral no namoro e sua distribuição conforme as características socioeconômicas, comportamentais e experiências de violências entre adolescentes do ensino médio da Região Metropolitana de Vitória no Espírito Santo/ES.
Metodologia
Estudo transversal e analítico com amostragem por conglomerados e estratificação, realizado em escolas públicas e privadas da Região Metropolitana da Grande Vitória (ES). A população-alvo foi composta por 1.238 adolescentes de 14 a 19 anos. A violência no namoro foi investigada com base em perguntas sobre violência física, sexual e psicológica. Variáveis independentes incluíram fatores socioeconômicos, comportamentais e experiências de violência. As análises foram feitas no Stata 17.0, com frequências, Qui-quadrado de Pearson, IC de 95% e P-valor.
Resultados
A prevalência de violência no namoro foi de 21,57% (IC95%: 19,36–23,95), sendo maior entre meninas (24,62%) e não cisgêneros (29,59%). Adolescentes não heterossexuais apresentaram 31,53% (IC95%: 26,47–37,06). Jovens com vida sexual ativa tiveram 25,39%. A prevalência foi maior entre quem fuma (40,63%), usa drogas (37,33%) ou álcool (28,35%). Sofrer ou praticar bullying e cyberbullying também se associou à violência no namoro (P<0,05).
Conclusões/Considerações
A violência no namoro foi maior entre meninas, adolescentes não cisgêneros, não heterossexuais, sexualmente ativos, usuários de drogas e fumantes (P<0,05), além dos que sofreram ou praticaram bullying. Os achados revelam a naturalização da violência entre jovens vulneráveis, reforçando a urgência de políticas públicas e ações educativas baseadas em gênero e direitos.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHERES NO BRASIL: IMPACTOS, DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA A SAÚDE PÚBLICA ENTRE 2019 E 2023
Pôster Eletrônico
1 FSL
Apresentação/Introdução
A violência doméstica contra mulheres é um problema grave de saúde pública, intensificado pela pandemia. Desigualdades sociais, raciais e de gênero agravam a vulnerabilidade das vítimas. A subnotificação e a dificuldade de acesso aos serviços tornam o enfrentamento ainda mais complexo e exigem respostas intersetoriais.
Objetivos
Analisar a violência doméstica contra mulheres no Brasil entre 2019 e 2023, com ênfase nos impactos da pandemia, perfil das vítimas, consequências na saúde e falhas institucionais.
Metodologia
Trata-se de um estudo descritivo e analítico com base em dados secundários sobre violência doméstica entre 2019 e 2023. A análise abrange o território nacional, com atenção à região do Planalto Norte Catarinense, onde se observou queda nas notificações durante a pandemia. Foram considerados aspectos quantitativos, como perfil das vítimas, formas de violência, impactos físicos e psíquicos, e barreiras institucionais. A revisão também abordou a estrutura das políticas públicas, seus entraves e possíveis estratégias de enfrentamento.
Resultados
Entre 2019 e 2023, houve crescimento de casos notificados, com predomínio da violência física, seguida pela psicológica. Apesar disso, a subnotificação continua elevada, especialmente em contextos de maior vulnerabilidade. Mulheres negras, periféricas e em situação de pobreza são as mais atingidas. A pandemia intensificou os abusos e dificultou o acesso a serviços, gerando retração de denúncias em algumas regiões. As consequências da violência afetam a saúde física, mental e social das vítimas, exigindo ações integradas de saúde com demais setores.
Conclusões/Considerações
A violência doméstica contra mulheres segue como uma crise estrutural. É necessário fortalecer ações de prevenção, ampliar e integrar os serviços de proteção, garantir acolhimento humanizado e combater a impunidade. O enfrentamento exige compromisso político, investimento em políticas públicas de saúde mais inclusivas e ações baseadas na promoção da equidade de gênero e justiça social.
“PEQUENOS MILAGRES” NA PRODUÇÃO DE CUIDADO EM SITUAÇÕES DE EXPOSIÇÃO À VIOLÊNCIA: INTERSETORIALIDADE VIVA COM A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pôster Eletrônico
1 Unicamp
Apresentação/Introdução
“Comunidades alimentam a vida”, nos aponta hooks (2021), contudo o neoliberalismo avança sobre o comum, privatizando as coisas públicas. Tal cenário tem sido amplamente debatido, mas cabe ressaltar os efeitos disso acerca da violência, uma vez que esta faz um ataque aos vínculos, portanto, discutir redes intersetoriais vivas é urgente em relação à temática.
Objetivos
O objetivo deste trabalho é apresentar a perspectiva de trabalhadores da assistência social em um município do estado de São Paulo em relação ao contexto experienciado de articulação de rede no enfrentamento à situações de exposição à violência.
Metodologia
Inserida em uma Pesquisa de Implementação de um serviço proposto a partir de um desenho participativo e que oferece apoio matricial intersetorial, esta pesquisa faz parte da avaliação de contexto de trabalho da assistência social. Para tal, foram realizadas 25 entrevistas em profundidade com trabalhadores da Proteção Social Básica e Especial que atuam nesta política há mais de seis meses. A escolha dos profissionais entrevistados seguiu a diretriz da máxima diversidade e da repetição da frequência em campo. As entrevistas foram gravadas, transcritas e analisadas por meio do emprego da técnica de análise de conteúdo temático-categorial.
Resultados
Trabalhadores da Assistência Social apontam que enfrentar a violência exige articulação intersetorial e envolvimento da comunidade. Contudo, as barreiras como a burocratização institucional e as privatizações afloram sentimentos de impotência e isolamento. Em contraste, a rede segue em costura nas relações e encontros entre os profissionais, permitindo que “pequenos milagres” ocorram diante das diversas formas de violência a que os usuários estão expostos e também ressignificando e fortalecendo o sentido do trabalho cotidiano.
Conclusões/Considerações
Destaca-se o poder transformador das micro redes e das políticas das pequenas coisas. Mesmo diante do capitalismo neoliberal e sua movimentação na direção da substituição de comunidades por unidades cada vez menores, os encontros em rede sustentam o cuidado e a remalhagem dos vínculos diante da violência. O apoio matricial intersetorial mostra-se potente ao promover trocas entre profissionais e fortalecer respostas coletivas.
PAPO DE HOMEM - MASCULINIDADES EM JOGO: ABORDAGEM DAS MASCULINIDADES ATRAVÉS DE GAMIFICAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA CULTURA DE PAZ NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE ANANINDEUA-PA
Pôster Eletrônico
1 UNIFESSPA
2 UNIESAMAZ
3 UNIASSELVI
Período de Realização
Projeto idealizado em 4 de maio de 2025, com execução de experiência-piloto em 5 de junho de 2025.
Objeto da experiência
Atividade grupal com gamificação sobre masculinidades e cultura de paz, realizada em USF de Ananindeua-PA com participação ativa dos usuários.
Objetivos
Promover reflexões críticas sobre masculinidades, estimular o autocuidado e prevenir a violência de gênero, por meio de espaços participativos, diálogo aberto e construção coletiva entre usuários do território, valorizando o protagonismo comunitário e a inovação nas estratégias de promoção da saúde.
Metodologia
A experiência-piloto do projeto “Papo de Homem: masculinidades em jogo” foi realizada por meio de dinâmica interativa com gamificação (roleta de categorias) em uma USF de Ananindeua-PA. Cada categoria acionava cartas disparadoras de discussões, com participação ativa de homens e, estrategicamente, de mulheres, enriquecendo a escuta e a análise das questões de gênero. A escuta ativa foi o eixo central da experiência, possibilitando a identificação de demandas e dos desafios do território.
Resultados
A dinâmica estimulou o engajamento, permitindo a manifestação de múltiplas visões sobre masculinidade. Questões sobre violência, saúde mental e justiça social emergiram como temas centrais, assim como a importância dos espaços de fala. Houve consenso sobre a necessidade de desconstruir preconceitos desde a infância para promover mudanças estruturais e culturais. A gamificação, aliada à escuta ativa, demonstrou-se eficaz para mobilizar, diagnosticar e estimular o protagonismo comunitário.
Análise Crítica
A metodologia lúdica, com gamificação e escuta ativa, possibilitou a expressão de diferentes visões sobre masculinidade, além de debates sobre violência, saúde mental, isolamento e preconceito. Ficou evidente a limitação da USF como local da atividade, em detrimento dos relatos de baixa procura espontânea deste local. Finalmente, observou-se que espaços de fala promovem confiança e abertura, assim como o debate contribui na desconstrução de preconceitos, fortalece vínculos e engaja a comunidade.
Conclusões e/ou Recomendações
A experiência-piloto demonstrou que a gamificação, integrada à escuta ativa, é eficaz para promover reflexão, engajamento e cultura de paz na APS. Recomenda-se ampliar a estratégia para espaços comunitários de maior circulação masculina, bem como investir na formação das equipes para abordar temas sensíveis e fortalecer o protagonismo do território na promoção da saúde do homem.
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E OBSTÉTRICO DE MULHERES ACOMETIDAS PELO FENÔMENO DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA EM UMA MATERNIDADE PÚBLICA DE SALVADOR (BA)
Pôster Eletrônico
1 Universidade Federal da Bahia
Apresentação/Introdução
O processo parturitivo — anteriormente compreendido como natural e fisiológico — tornou-se suscetível a diversas formas de violações com a consolidação de um modelo medicalizado de assistência. Nessa conjuntura, o fenômeno da violência obstétrica destaca-se como um grave problema de saúde pública, uma vez que infringe diretamente os direitos sexuais e reprodutivos das suas vítimas.
Objetivos
Caracterizar o perfil sociodemográfico e obstétrico de mulheres acometidas pelo fenômeno da violência obstétrica em uma maternidade pública de Salvador (Ba).
Metodologia
Estudo descritivo-exploratório, qualitativo, desenvolvido com mulheres que experienciaram violência obstétrica no trabalho de parto e/ou parto ao serem assistidas em uma maternidade pública localizada na capital baiana. A coleta de dados ocorreu através de entrevistas semiestruturadas e de consultas aos prontuários das participantes. Os resultados alcançados foram interpretados à luz da Análise de Conteúdo de Bardin.
Resultados
A amostra deste estudo foi constituída por 20 puérperas, tendo todas se autodeclarado negras (n= 20), a maioria possuía de 20 a 29 anos (n= 14), era residente de Salvador (n= 11), sem religião (n= 15), casada ou em união estável (n= 16), com ensino médio completo (n= 8), não exercendo trabalho remunerado (n= 11) e com renda familiar mensal de até um salário mínimo (n= 12). Relativo ao perfil obstétrico, metade dessas mulheres era primigesta e realizou seis ou mais consultas de pré-natal (n= 10), tendo o parto ocorrido por via vaginal (n= 15) em maternidade que não a sua de referência (n= 13).
Conclusões/Considerações
Observa-se, a partir da realização deste estudo, que a violência obstétrica é um fenômeno atravessado por distintos marcadores sociais, destacando-se a raça/cor e a classe econômica. Diante dessa problemática, é essencial fortalecer estratégias e ações visando o enfrentamento de tal prática de modo a contribuir para uma assistência obstétrica mais integral, respeitosa, centrada nos direitos da pessoa assistida e na garantia da sua autonomia.
PERFIL DAS NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA CONTRA GESTANTES EM CURITIBA-PR (2019-2023): UM ESTUDO QUANTITATIVO DESCRITIVO
Pôster Eletrônico
1 PUC PR
Apresentação/Introdução
A violência durante a gestação é uma grave violação dos direitos humanos, com repercussões na saúde física, mental e social da gestante e do bebê. Conhecer o perfil das vítimas e as características das agressões é fundamental para subsidiar ações de prevenção, proteção e cuidado, além de orientar políticas públicas mais efetivas.
Objetivos
Descrever o perfil sociodemográfico das gestantes vítimas de violência e as características das notificações realizadas em Curitiba, entre 2019 e 2023.
Metodologia
Estudo quantitativo descritivo, com 1.192 notificações de violência contra gestantes no município de Curitiba, entre 2019 e 2023. Foram analisadas variáveis como idade, raça/cor, escolaridade, idade gestacional, tipo de violência, meio de agressão, uso de álcool pelo agressor, sexo e vínculo com a vítima, além do local de notificação. A análise foi realizada por frequências absolutas e relativas, utilizando o software R (versão 4.4).
Resultados
Das 1.192 notificações, 75,6% das vítimas eram brancas, 33% tinham ensino fundamental incompleto e 44,5% eram adolescentes. A maioria estava no 1º trimestre (42,5%). As violências mais frequentes foram negligência/abandono (40,7%) e física (29,2%), sendo espancamento o meio mais comum (33,1%). Agressores homens foram 42,7%, e 21,3% usaram álcool. As mães (29,4%), pais (19,2%) e companheiros/cônjuges (14,2%) foram os principais autores. UBS notificaram 53,8% dos casos e hospitais 44,4%.
Conclusões/Considerações
Os dados revelam a predominância de adolescentes e mulheres brancas, com baixa escolaridade, vítimas de violência física e negligência, frequentemente praticadas por familiares ou parceiros. As UBS se destacam como principal ponto de notificação, evidenciando seu papel estratégico. Reforça-se a necessidade de ações intersetoriais, fortalecimento da rede de proteção e capacitação dos profissionais de saúde.
VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA IDOSOS NO BRASIL: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO
Pôster Eletrônico
1 PMG
2 UNILAB
3 UFC
4 UMAX
5 UECE
6 ESP - CE
Apresentação/Introdução
A violência sexual contra idosos é um grave problema de saúde pública, marcado por subnotificação e invisibilidade institucional. Fatores como estigma social, normalização da violência, dependência funcional e ausência de redes de apoio dificultam a denúncia e o acesso a serviços especializados o que dificulta o reconhecimento e enfrentamento desse fenômeno negligenciado.
Objetivos
Analisar o perfil epidemiológico da violência sexual contra pessoas idosas no Brasil entre 2020 a 2024 e os impactos psicossociais identificados na literatura.
Metodologia
Estudo descritivo e retrospectivo, baseado em dados do Painel de Monitoramento da Violência Interpessoal e Autoprovocada (CNIE/MS). Foram incluídas notificações de violência sexual entre pessoas com 60 anos ou mais, registradas entre 2020 a 2024. As variáveis consideradas foram sexo, faixa etária, raça/cor, escolaridade, tipo de deficiência, local de ocorrência, vínculo com o agressor, repetição da violência e encaminhamento institucional. Os dados foram extraídos manualmente do painel e analisados por frequência absoluta e percentual.
Resultados
Foram registradas 1.154 notificações de violência sexual e as vítimas tinham 60 a 69 anos (52,6%), sexo feminino (86,6%) e se autodeclarava branca ou parda. A residência foi o principal local da ocorrência (64%) e em 44,7% dos casos o autor era um conhecido ou familiar. Em 26,5% dos registros, a violência foi recorrente. Apenas 48,7% das vítimas receberam encaminhamento para acompanhamento psicossocial ou jurídico. Na América Latina e Europa há prevalências similares e o medo, vergonha e a ausência de canais acessíveis de denúncia contribuindo para a subnotificação. A detecção limitada dos sinais de abuso e a falta de protocolos intersetoriais agravam a invisibilidade do fenômeno.
Conclusões/Considerações
A violência sexual contra idosos envolve múltiplas vulnerabilidades, frequentemente invisibilizadas pelas instituições. O enfrentamento desse fenômeno demanda políticas públicas que articulem saúde mental, promovam redes de apoio seguras e garantam atendimento sensível e intersetorial, atenção geriátrica e proteção social de forma integrada e contínua.
LEVANTAMENTO DE OFERTAS PSICOSSOCIAIS EM ATENÇÃO À DEMANDA DE MÃES E FAMILIARES DE VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DO ESTADO
Pôster Eletrônico
1 UNEB
2 UFBA
Apresentação/Introdução
A demanda crescente de mães e familiares negras e negros por ofertas de atenção psicossocial, em sua maioria, vítimas de violência policial, principalmente nas periferias dos centros urbanos, tem provocado o surgimento de novos arranjos, sobretudo a partir da sociedade civil, mais sintonizados com a realidade vivida por elas.
Objetivos
A pesquisa teve como objetivo realizar o levantamento de serviços de saúde, socioassistenciais, dispositivos e iniciativas voltas à oferta de acolhimento e atendimento psicossocial a mães e familiares de vítimas de violência do Estado no território nacional.
Metodologia
Por meio de uma revisão integrativa a pesquisa as buscas foram realizadas num período entre o segundo semestre de 2024 e abril de 2025, portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde - BVS, nas bases LILACS, MEDLINE, BDENF- Enfermagem, Index Psicologia- Periódicos.
Resultados
Iniciativas recentes nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Ceará e Minas Gerais como Núcleo de Atenção Psicossocial a Afetados pela Violência de Estado – NAPAVE, a Rede de Atenção a Pessoas Afetadas pela Violência de Estado – RAAVE; o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência – NAVV; o projeto Escuta de mães e familiares de Vítimas da Violência de Estado no Brasil; a Rede Acolhe têm buscado responder à mobilização social para atendimento psicossocial à essa demanda em suas especificidades. Em geral, constituídas através de parcerias entre movimentos de mães e familiares, universidades e instituições como o Ministério Público, Defensoria Pública e Secretarias de Justiça.
Conclusões/Considerações
Há o reconhecimento da questão racial como um elemento de determinação para a violência a qual as vítimas são/estão submetidas, pelas iniciativas citadas, mas também sobre a sequência de agravos e sofrimentos que se abatem sobre mães e familiares das vítimas. Desses dispositivos, apenas um está vinculado à ação governamental, mas nenhum se configura como uma política ou programa estruturado.
O PAPEL DA GESTÃO LOCAL PARA A IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES E CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL (CAAC)
Pôster Eletrônico
1 Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro
Período de Realização
A experiência relatada se iniciou em janeiro de 2025 e ainda se encontra em andamento atualmente.
Objeto da experiência
Visou-se construir estratégias, a partir da governabilidade local, para a implantação de um centro intersetorial de enfrentamento à violência.
Objetivos
Este relato objetiva apresentar a participação da gestão local na implantação do CAAC, discorrendo sobre suas intervenções para estabelecer fluxos, articulações intersetoriais e pontos sensíveis para o acolhimento do público alvo, aspectos centrais em serviços do tipo de acordo com a literatura.
Metodologia
A garantia de proteção social proposta pelo CAAC depende do diálogo entre as políticas públicas e níveis de atenção, inclusive no nível local, e da preocupação com fluxos e ambiência. Assim, a gestão local se empenhou em: apresentar o serviço aos agentes interessados no território; articular com outras políticas; dialogar com a gestão central sobre questões refletidas, trabalhar no ambiente e na estética para o acolhimento, definir o ponto focal e identificar atributos para a teoria da mudança.
Resultados
A identificação desses aspectos e o movimento para solucioná-los ou atendê-los resultou em diversas decisões, algumas finalizadas na presente data e algumas previstas. Lista-se: a definição de um padrão de identidade visual para acolhimento, a identificação de uma linha condutora da teoria da mudança, a aproximação com a política de assistência, a divulgação em conselhos distritais e a contribuição em fluxos que pudessem garantir a conexão entre níveis de atenção e a não-revitimização.
Análise Crítica
O reconhecimento do papel da gestão local na implantação do CAAC possibilitou o seu engajamento na agenda de reuniões e no advocacy de pontos cruciais para o acolhimento e para a devida continuidade do enfrentamento à violência. É importante identificar o perfil do serviço, seus possíveis fluxos e particularidades para garantir a saúde e a proteção social sem revitimização. Há limites que envolvem a governabilidade que devem ser levados em conta junto com o espaço para tomada de decisões.
Conclusões e/ou Recomendações
A experiência demonstra que serviços que lidam com a violência sexual precisam atender alguns aspectos e que a gestão local guarda uma governabilidade importante para um nível mais operativo e cotidiano da implantação, feita em diálogo com o território. Além disso, também demonstra a importância de identificar paralelos na literatura internacional e nacional.
CONFLITOS ENTRE MÃES E FILHOS E SONOLÊNCIA: ESTUDO COM MÃES RESIDENTES DE VITÓRIA, ESPÍRITO SANTO
Pôster Eletrônico
1 UFES
Apresentação/Introdução
A sonolência pode ser caracterizada como: incapacidade de permanecer acordado/alerta durante os episódios de vigília do dia. Quando associada a presença de estresse pode contribuir para o surgimento de comportamentos fisicamente agressivos. Em contextos de conflitos, mães podem utilizar de punições corporais, o que pode gerar consequências negativas à saúde e desenvolvimento das crianças.
Objetivos
Descrever as prevalências de conflitos entre mães e filhos, e sonolência entre mães residentes no município de Vitória, Espírito Santo.
Metodologia
Trata-se de um estudo descritivo, realizado em Vitória, Espírito Santo - Brasil, entre janeiro e maio de 2022. A amostra foi composta por 418 mulheres com ≥18 anos com filhos de ≤19 anos. Dados provêm da pesquisa “Violência contra a mulher em Vitória, Espírito Santo: um estudo de base populacional". Variáveis utilizadas: conflito com os filhos e sonolência, construída através dos questionários “Escalas de Táticas de Conflito entre Pais e Filhos”; e “Escala de Sonolência de Epworth”,respectivamente. Ademais, dados sociodemográficos, econômicos e comportamentais foram analisados através dos testes Qui-quadrado de Pearson, respeitando o intervalo de confiança de 95%.
Resultados
Das 418 mulheres, 24%(n=106) pontuaram positivamente para Escala de Sonolência de EPWORTH.Violência física foi relatada por 82%(n=344) e psicológica por 96%(n=402) das participantes. Uma pergunta sobre resolução de conflitos denominado Disciplina não violenta (“Você explicou por que o que ele/a fazia estava errado?”) obteve 87,9% de respostas positivas, enquanto outra correspondente a punição corporal (“Você deu uma palmada no bumbum dele/a?”) apresentou prevalência de 69,7%.Quanto às características sociodemográficas daquelas com sonolência, 27,7% tinham entre 18 e 29 anos de idade, eram não brancas (20,3%), tinham 8 anos ou menos de escolaridade (20,9%).
Conclusões/Considerações
A pesquisa evidencia alta prevalência de conflitos entre mães e filhos e o perfil de sonolência no grupo. É possível obsedar a alta prevalência de punição corporal como um método disciplinar entre mães em Vitória/ES. O que explicita a necessidade de intervenções que promovam um ambiente familiar saudável e livre de violências.
EVOLUÇÃO DAS TAXAS DE SUICÍDIO NA POPULAÇÃO IDOSA BRASILEIRA
Pôster Eletrônico
1 Ministério da Saúde
Apresentação/Introdução
O suicídio é um grave problema de saúde pública e a idade é fator importante na sua ocorrência. Com o envelhecimento, o indivíduo fica vulnerável ao surgimento de crises existenciais que podem contribuir para as mudanças de humor. O aumento consistente no número de suicídios e tentativas levaram a Organização das Nações Unidas do Brasil reconhecer o tema como uma prioridade na agenda global.
Objetivos
Verificar as taxas de suicídio na população idosa brasileira entre os anos de 2013 e 2023.
Metodologia
Trata-se de um estudo epidemiológico com delineamento ecológico de séries temporais. Foi realizada análise temporal de dados sobre a suicídio em idosos no Brasil. Os dados foram extraídos do Sistema de Informação sobre Mortalidade. Foram analisados os óbitos com códigos X60-84 e Y87.0, da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – Décima edição
Resultados
Há um aumento na taxa de suicídio entre os idosos da população brasileira. Em 2013, a taxa de suicídio foi de 7,85% já em 2023 esse valor foi de 9,55%. Entre idosos do sexo masculino as taxas variaram de 12,9% para 15,8% em 2023, já entre as mulheres a variação foi mínima (2,9% para 3,0%), o que pode ser justificado pelo maior cuidado que as mulheres têm em relação a sua saúde e maior sociabilidade. Entre as Grandes Regiões brasileiras, as maiores taxas de suicídio foram na região Centro-Oeste e Sul. Destaca-se a Região Sul com as maiores taxas em todos os anos, com 14,2% em 2013 e 16,7% no ano de 2023 e chegando a 17,6% em 2021.
Conclusões/Considerações
A saúde mental é uma das grandes preocupações da saúde pública brasileira. O aumento nas taxas de suicídio na população idosa demonstra a necessidade de maior atenção a essa população e a construção de políticas públicas que os atendam possibilitando viver esse ciclo da vida de forma mais plena. Os resultados aqui apresentados demonstram a necessidade de maiores estudos e investigações para entender os fatores relacionados e atender essa população.
VIOLÊNCIA CONTRA A POPULAÇÃO LGBT+ SEGUNDO RAÇA/COR: ESTUDO OBSERVACIONAL COM BASE EM NOTIFICAÇÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2015–2023
Pôster Eletrônico
1 UNIRIO
Apresentação/Introdução
O Brasil lidera os índices de homicídios contra pessoas LGBT+. Essa população é alvo recorrente de violências, agravadas por marcadores sociais como raça/cor. Desde 2001, essas violências são de notificação compulsória (BRASIL, 2017). O Rio de Janeiro concentra 2,3% das pessoas que se autodeclaram lésbicas, gays ou bissexuais no Brasil (IBGE, 2022), o que justifica a análise dessas notificações.
Objetivos
Analisar e caracterizar as notificações de violências contra a população LGBT no estado do Rio de Janeiro, segundo a variável raça/cor, entre 2015-2023. Identificando a distribuição por municípios.
Metodologia
Trata-se de um estudo ecológico, tendo como unidades de observação as variáveis da ficha de notificação de violências interpessoais e autoprovocadas registradas entre 2015 e 2023, no Rio de Janeiro, contra pessoas LGBT.
Os dados foram coletados através do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), disponibilizado publicamente pelo DataSUS.
As variáveis analisadas foram raça/cor, sexo, identidade de gênero, orientação sexual, escolaridade, local de ocorrência e tipo de violência.
Para análise dos dados, foram realizadas frequências absolutas e relativas, além de testes de associação (qui-quadrado) entre raça/cor e as demais variáveis, utilizando o software R.
Resultados
Foram analisadas 9.722 notificações de violência contra pessoas LGBT no Rio de Janeiro (2015-2023). Do total de notificações analisadas, 60,7% das pessoas eram adultos e 23,6% adolescentes. Predominou-se a raça/cor parda com 38,1%, seguidas de brancas, com 33,4% e pretas com 18,7%. A maioria das vítimas eram mulheres (69,1%). Em relação à orientação sexual, homossexuais representaram 61,8%, bissexuais 21,5% e heterossexuais 12%.
Quanto ao local de ocorrência, a residência foi o principal cenário (61,8%). Os principais motivos foram “Outros” (21,7%) e “Sexismo” (17,6%), com alto percentual de registros ignorados. Em todas as variáveis analisadas, observou-se maior proporção de vítimas negras.
Conclusões/Considerações
Os resultados evidenciam importantes desigualdades raciais na ocorrência das violências contra a população LGBT no estado do Rio de Janeiro. A predominância de notificações entre pessoas negras, reforça a necessidade de um olhar interseccional nos casos de violência. Destaca-se ainda a relevância da qualificação do preenchimento das notificações, visando ampliar a completude dos dados e possibilitar análises mais profundas.
QUALIDADE DE VIDA ENTRE MULHERES COM HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA POR PARCEIRO ÍNTIMO
Pôster Eletrônico
1 UFES
Apresentação/Introdução
A violência por parceiro íntimo refere-se ao comportamento de um parceiro ou ex-parceiro que causa danos físicos, sexuais ou psicológicos – incluindo agressão física, coerção sexual, abuso psicológico e comportamentos de controle . A VPI é causa importante de morbidade e incapacidade, sendo um determinante da saúde e bem-estar, além de aumentar o risco de morte precoce
Objetivos
Descrever a qualidade de vida entre as mulheres com histórico de violência por parceiro íntimo residentes no Município de Vitória/ES
Metodologia
Estudo transversal, de base populacional, envolvendo 1.086 mulheres residentes em Vitória/ES. A amostra foi composta por 519 vítimas de violência por parceiro íntimo. A qualidade de vida foi avaliada pelo Short Form Health Survey -36, que mede oito domínios subdivididos nos Resumos do Componente Físico e Mental. A ocorrência de violência por parceiro íntimo foi medida pelo instrumento WHO VAW STUDY. Foram verificadas variáveis sociodemográficas, econômicas e comportamentais, por meio de estatística descritiva e bivariada por Kruskal-Wallis e Mann-Whitney (p<0,05).
Resultados
Os resultados indicam que mulheres que sofreram violência por parceiro íntimo ao longo da vida e durante a pandemia de covid-19 apresentam diminuição da QV. Em relação ao RCF, a idade avançada, menor escolaridade, o excesso de peso, ser tabagista, não fazer atividade física e ter multimorbidades impactaram os níveis de QV de física. No que se refere ao RCM, o impacto negativo foi em mulheres jovens, a falta de atividade física e a presença de multimorbidades também reduziram significativamente os escores de QV mental. Durante a pandemia, a falta de atividade física e presença de multimorbidades mostram queda na qualidade de vida das mulheres.
Conclusões/Considerações
A partir do estudo, pode-se perceber que a violência por parceiro íntimo tem um impacto significativo na saúde mental e física das mulheres. Fatores como idade, estado conjugal, trabalho remunerado, excesso de peso, prática de atividade física e multimorbidade mostraram-se essenciais para determinar a qualidade de vida das mulheres que sofreram violência por parceiro íntimo.
VIOLÊNCIA E ACIDENTES NO CEARÁ: PERFIL DAS INTERNAÇÕES E DESAFIOS PARA A SAÚDE PÚBLICA
Pôster Eletrônico
1 UECE
Apresentação/Introdução
As violências e acidentes representam um grave problema de saúde pública, marcados por desigualdades, precarização da vida e violação dos direitos sociais. No Ceará, o elevado número de hospitalizações por essas causas evidencia não apenas a magnitude do problema, mas também reforça os desafios enfrentados para a formulação de politicas públicas de saúde, proteção social e ações intersetoriais.
Objetivos
Analisar o perfil das internações por causas externas no Sistema Único de Saúde no Ceará, no período de 2015 a 2024, com foco nos grupos mais vulneráveis.
Metodologia
Estudo descritivo, realizado com dados secundários, colhidos do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), por meio do tabnet/DATASUS, conforme os códigos do capítulo XX do CID-10 (V01-Y98), no período de 2015 a 2024, para o estado do Ceará. Foram analisadas as variáveis: grupo de causa, faixa etária, sexo, tempo médio de permanência hospitalar e valores pagos. A análise foi realizada por meio de estatística descritiva (frequência absoluta e percentual), associado a uma abordagem crítica dos determinantes sociais da saúde, com ênfase nas práticas de vigilância, prevenção e cuidado integral as vítimas.
Resultados
Foram 510.586 internações por causas externas no Ceará (2015 a 2024). Quedas com 32,3%(164.845), tempo médio de 5,1 dias e custo R$ 150, 5 milhões. Acidentes de transporte 24,9% (127.094), média de 7,9 dias e custo R$ 190,7 milhões, destacando motociclistas (8,4 dias e R$ 120,3 milhões). Agressões 5,19% (26.478) apresentaram o maior tempo médio, 9,1 dias e R$ 60,1 milhões. Lesões autoprovocadas 1,31% (6.708) com 5,4 dias e R$ 7,7 milhões. A maioria das internações ocorreu em homens jovens (20 a 29 anos). O custo total foi R$ 617 milhões, evidenciando o peso social e econômico dessas violências, além da urgência em fortalecer ações de vigilância, proteção e enfrentamento intersetorial.
Conclusões/Considerações
Os altos índices de internações e gastos por causas externas evidenciam os grandes desafios sanitários e sociais no Ceará. Urge implementar politicas públicas intersetoriais, focadas em qualificar as redes de cuidado, com ênfase nos casos com quedas e acidentes de trânsito. É preciso superar abordagens fragmentas, e integrar práticas que considerem os determinantes sociais, bem como ações de cuidado integral para as vítimas.
CANAL ENDÊMICO DAS NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA NO ESTADO DE SANTA CATARINA, ENTRE OS ANOS DE 2018 A 2024
Pôster Eletrônico
1 UFSC
Apresentação/Introdução
A violência é um fenômeno social multifacetado que afeta a saúde da população e é considerada uma “endemia social moderna”, que afeta diretamente o Sistema Único de Saúde. A notificação das violências dão visibilidade para a magnitude e a gravidade desse agravo, sendo a vigilância em saúde fundamental para acompanhamento dos registros e elaboração de políticas públicas.
Objetivos
Descrever as notificações de violência no Estado de Santa Catarina e apresentar o comportamento das notificações no período compreendido entre 2018 e 2024 a partir da construção do canal endêmico das notificações de violência.
Metodologia
Estudo observacional temporal de caráter descritivo, com a coleta de informações das notificações de violência do período de 2018 a 2024 no Estado de Santa Catarina. Utilizou-se dados secundários do SINAN da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina. Os dados foram coletados entre os meses de abril e maio de 2025, referentes ao período de janeiro de 2018 a dezembro de 2024. A análise foi realizada a partir da construção de canal endêmico das notificações de violência e foi calculada a taxa de notificação de violências para a população de Santa Catarina. Foi dispensada a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos pela utilização de dados secundários.
Resultados
Em Santa Catarina, entre 2018 e 2024, foram notificados 122.094 mil casos de violência. Entre as mais notificadas encontram-se: lesão autoprovocada (27,3%), violência física (22,9%) e outros tipos de violência (22,3%). Crianças e adolescentes de 10 a 19 anos foram as maiores vítimas (22,4%), seguidos de jovens de 20 a 29 anos (20,7%) e adultos entre 30 e 39 anos (15,6%). Predominou-se as notificações entre pessoas brancas (82,4%). Observou-se redução das notificações entre março de 2020 a abril de 2022, período da pandemia de Covid-19 e aumento das notificações em 2023 e 2024, sendo 2024 dentro da zona de epidemia. As taxas apresentam um crescimento das notificações no período estudado.
Conclusões/Considerações
O estudo evidenciou tendência de crescimento da violência após a pandemia de Covid-19. É necessário a formação de profissionais de saúde qualificando as notificações, permitindo o uso dos dados para planejamento de políticas públicas para mitigar a violência no país. Intervir nas desigualdades sociais é essencial para reduzir a violência. Recomenda-se realização de novos trabalhos para ampliar o conhecimento e qualificar o debate nessa temática.
RELATO DE EXPERIÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DE UMA PESQUISA SOBRE HOMICÍDIOS FEMININOS E OS ATRAVESSAMENTOS DA NECROPOLÍTICA: O QUE O SILÊNCIO REVELA?
Pôster Eletrônico
1 ISC/UFBA
2 UEFS
3 PPGM/UEFS e MPSC/UEFS
Período de Realização
Realizado entre outubro e dezembro de 2023 na Coordenadoria de Polícia do Interior (COORPIN).
Objeto da experiência
Vivência de duas estudantes do curso de Enfermagem durante a obtenção de dados sobre homicídios femininos em uma COORPIN.
Objetivos
Relatar as experiências vivenciadas durante a obtenção de dados sobre homicídio femininos em registros policiais em uma COORPIN do interior da Bahia e refletir sobre os atravessamentos provocados pela necropolítica, a violência institucional e as vozes dos presos que ecoavam durante a pesquisa.
Metodologia
A atividade, relacionada ao projeto “Aspectos epidemiológicos e criminais da violência contra a mulher na Bahia segundo raça/cor e fatores associados” (financiado pela FAPESB), consistiu em examinar inquéritos policiais sobre homicídios femininos ocorridos no interior da Bahia e foi realizada por duas estudantes, uma voluntária e outra bolsista de IC (PROBIC). Além da leitura dos registros, foram também experienciados um ambiente marcado pelo sofrimento e as repercussões das vozes encarceradas.
Resultados
Tivemos muita dificuldade em identificar os casos conclusos e via-se incompletude de preenchimento de campos, gerando subnotificações de dados importantes para entender melhor a dinâmica do crime, o perfil da vítima e do agressor, o que impactou a confiabilidade da pesquisa. Dentro da dinâmica do campo, presenciamos um ambiente marcado por frieza e sofrimento, cercado por gritos tanto dos recém encarcerados quanto dos familiares diante da violência institucional.
Análise Crítica
Pesquisar violência de gênero em espaços policiais exige mais que técnica: demanda leitura sensível e crítica à estrutura institucional. O ambiente da COORPIN se mostrou hostil, não só pelas condições físicas e pelos gritos, mas pela naturalização do sofrimento e pela descrença generalizada na ressocialização. O silêncio nos registros não é apenas falha técnica, mas resultado de uma necropolítica que decide quem merece ser visível ou não.
Conclusões e/ou Recomendações
A pesquisa é essencial para denunciar silêncios e afirmar direitos humanos. O enfrentamento da subnotificação exige compromisso político e social com a vida de quem historicamente foi silenciada pelo Estado. Nesse contexto, recomenda-se fortalecer as parcerias entre as universidades e as demais instituições, bem como o olhar interdisciplinar sobre os graves problemas sociais existentes, como a violência e sua interseccionalidade de gênero e raça.
IMPLEMENTAÇÃO DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ASSÉDIO MORAL DA SAUDE EM UMA CAPITAL DO NORDESTE: RELATO DE EXPERIENCIA
Pôster Eletrônico
1 Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Ceará- SENECE
2 Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza
3 Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do Município de Fortaleza - SINDFORT
4 Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde- SINASCE
Período de Realização
Janeiro de 2021 a dezembro de 2024
Objeto da experiência
Implementação da Comissão de Prevenção e Combate ao Assedio, com base em encontros sistemáticos e uso de metodologia colaborativa.
Objetivos
Relatar a experiência de movimentos instituídos e instituintes ocorridos ao longo dos anos para implementação da Comissão de Prevenção e Combate ao Assedio da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza.
Descrição da experiência
O assédio moral tem sido uma prática recorrente nos ambientes de trabalho. A Prefeitura de Fortaleza criou por meio da Lei n. 10.427-2015, a Politica Prevenção e Combate ao Assedio Moral. Na Comissão da saúde, diferentes movimentos instituintes ocorreram ao longo dos anos, entretanto, foi a partir do ano de 2024 que ocorreram maior número de denúncias, reuniões e oitivas. Isso se deu, por meio de maior resolutividade, divulgação da comissão, incentivos a denúncia, em especial, pelos sindicatos.
Resultados
Para maior agilidade nos processos, a partir de 2024, os encontros da comissão ocorreram duas vezes por semana, atualizando situações de anos anteriores. As denuncias de 2021 e 2024 representaram em numero de casos de 2 para 37 respectivamente. Diferentes situações foram vivenciadas, como frequentes mudanças na gestão de pessoas e pandemia. Entre os principais impactos, observou-se baixo desempenho profissional, adoecimento físico e psíquico, naturalização dos casos, subnotificação e exoneração.
Aprendizado e análise crítica
A construção colaborativa muito contribuiu com os avanços, entretanto, evidenciou-se a necessidade de implementação de ações efetivas na prevenção e combate ao assedio moral nos serviços de saúde, com necessidade de acompanhamento após conclusão do caso, inclusão do Centro de Referencia em Saúde do Trabalhador, assim como notificação. Percebeu-se que os sindicatos têm muita importância no processo, pois aparecem como a instituição que mais é procurada pelo trabalhador (a) diante do problema
Conclusões e/ou Recomendações
A realidade do mundo do trabalho é marcada por precarização, violência no trabalho e outros. A Comissão de Prevenção e Combate ao Assédio poderá contribuir com a redução de violência no trabalho, em especial o assédio. Apesar dos avanços, existe subnotificação, medo, desconhecimento que assédio é crime. Recomenda-se campanhas permanentes, maior valorização da comissão, como espaço potente para implementação da Política, apoio e decisão da gestão.
ENTRE FRONTEIRAS DO NÃO LUGAR: MIGRAÇÃO TRANSNACIONAL DE PESSOAS LGBTQIA+, VIOLÊNCIAS E SAÚDE SOB PERSPECTIVAS INTERSECCIONAIS E DECOLONIAIS
Pôster Eletrônico
1 ENSP/FIOCRUZ
Apresentação/Introdução
A migração transnacional de pessoas LGBTQIA+ cresce mundialmente, marcada por violências e desproteções. Este estudo aborda suas relações com a saúde, evidenciando vulnerabilizações interseccionais e a escassez de políticas públicas voltadas ao acolhimento digno dessa população em contextos de refúgio e deslocamento forçado.
Objetivos
Discutir a migração transnacional de pessoas LGBTQIA+ e suas inter-relações com a saúde e as violências vividas, contribuindo para a ampliação do debate acadêmico e político sobre interseccionalidade, direitos humanos e políticas públicas de cuidado.
Metodologia
Trata-se de uma revisão de escopo guiada pelas diretrizes do Joanna Briggs Institute (JBI), com a pergunta de pesquisa estruturada no modelo PCC: população (pessoas LGBTQIA+), conceito (saúde e violências) e contexto (migração transnacional). A busca foi realizada nas bases Scopus, Web of Science, PubMed, Scielo, BVS e OasisBR, com critérios de inclusão e exclusão definidos. Após o processo de triagem, leitura e extração de dados, foram selecionados 49 estudos para análise. Os dados foram organizados por categorias temáticas: saúde geral, HIV/Aids, saúde mental e Covid-19, com análise crítica orientada por aportes interseccionais e decoloniais.
Resultados
A literatura revela que pessoas LGBTQIA+ migrantes enfrentam múltiplas opressões — de ordem sexual, de gênero, racial, étnica e migratória — que impactam fortemente sua saúde física e mental. Identificam-se barreiras de acesso aos serviços, estigmas, insegurança alimentar, exclusão habitacional e violências institucionais. A pandemia de Covid-19 agravou essas vulnerabilidades. Destacam-se como estratégias de resistência as redes de apoio afetivo, como famílias escolhidas e coletivos LGBTQIA+. Há escassez de estudos em língua portuguesa e na América Latina, indicando um apagamento epistêmico e político da experiência LGBTQIA+ migrante no Sul Global.
Conclusões/Considerações
Conclui-se que o enfrentamento das violências e das iniquidades na saúde requer abordagens interseccionais e decoloniais, que rompam com a lógica cisheteronormativa e eurocentrada das políticas migratórias e sanitárias. O estudo contribui para visibilizar sujeitos historicamente marginalizados, e para fomentar práticas e políticas de cuidado culturalmente sensíveis, éticas e afirmativas.
CONFAD: A EXPERIÊNCIA DE OSASCO-SP NA IMPLEMENTAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 Vigilância epidemiológica da SMS de Osasco
2 Secretaria municipal de Saúde
3 Vigilância epidemiológica da SMS de Osasco/FMUSP
Período de Realização
Apresentamos a experiência de implementação do projeto piloto, de outubro de 2023 até o momento.
Objeto da experiência
Implementação piloto de atendimento especializado em Conflitos Familiares Difíceis (CONFAD) em uma Unidade Básica de Saúde do município de Osasco.
Objetivos
Aprimorar a resposta da atenção primária à saúde (APS) do município de Osasco ao cuidado dos casos de violência doméstica contra a mulher (VDCM), propondo alternativas intersetoriais e fortalecendo o trabalho em rede, primordial para um cuidado integral e para a garantia de direitos.
Descrição da experiência
O CONFAD se integra ao atendimento geral da APS: todos identificam os casos e encaminham para atendimento especializado. O CONFAD prevê de 1-4 atendimentos, articulando o cuidado com as equipes de referência. Com uma perspectiva de gênero e direitos humanos, o atendimento busca compreender a situação da mulher, suas conexões com a saúde, avaliar riscos e oferecer alternativas intersetoriais, promovendo decisões assistenciais compartilhadas.
Resultados
Realizamos 6 oficinas de sensibilização para médicos e profissionais da eMulti. O CONFAD recebeu 56 encaminhamentos, sendo 31 usuárias atendidas e totalizando 42 atendimentos. Os profissionais reconheceram o Confad como um recurso para o cuidado de casos de VDCM, possibilitando a referência e contrarreferência. As decisões assistenciais compartilhadas resultaram em encaminhamentos para outros pontos da rede intersetorial, possibilitando alternativas condizentes com os desejos das mulheres.
Aprendizado e análise crítica
A experiência evidencia a importância de um atendimento especializado em VDCM na APS, inserido no território e acessível às mulheres, e de profissionais sensíveis à temática. Contudo, identificamos obstáculos importantes na implementação, como dificuldade na organização do treinamento para todos os profissionais da UBS devido à baixa priorização entre diferentes níveis da gestão, além de entraves na navegação nos serviços especializados em VDCM, impactando a efetivação das escolhas das mulheres.
Conclusões e/ou Recomendações
Destacamos a urgência de estabelecer fluxos mais efetivos entre os serviços de saúde e da rede intersetorial e a necessidade de apoio da gestão em todos os níveis, a fim de garantir a sustentabilidade e expansão do Confad. Para tanto, sugerimos a criação de um componente de educação permanente voltado para gestores e a inclusão destes em um comitê consultivo para coordenar a implementação e posterior monitoramento do programa.
EVOLUÇÃO TEMPORAL DOS HOMICÍDIOS DE MULHERES EM SALVADOR, BAHIA, 2016–2024: UM ESTUDO COM DADOS POLICIAIS
Pôster Eletrônico
1 UEFS
2 ISC/UFBA
3 UEFS e UFRB
4 PPGM/UEFS e MPSC/UEFS
Apresentação/Introdução
A herança histórica de submissão feminina e supremacia masculina sustenta hierarquias de poder que alimentam violências de gênero, sendo que na Bahia, tais padrões agravam os homicídios de mulheres. Este estudo analisa perfis das vítimas, padrões e variações para identificar fatores de risco e sazonalidade, visando embasar políticas públicas mais eficazes no combate da violência de gênero.
Objetivos
Realizar a análise temporal dos homicídios de mulheres ocorridos em Salvador/BA entre os anos de 2016 e 2024.
Metodologia
Estudo descritivo com bases em dados criminais de homicídio de mulheres obtido através da inteligência da PCBA entre os anos de 2016 e 2024. Variáveis relacionadas ao tipo de crime (homicídio doloso, feminicídio, lesão corporal seguida de morte e latrocínio), turno de ocorrência e características da vítima, foram investigados. A análise temporal dos casos foi feita através do Joinpoint Regression considerando p-valor < 0,05 para significância estatística. Essa pesquisa integra o projeto "Aspectos epidemiológicos e criminais do feminicídio na Bahia segundo raça/cor e fatores associados", financiado pela FAPESB (edital 016/2023) e vinculado ao projeto de cooperação Risofloras Del Sur (CNPq).
Resultados
A análise dos 801 homicídios femininos (2016-2024) revela um perfil já conhecido de mulheres jovens (média: 32,5 anos), solteiras (85,7%) associada à vulnerabilidade socioeconômica refletida na ocupação: donas de casa (16,9%) e trabalhadoras informais predominaram (71 registros). Em relação à raça/cor, 83,1% das vítimas eram negras, reforçando a interseccionalidade dos fatores de risco. Predominaram o homicídio doloso (78,8%) em detrimento dos feminicídios (16,4%), sendo que a maioria se concentraram à noite (34,1%) ou pela manhã (31,2%). A estabilidade temporal dos casos foi identificada com variação anual de 0,7% (IC95%: -4,6% a 6,6%), sem mudanças estatísticas no período.
Conclusões/Considerações
O estudo infere a interseccionalidade entre gênero, raça e território em Salvador: mulheres negras, solteiras e em vulnerabilidade socioeconômica. A estabilidade temporal indica padrão estrutural e, possivelmente, falência das políticas de mitigação da violência mesmo após aprovação da Lei do Feminicídio em 2015. Os resultados também evidenciam que a violência está geograficamente vinculada a desigualdades raciais e territoriais.
RISCO DE HOMICÍDIO E ASSOCIAÇÃO ENTRE USO DE ARMA BRANCA E HOMICÍDIOS DOMICILIARES FEMININOS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Pôster Eletrônico
1 Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia)
2 Colégio Dom Bosco
3 Programa de Pós-graduação em Condições de Vida e Situações de Saúde na Amazônia - Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia)
4 Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp/Fiocruz)
Apresentação/Introdução
Em 2023, 85 mil mulheres foram assassinadas no mundo. No Brasil, esse número se aproximou de 4 mil, evidenciando não apenas uma causa relevante e evitável de morte prematura, mas também um problema com repercussões duradouras sobre a família, especialmente nos filhos das vítimas. Há poucos estudos com estimativas atuais e realistas sobre o risco de homicídios e sua possível relação com feminicídios.
Objetivos
Estimar o risco de homicídio e sua associação com o uso de arma branca e homicídios femininos ocorrido no domicílio, entre mulheres com 10 anos ou mais, residentes na cidade do Rio de Janeiro (RJ), em 2024.
Metodologia
Estudo de série de casos, pautado em inteligência epidemiológica, integrando dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade, Secretaria de Segurança Pública, Judiciário e imprensa online. Os Dados populacionais, extraídos das estimativas do DATASUS, foram utilizados no cálculo de taxas de mortalidade por homicídio por 100 mil habitantes. Testou-se a associação entre o tipo de arma usada à perpetração do delito pelo agressor (branca vs demais métodos [arma de fogo; força corporal; e outros]) e local de ocorrência do óbito (domicílio vs demais locais [via pública; estabelecimento comercial; e local de trabalho]). As associações foram avaliadas utilizando-se o teste qui-quadrado no software R.
Resultados
Em 2024, foram incluídos 89 assassinatos femininos, correspondendo a uma taxa de 2,7 (IC95%: 2,2-3,4) por 100 mil. Maiores taxas foram observadas entre mulheres de 25-34 anos (4,8;(IC95%: 3,1-7,0) e as menores entre mulheres com 60 anos ou mais (1,8;(IC95%: 1,0-3,0). Ao todo, 89,7% (26/29) dos assassinatos femininos com arma branca ocorreram no ambiente domiciliar, enquanto entre aqueles perpetrados por outros métodos, 55,3% (21/38) ocorreram fora do ambiente domiciliar (p-valor: <0,001).
Conclusões/Considerações
O risco de homicídios femininos no RJ preocupa, especialmente entre mulheres de 25 a 34 anos. O elevado risco de homicídio em adultas jovens, associado ao predomínio das ocorrências no ambiente domiciliar e ao uso de arma branca, sugere a presença de feminicídio. Esses achados evidenciam a urgente necessidade de monitoramento dos óbitos femininos, sob uma perspectiva de gênero, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
POTENCIALIDADES E LIMITES DA ATUAÇÃO DOS NÚCLEOS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA AS MULHERES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo
Apresentação/Introdução
A violência doméstica de gênero é endêmica. Pesquisa de 2022, realizada em 126 municípios, apontou cerca de 50 mil brasileiras vítimas naquele ano. Reconhecida como questão de saúde pública, a violência é enfrentada com apoio dos NPVs, instituídos nos serviços de saúde de São Paulo em 2015, que atuam de forma interprofissional para construir planos assistenciais de cuidado compartilhado.
Objetivos
Identificar as potencialidades e desafios dos Núcleos de Prevenção à Violência no enfrentamento da violência doméstica de gênero na Atenção Primária à Saúde.
Metodologia
A pesquisa adota abordagem qualitativa e revisão de escopo, fundamentada no conceito de gênero (Scott, 1989). Serão empregadas cinco técnicas: revisão de escopo; observação participante; análise documental; entrevistas com profissionais dos NPVs e gestores da APS; e análise de prontuários. Utiliza-se a análise de conteúdo temática (Bardin, 2011), com triangulação dos dados para síntese interpretativa. As categorias analíticas são: gênero, violência doméstica de gênero, supervisão, educação permanente e APS. A coleta ocorre na zona Sul de São Paulo, em unidades com atuação destacada dos NPVs e maior número de notificações.
Resultados
A pesquisa está em fase de coleta de dados, com observações realizadas em duas UBS da zona sul de São Paulo. Os resultados parciais indicam diferenças no funcionamento dos NPVs, com variações na condução das reuniões, na definição de objetivos e no uso de ferramentas institucionais. Há baixa padronização e fragilidade na institucionalização do núcleo. Destacam-se o receio dos agentes de saúde frente ao conhecimento dos casos de violência e a percepção de que o funcionamento do NPV depende mais do esforço individual dos profissionais do que de diretrizes consolidadas e apoio institucional contínuo.
Conclusões/Considerações
A pesquisa busca identificar potencialidades dos NPVs na APS, como a atuação interprofissional e o compromisso com a notificação e o cuidado em rede. Espera-se também evidenciar desafios como a integração entre serviços, a capacitação ampliada das equipes e a continuidade do cuidado, subsidiando estratégias para qualificar a assistência.
VIOLÊNCIA SEXUAL NO BRASIL: ANÁLISE DAS DESIGUALDADES COM BASE NO PERFIL DAS VÍTIMAS
Pôster Eletrônico
1 ISC/UFBA
2 CIDACS/Fiocruz/Bahia
Apresentação/Introdução
A violência de gênero é um fenômeno global que afeta principalmente as mulheres, sendo uma em cada três atingida. No Brasil, a violência sexual configura um grave problema de saúde pública. Entre 2012 e 2021, foram registrados 583.156 casos de estupro pelo sistema de segurança pública, evidenciando a magnitude do fenômeno.
Objetivos
O objetivo principal do trabalho foi analisar o perfil dos casos de violência sexual em mulheres notificados nas unidades de saúde do Brasil, visando compreender sua relação com os diversos marcadores sociais.
Metodologia
Trata-se de um estudo observacional, descritivo e transversal, baseado em dados individuados das notificações de violência registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), no módulo de dados referente à Violência, no período de 2011 a 2021, em unidades de saúde de todos os municípios brasileiros. Para analisar o perfil das vítimas de violência sexual, utilizou-se estatísticas descritivas e regressão logística múltipla. A regressão permitiu explorar associações entre estupro e marcadores sociais, evidenciando a influência das desigualdades estruturais na produção de vulnerabilidades e suas relações com as experiências de violência.
Resultados
Entre 2011 e 2021, foram notificados 365.484 casos de violência sexual, 88% envolveram meninas, adolescentes e mulheres. O estupro foi o tipo mais comum de violência, com 73,8% dos casos e 17.898 meninas menores de 14 anos estavam gestantes. A idade média das vítimas foi 16,5 anos, e 58,5% tinham até 14 anos. 38,1% dos casos sofreram violência de repetição. Quanto à raça-cor, 54,2% eram negras e 35,3% brancas. Em relação à escolaridade, 69,3% apresentaram inadequação idade-série. A regressão logística indicou que aquelas, que não sofreram violência de repetição (OR=0,69; IC95% 0,68-0,71) e com adequação escolar (OR=0,95; IC95% 0,93-0,97) tiveram menor chance de ocorrência de estupro.
Conclusões/Considerações
A violência sexual contra mulheres reflete desigualdades de gênero, raça e classe. Apesar das leis, barreiras dificultam o acesso à proteção. Ferramentas de enfrentamento incluem educação sexual, acolhimento das vítimas e saúde sexual e reprodutiva de qualidade, garantindo autonomia sobre o corpo, acesso à saúde e capacitação de profissionais para melhor atender e apoiar as denúncias.
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS DADOS DAS NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA AUTOPROVOCADA, MACRORREGIÃO LESTE, MINAS GERAIS, 2019-2023
Pôster Eletrônico
1 Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
2 Fundação João Pinheiro, campus Pampulha
3 Universidade Federal de Juiz de Fora, campus Governador Valadares
Apresentação/Introdução
A violência autoprovocada representa um grave problema de saúde pública, com impactos significativos na morbimortalidade. A notificação adequada desses casos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) é essencial para subsidiar políticas públicas de prevenção, cuidado em saúde mental e promoção da vida.
Objetivos
Avaliar a qualidade das notificações de violência autoprovocada (VA) de residentes na Macrorregião de Saúde Leste de Minas Gerais, com 10 anos ou mais, no período de 2019 a 2023.
Metodologia
Estudo transversal e dados secundários do SINAN que avalia as notificações de violência autoprovocada, compreendendo a: duplicidade (percentual de duplicidade aceitável menor que 5%); completitude (excelente ≥ 95%, bom entre 90 e 95%, regular 70 a 89%, ruim 50 a 69% e muito ruim < 50%), considerando campos deixados ignorado/branco; consistência (excelente ≥ 90,0%; regular 70,0-89,0%; baixa menor que 70,0%). Projeto de pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Juiz de Fora, CAAE 4689523.3.00005147.
Resultados
Foram notificados 2.873 casos de violência autoprovocada, com 66 (2,3%) duplicidades, valor considerado aceitável. Completitude excelente: (sexo (100%), idade (100%), encaminhamento (99%) e meio de agressão (95,5%); boa: raça/cor (94,5); ruim: deficiência/transtorno (65,1%), local da ocorrência (68,8%) e recorrência (60,6%); muito ruim: escolaridade (40,4%) e ocupação (34,5%). Consistência excelente: sexo masculino e campo gestante não se aplica (100%); sim para lesão autoprovocada e autor da agressão a própria pessoa (90,5%); regular: sexo do autor divergente do sexo da vítima (88,3%), baixa: lesão autoprovocada sim e tipo de violência informado como outro e informação complementar (12,3%).
Conclusões/Considerações
Os resultados evidenciam fragilidades na qualidade das notificações de violência autoprovocada, especialmente em variáveis essenciais para a caracterização dos casos. A ausência ou inconsistência nos dados compromete a fidedignidade e limita o uso das informações para subsidiar políticas públicas. Investir na qualificação dos registros é fundamental para fortalecer a vigilância e o cuidado em saúde mental.
CARACTERÍSTICAS DAS PESSOAS IDOSAS E COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA: UMA REVISÃO DE ESCOPO
Pôster Eletrônico
1 Universidade Federal de Santa Catarina
Apresentação/Introdução
A violência contra a pessoa idosa e com deficiência é um fato social, que produz impactos negativos na saúde física e mental da pessoa exposta, aumentando o risco de mortalidade, morbidade, internação hospitalar e institucionalização. Compilar informações sobre a violência contra a pessoa idosa e com deficiência pode contribuir no entendimento, prevenção e no enfrentamento desse agravo em saúde.
Objetivos
Identificar as evidências científicas disponíveis em relação às características das pessoas idosas e com deficiência em situação de violência notificadas no Brasil.
Metodologia
Trata-se de uma revisão de escopo que utilizou a metodologia do Instituto Joanna Briggs. As bases de dados foram: BDENF, CINAHL, Embase, Lilacs, PsycINFO, Pubmed/MEDLINE, Scielo, Scopus, Web of Science e a literatura cinzenta. As buscas foram efetuadas em outubro de 2023. Dois revisores realizaram as quatro etapas (leitura dos títulos, resumos, metodologias e na íntegra) da seleção dos documentos de maneira independente. As divergências foram solucionadas em reunião de consenso, entre as etapas, em caso de permanência da discordância o terceiro revisor deliberava. Para análise, foi desenvolvido uma tabela com dados bibliométricos e principais resultados dos estudos incluídos.
Resultados
Foram incluídos nesta revisão de escopo 8 estudos com dados nacionais provenientes do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Vigilância de Violências e Acidentes, destes 5 são apenas com pessoas idosas, 3 com diferentes ciclos de vida, sendo que 1 desses é com mulheres e outro com pessoas com deficiência. Considerando as características das pessoas idosas, foi identificado que as mulheres apresentavam mais notificações de ocorrência de violência. Pessoas pretas e pardas estavam mais expostas, possuíam baixa escolaridade e referente ao estado civil, não estavam em um relacionamento. Considerando as deficiências, a maioria das pessoas idosas notificadas não apresentavam.
Conclusões/Considerações
Sabe-se que a violência contra a pessoa idosa e com deficiência é um problema de saúde pública, mas ainda há pouca produção científica no Brasil sobre o tema. Nenhum estudo utilizou o recorte de pessoas idosas com deficiência para uma análise aprofundada, sendo que as características dessa população precisam ser identificadas para que ações e estratégias de enfrentamento desse agravo sejam pensadas e novas pesquisas sejam realizadas
VIOLÊNCIA DE GÊNERO E SUAS EXPRESSÕES: EXPERIÊNCIA DE UM GRUPO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIAS ACERCA DA VIOLÊNCIA NO AMBIENTE UNIVERSITÁRIO
Pôster Eletrônico
1 Escola de Governo Fiocruz Brasília
Apresentação/Introdução
A Convenção de Belém do Pará define a violência como qualquer ato ou conduta de natureza de gênero que cause danos ou sofrimento físico, psicológico ou sexual, podendo resultar em morte, tanto em esferas públicas quanto privadas (Brasil, 1996). As universidades não estão isoladas deste agravo uma vez que as manifestações de violência podem ser assédio moral ou sexual, e violência sexual.
Objetivos
Refletir sobre a percepção e compreensão de mulheres universitárias sobre a violência de gênero, suas expressões e seus impactos na saúde.
Metodologia
A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, exploratória e descritiva, utilizando a pesquisa documental como técnica de coleta de dados. A análise foi realizada por meio do método de Sistematização de Experiências com base na educação popular (Holliday, 2006). Foi realizada no período de fevereiro de 2025, na Universidade de Brasília, na Faculdade de Ciências e Tecnologias em Saúde, campus Ceilândia. Participaram discentes vinculadas aos cursos de graduação da área da saúde, com idade entre 18 a 25 anos. A coleta de dados ocorreu por meio de pesquisa documental, sendo os dados analisados por meio de uma abordagem crítica e participativa do diário de campo e atividades realizadas.
Resultados
As participantes da pesquisa têm idades variaram entre 20 e 25 anos, com predominância de jovens de 20 anos. Em relação à raça/cor da pele, três se autodeclaram brancas e duas se identificam como pretas.
A atividade em grupo permitiu identificar diferentes percepções e vivências das mulheres universitárias em relação à violência de gênero, suas expressões e impactos na saúde. A partir do relatório da atividade os dados foram sistematizados em cinco categorias principais: socialização de gênero e atribuição de papéis, compreensão sobre a violência de gênero, expressões da violência no contexto universitário, impactos da violência na saúde e estratégias de enfrentamento e produção de saberes.
Conclusões/Considerações
Os achados demonstram que a violência de gênero se manifesta de diversas formas no ambiente universitário, impactando a saúde e trajetórias acadêmicas. A naturalização dessas violências contribui para a sua perpetuação, tornando essencial a criação de espaços de diálogo e apoio. As falas das participantes evidenciam a necessidade de maior reconhecimento institucional e de estratégias para a promoção da equidade de gênero dentro da universidade.
VIOLÊNCIA ESTRUTURAL CONTRA MULHERES TRABALHADORAS DO SEXO EM SERVIÇOS DE SAÚDE EM 12 CIDADES BRASILEIRAS
Pôster Eletrônico
1 FIOCRUZ
2 UNISUAM
Apresentação/Introdução
O estigma e a violência estrutural nos serviços de saúde contra mulheres trabalhadoras do sexo (MTS) são violações graves dos direitos humanos e barreiras que potencialmente dificultam a busca por seus direitos de atendimentos dignos de saúde para prevenção e cuidados à saúde, o que as deixam suscetíveis ao desenvolvimento de sofrimentos psíquicos.
Objetivos
Este estudo investiga o relato de discriminação em serviços de saúde e o rastreio de transtorno depressivo maior (TDM) a partir do teste Patient Health Questionnaire-2 (PHQ-2), entre MTS recrutadas em 12 cidades brasileiras em 2016.
Metodologia
Foram utilizadas informações de 4.245 MTS, de 18 anos ou mais de idade, recrutadas por Respondent-Driven Sampling (RDS) em estudo realizado em 12 cidades brasileiras, 2016. O questionário foi autopreenchido. Utilizaram-se testes rápidos para detecção de HIV e sífilis, com confirmação laboratorial. Os resultados foram investigados segundo características sociodemográficas, de trabalho, resultados de HIV e sífilis e utilização do serviço de saúde. A prevalência de sinais e sintomas de TDM foi investigada a partir do teste PHQ-2 considerando a pontuação de 3 ou mais. As análises levaram em consideração as probabilidades desiguais de seleção bem como a dependência entre as observações.
Resultados
A maioria das MTS usava serviços de saúde públicos (62,6%), 49,7% tinham entre 18 e 29 anos, 32,9% ensino médio incompleto, 73,9% se autodeclararam negras, 46,6% trabalhavam na rua, 38% começaram a trabalhar com sexo antes dos 18 anos, 5,3% tiveram os testes de HIV positivo e 8,5 tiveram os testes de sífilis ativa. A prevalência de mulheres que relataram ter se sentido discriminadas no serviço de saúde por algum médico ou outro profissional de saúde por ser trabalhadora do sexo foi de 21,3%. 51,5% relataram nunca terem se declarado como trabalhadoras do sexo em serviço de saúde a fim de evitar experiências discriminatórias. 27,7% foram rastreadas com sinais e sintomas de TDM.
Conclusões/Considerações
O estudo destaca que os processos de discriminação e violências nos serviços de saúde vivenciados pelas mulheres, que exercem a prostituição como ocupação, marcam suas existências com a propensão a transtornos mentais, como o TDM. O combate ao estigma e a violência vivenciados pelas MTS nos serviços de saúde é fundamental para garantir o acesso equitativo à saúde em um ambiente que preze pelo bem-estar biopsicossocial ao qual elas têm direito.
VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO ESTADO DO MARANHÃO: UM RETRATO DOS ÚLTIMOS 10 ANOS
Pôster Eletrônico
1 CEST
2 UFMA
3 UEA
Apresentação/Introdução
A violência sexual é todo ato com teor sexual, tendo ou não penetração, seja por forma de exploração ou exibição das vítimas. Ela é de difícil identificação, em crianças e adolescentes, pois eles sentem medo de denunciar ou não conseguem identificar que estão passando por situações de violência. Por isso, a notificação compulsória é de extrema importância pelos profissionais de saúde.
Objetivos
Analisar as notificações dos casos de violência sexual em crianças e adolescentes no estado do Maranhão, Brasil.
Metodologia
Trata-se de um estudo ecológico e descritivo. A população do estudo foram as notificações de violência sexual em crianças de 0 a 10 anos e adolescentes de 10 a 19 anos, pelo Sistema de Informações de Agravos de Notificação no estado do Maranhão, entre os anos de 2013 a 2022. As variáveis utilizadas no estudo foram: violência sexual (estupro, abuso sexual, exploração sexual e pornografia infantil), caracterização da vítima, local e do perpetrador. Para análise estatística foram calculadas as frequências absolutas e relativas. Foi dispensado o parecer do Comitê de Ética de Pesquisa, por se tratar de pesquisa com dados secundários, de domínio público, seguindo a Resolução nº 466/2012.
Resultados
Entre os anos de 2013 a 2022 foram notificados 4.435 casos de violência sexual ocorridas em crianças e adolescentes no estado do Maranhão, neste período, os anos com maiores notificações foram 2022 com 763 casos e 2021 com 712. O estupro foi o tipo de violência mais evidente nas notificações, tendo um total de 3.263. Em relação ao perfil da vítima, a faixa etária mais acometida foi a de 10-14 anos de idade com 2.204 casos, em mulheres sendo 4.153, da raça preta/parda com 3.807 casos e escolaridade de 5ª a 8ª série do ensino fundamental com 1.859. O local de ocorrência predominante foi a residência, sendo 3.131 casos, sendo perpetrado por amigos/conhecidos da vítima, 1.185 notificações.
Conclusões/Considerações
Os resultados revelaram o aumento progressivo nos casos notificados durante o período de 2018 a 2022, destacando que adolescentes com idades entre 10 e 14 anos foram as principais vítimas de estupro, esses dados servem para subsidiar a implementação de medidas e estratégias de controle e prevenção no estado do Maranhão, bem como estimular pesquisas congêneres sobre a temática.
HOMICÍDIOS EM PERNAMBUCO: CARACTERIZAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA CRÍTICA E ENFOQUE INTERSECCIONAL
Pôster Eletrônico
1 SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE
2 Instituto Aggeu Magalhães, Fundação Oswaldo Cruz
Apresentação/Introdução
Introdução: A violência letal no Brasil apresenta marcadas desigualdades raciais, refletindo o racismo estrutural. Estima-se que cause 500 000 mortes por ano no mundo, sobretudo entre jovens negros e comunidades vulneráveis (WHO, 2022). A perspectiva da interseccionalidade mostra que raça, gênero, classe e território interagem, agravando riscos e marginalizações.
Objetivos
Objetivo: Descrever as características epidemiológicas das vítimas por homicídios no estado de Pernambuco, no período de 2019 a 2023.
Metodologia
Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, com análise quantitativa dos óbitos por agressão (CID-10: X85–Y09) ocorridos em Pernambuco entre 2019 e 2023, segundo variáveis sexo, faixa etária, raça/cor da pele e local de ocorrência do óbito. Os dados foram extraídos do Tabnet/DATASUS, e sua análise consistiu no cálculo das frequências absolutas e relativas dos óbitos, segundo variáveis selecionadas e causas básicas de morte classificadas pela CID-10, além da estimativa das taxas de mortalidade por homicídio.
Resultados
Resultados: Foram registrados 17.617 homicídios no período analisado, os quais ocorreram predominantemente em pessoas do sexo masculino, totalizando 16.601 (93,2%) óbitos, enquanto 1.187(6,7%) eram indivíduos do sexo feminino. Em relação à faixa etária, 6.888 (38,7 %), mortes ocorreram em indivíduos entre 20 e 29 anos e 4.161 (23,4 %) óbitos foram registrados no grupo de de 30 a 39 anos. Desses, o grupo pretos e pardos concentrou 14.901 óbitos, 83,6% do total. Além disso, 9.070 dos óbitos (50,9 %) ocorreu em via pública.
Conclusões/Considerações
Conclusão: A análise demonstra que a violência letal em Pernambuco atinge de forma contundente homens jovens negros, o que exige ações intersetoriais no campo da segurança pública, justiça, educação e saúde. O enfrentamento ao racismo estrutural deve ser reconhecido como um imperativo ético e político nas estratégias de promoção da equidade em saúde e redução da violência no Brasil.
AS REPRESSÕES DO CUIDADO EM SAÚDE: ENTRE PRÁTICAS DE ACOLHIMENTO E REPRODUÇÃO DO SOFRIMENTO
Pôster Eletrônico
1 UEG (Universidade Estadual de Goiás)
2 UFG (Universidade Federal de Goiás)
Período de Realização
De 2025 até o presente momento.
Objeto da experiência
Formação universitária crítica em serviços hospitalares.
Objetivos
Este trabalho propõe reflexões a partir da experiência de estágio em saúde, com foco em contextos hospitalares, problematizando a formação em Psicologia e defendendo uma atuação crítica, contrária a lógicas excludentes, patologizantes e reducionistas, históricas na Psicologia e na formação do profissional.
Metodologia
A experiência vivenciada abarcou a atuação em dois serviços hospitalares, sendo a Internação Prolongada e o Serviço de Atendimento Domiciliar. As intervenções psicológicas buscaram minimizar o sofrimento provocado pela hospitalização, institucionalização e desospitalização, processos que frequentemente expõem os pacientes (majoritariamente idosos e pacientes crônicos) a diferentes formas de violência institucional e social, agravando seu adoecimento e vulnerabilidade.
Resultados
O trabalho realizado mostra-se fundamental para uma compreensão ampliada do processo saúde-doença, evidenciando a Psicologia como agente de humanização, que busca propor uma escuta sensível, reconhecendo singularidades dos sujeitos e rompendo com lógicas fragmentadas, biomédicas e reducionistas. Contudo, observa-se limitações institucionais em reconhecer o sujeito como ser multidimensional, atravessado e transformado por condições históricas, econômicas, políticas e materiais que o constituem.
Análise Crítica
A experiência mostra a urgência de uma formação crítica e ética em saúde, sobretudo no contexto hospitalar. É vital ver o adoecimento além do biologicismo, focando na determinação social da saúde. Ignorar esse aspecto tem perpetuado violências no acompanhamento de pacientes, em especial os que estão em vulnerabilidade socioeconômica. Assim, intervenções psicológicas descontextualizadas podem revitimizar, pois reduzem o sofrimento a algo interno, negligenciando as causas sociais da doença.
Conclusões e/ou Recomendações
A formação continuada deve ser reconhecida como dimensão estratégica na formação em saúde, integrando ferramentas de cuidado integral, assistência contextualizada em políticas públicas e transformação social. Reforça-se a necessidade da criação de espaços de trocas multidisciplinares e multiprofissionais fortalecendo práticas interdisciplinares, antidiscriminatórias e comprometidas com os Direitos Humanos.
CAMPANHA ZERO GRAVIDEZ NA INFÂNCIA - INFORMAÇÃO E ARTICULAÇÃO SOCIAL
Pôster Eletrônico
1 Secretaria de Saúde de Sergipe
2 Comitê Estadual de Enfrentamento a Violência Sexual de Crianças e Adolescentes,
3 Associação Sergipana de Doulas
4 Defensoria Pública do Estado de Sergipe
5 Rede Solidária de Mulheres de Sergipe
6 IBDFAM - Instituto Brasileiro de Direito de Família
Período de Realização
Fevereiro a maio de 2025
Objeto da experiência
Elaboração e lançamento da Campanha Zero Gravidez na Infância para enfrentar violências sexuais contra crianças e adolescentes resultando em gravidez
Objetivos
Dar notoriedade à gestação de menores de 14 anos enquanto estupro de vulnerável, com presunção absoluta de violência sexual, segundo Código Penal e Estatuto da Criança e Adolescente. Envolver representantes do Sistema de Garantia de Direitos. Zerar índices de gravidez em crianças em Sergipe até 2030
Metodologia
A partir de recomendações do 2º Fórum Violências de Gênero e Intercessões com o Ciclo Gravídico-Puerperal, em novembro/24, o Comitê Estadual de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal/CEPMMIF desencadeou uma ação de mobilização social: enfrentar a alarmante natalidade em menores de 14 anos. Assim, com a articulação de diversos atores sociais, foi elaborada a Campanha Zero Gravidez na Infância, cujo marco político de lançamento ocorreu na Universidade Federal de Sergipe, em maio/25.
Resultados
Elaboração e divulgação de identidade visual própria; carta de apresentação; cartilha Aborto Legal, pela Defensoria Pública de Sergipe para suporte jurídico a profissionais; folder educativo para a sociedade inspirada em depoimentos de mulheres de comunidades vinculadas à Rede Solidária de Mulheres. Mobilização social para debate sobre a situação epidemiológica estadual. Proposição de ações para o fortalecimento da rede estadual de proteção social, especialmente na assistência à saúde.
Análise Crítica
A existência de dispositivos de participação social no SUS, como o CEPMMIF, possibilita o enfrentamento de problemas complexos. Entretanto, isso só foi possível pois partimos de um conceito ampliado de saúde enquanto acesso a direitos sexuais e reprodutivos e ação coletiva resultante da articulação de diversos setores sociais para enfrentar as consequências do machismo estrutural que normaliza violências sexuais contra meninas, sobretudo mais vulnerabilizadas socialmente.
Conclusões e/ou Recomendações
Espaços de participação social no SUS precisam ser fomentados para que o monitoramento da situação de saúde seja feito por toda a sociedade, não somente entre tecnoburocracia e gestores. No caso violência sexual, lidamos com tabus culturais que demandam ações coletivas de educomunicação permanentes, garantindo a participação e entendimento das meninas, além de investimentos em mudanças na formação e atualização profissional.
MAUS-TRATOS INFANTIS E COMPOSIÇÃO CORPORAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DAS EVIDÊNCIAS DISPONÍVEIS
Pôster Eletrônico
1 USP
Apresentação/Introdução
Maus-tratos infantis envolvem abusos e negligências contra menores de 18 anos. Além de seus efeitos na saúde mental e comportamental, têm sido apontados como fator de risco para obesidade. Porém, a maioria dos estudos considera apenas o índice de massa corporal como indicador de adiposidade, havendo lacunas quanto aos efeitos na composição corporal (CC), mais precisa na predição de riscos à saúde.
Objetivos
O objetivo desta revisão foi avaliar criticamente as evidências disponíveis sobre a associação entre experiências de maus-tratos infantis e indicadores detalhados de CC ao longo da vida.
Metodologia
A busca nas bases PubMed, ScienceDirect, LILACS, PsycINFO, SciELO e Scopus incluiu artigos originais publicados até 24 de setembro de 2024. Foram selecionados estudos que avaliaram maus-tratos infantis como exposição e medidas de CC como desfecho em qualquer faixa etária, publicados em qualquer idioma. A estratégia utilizou o acrônimo PICO (População: children/adolescente; Exposição/Intervenção: childhood maltreament; Comparação: individuals who have not suffered child maltreatment; e Desfecho: body composition). A triagem foi realizada no Rayyan, conforme as recomendações do PRISMA e os metadados extraídos e organizados no Excel. A revisão foi registrada no PROSPERO (CRD42024581666).
Resultados
Entre os 8.288 estudos localizados, nove (seis transversais e três coortes) atenderam aos critérios de inclusão. A maioria (8 estudos) foi realizada em países de alta renda e os desfechos avaliados na idade adulta (5 estudos). As amostras variaram de 75 a 26.615 indivíduos. Houve grande variabilidade nas formas de avaliar os maus-tratos e nas medidas de CC. Seis estudos encontraram associação positiva entre maus-tratos e piores desfechos de CC, como maior gordura corporal total e visceral, sendo que dois mostraram diferenças por sexo. O abuso físico foi o tipo de maus-tratos mais frequentemente associado aos desfechos. Nos outros três estudos, maus-tratos infantis não foram associados à CC.
Conclusões/Considerações
Os resultados observados destacam a importância de aprofundar o conhecimento sobre a relação entre os maus-tratos infantis e CC, principalmente em países de baixa e média renda, onde as taxas de violência são mais altas. Estudos longitudinais podem ajudar a compreender melhor os efeitos específicos dos tipos de maus-tratos infantis sobre a CC e prever desfechos em saúde associados, além de apoiar ações para prevenir os maus-tratos na infância.
A COR DO FOGO QUE MATA NA BAHIA: UMA ANÁLISE TEMPORAL SOBRE HOMICÍDIOS POR QUEIMADURAS ENTRE 2013 E 2023
Pôster Eletrônico
1 UFRB
Apresentação/Introdução
As queimaduras são classificadas, como térmicas, elétricas e outras queimaduras. As agressões interpessoais por queimaduras, que resultaram em óbito, correspondem a CID 10 específicos, distinguindo-os das causas indeterminadas (Y25-Y29) ou autoinflingidas (X76-X77). Não existem dados específicos sobre homicídios por queimaduras em negros no Brasil, evidenciando o racismo estrutural.
Objetivos
Analisar o perfil, a tendência temporal e a incompletude do preenchimento dos homicídios por queimaduras segundo o quesito cor da pele, na Bahia, Brasil, entre 2013 e 2023.
Metodologia
Trata-se de um estudo ecológico. Foram analisadas taxas de mortalidade, através dos dados sobre Mortalidade (SIM/SUS) e Censo Demográfico de 2022 do IBGE, entre 2013 e 2023, no estado da Bahia. As variáveis foram: raça/cor, local de residência, ano do óbito, causa básica de óbito relacionada a natureza dos agentes etiológicos classificadas segundo CID 10 (X86 susbstãncias corrosivas, X88 gases e vapores, X96 material explosivo, X97 fumaça, fogo e chamas e X98 vapor de água, gases ou objetos quentes). Os dados foram tabulados por meio do Tabnet. Foram excluídas todas as causas classificadas como morte acidental. A incompletude do dado raça/cor foi examinada em proporção de subnotificação.
Resultados
Na Bahia, no período de 2013 a 2023, ocorreram 227 óbitos por agressões letais por queimaduras, a taxa de mortalidade foi de 17,6/100 mil hab. em 2013 e 14,8/100 mil hab. em 2023. No que tange às taxas de mortalidade, nota-se que houve uma pequena redução entre 2013 e 2023. A taxa de mortalidade por agressões letais por queimaduras em brancos no ano de 2013 foi 7,2/100mil hab. e em negros (pretos e pardos) foi 15,9/100mil hab. Em 2023 não houve registros de óbitos em pessoas brancas, e em negros foi de 18,6/100mil hab. Observou-se redução na proporção de incompletude no quesito cor da pele dos anos 2013 e 2023, de 20% para 0%.
Conclusões/Considerações
Os resultados obtidos demonstram uma redução de mortes gerais entre os dois anos analisados e uma notória melhoria na completude do dado raça/cor. Nota-se, entanto, o aumento no número de mortes de negros em relação a brancos. Estes achados evidenciam o racismo estrutural nas condições que afetam os resultados de saúde da população negra, considerando as desigualdades sociais e iniquidades raciais como dimensões relevantes para sua análise.
A DETERMINAÇÃO DE INTERSETORIALIDADE EM NORMAS FEDERAIS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL CONTRA MULHERES NO BRASIL
Pôster Eletrônico
1 FMUSP
Apresentação/Introdução
Apresenta-se parte da pesquisa que resultou no mestrado realizado e orientado pelas autoras. Investigou-se a articulação entre os Campos da Saúde e Jurídico, a partir de normas que tratam sobre violência doméstica e sexual contra mulheres no Brasil, e aborto. Examinou-se a presença/ausência de determinações para atuação de forma intersetorial pelos(as) agentes dos campos estudados.
Objetivos
Objetivou-se examinar normas federais verificando se haveria menção expressa à atuação em rede intersetorial pelos serviços e agentes, especialmente aqueles que compõem os Campos da Saúde e Jurídico.
Metodologia
A base de dados utilizada foi a Seção 1 do Diário Oficial da União, entre 2002 e 2016, contemplando publicações anteriores e posteriores à Lei Maria da Penha. Nas normas selecionadas, foram buscados termos que fizessem referência à atuação conjunta entre agentes e serviços de ambos os campos, utilizando o conceito de rede intersetorial.
Sobre a base supramencionada foi aplicada uma rotina em Python para automatização da aplicação de termos de busca e geração de tabelas por ano em Excel, resultando em 15 tabelas. Novos filtros foram aplicados manualmente para chegar em 178 normas, as quais foram analisadas a partir da ferramenta metodológica de Análise de Conteúdo.
Resultados
O número de normas publicadas sobre o tema aumentou gradualmente dentro do recorte temporal. 42,13% foram portarias, muitas delas de órgãos federais dedicados a assuntos das mulheres, mas também de ministérios, como o Ministério da Saúde, responsável por 25,84%. Grande maioria das normas mobilizou apenas um campo. Quando mencionavam mais de um serviço, costumava ser outro do próprio setor.
Conclusões/Considerações
Fatores como fortalecimento dos movimentos sociais, criação de políticas públicas e órgãos próprios, aumento do interesse acadêmico sobre o tema, dentre outros, contribuíram para que parte das normas ficassem mais intersetoriais ao longo do tempo, mesmo que timidamente. A articulação, em sua maioria, aconteceu somente entre órgãos jurídicos ou entre órgãos da saúde (intrasetorialidade).
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE PESSOAS IDOSAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA NA CIDADE DE SÃO PAULO: UM ESTUDO BASEADO EM DADOS DO SINAN ENTRE 2016 E 2023
Pôster Eletrônico
1 Universidade Santo Amaro
Apresentação/Introdução
A violência contra a pessoa idosa (VCPI) é um problema crescente de saúde pública que compromete a qualidade de vida na velhice. Além de agravos físicos e psicológicos, gera impactos sociais e econômicos relevantes, com aumento da demanda por serviços de saúde e assistência.
Objetivos
Identificar e descrever as características sociodemográficas de pessoas idosas vítimas de violência na cidade de São Paulo entre os anos de 2016 e 2023.
Metodologia
Estudo exploratório e descritivo baseado em dados secundários do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN-Net), da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Foram analisadas notificações de VCPI (60 anos e mais) registradas entre 2016 e 2023. As variáveis consideradas foram: faixa etária, sexo, raça/cor, escolaridade e situação conjugal, organizadas por Coordenadorias Regionais de Saúde e agrupadas em dois quadriênios: 2016–2019 e 2020–2023. Os dados foram processados e organizados em tabelas e gráficos descritivos, permitindo a análise do perfil das vítimas e das possíveis mudanças ao longo dos dois períodos avaliados.
Resultados
Entre 2016 e 2023, São Paulo notificou 18.005 casos de violência contra idosos, com aumento no segundo quadriênio (11.072) frente ao primeiro (6.933). A Coordenadoria Sul liderou em registros. A faixa etária mais afetada foi 60–64 anos (32,5%), seguida de 65–69 (21,9%). Mulheres foram maioria (61,5%), exceto na Coordenadoria Centro. Entre as vítimas, 27,1% eram casadas/união consensual e 20,4% viúvas. Declararam-se brancas (40,9%) ou pardas (38,7%), com ensino médio completo (17,9%) ou fundamental incompleto (10,6%). Idosas estão mais vulneráveis, possivelmente por maior longevidade e dependência financeira ou emocional.
Conclusões/Considerações
A VCPI expressa desigualdades sociais, de gênero e geracionais, exigindo respostas integradas e específicas. O predomínio de mulheres entre as vítimas aponta vulnerabilidades associadas à longevidade e à dependência econômica e afetiva. Os dados apresentados reforçam a necessidade de políticas públicas eficazes de prevenção, proteção e promoção de um envelhecimento seguro e livre de violências.
TEMATIZANDO A VIOLÊNCIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - ATUAÇÃO, ARTICULAÇÃO E FORTALECIMENTO EM REDE
Pôster Eletrônico
1 FMUSP
Período de Realização
Relato referente ao mês de maio de 2025 do primeiro ano da Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva.
Objeto da experiência
Oficina realizada pelo Núcleo de Prevenção à Violência (NPV) do Centro de Saúde Escola Samuel Barnsley Pessoa (CSEB).
Objetivos
Descrever a organização e realização da oficina intitulada "Violência na Atenção Primária à Saúde" a partir da elucidação da metodologia de Conflitos Familiares Difíceis (CONFAD), bem como compreender as potencialidades do espaço de discussão para a Rede de Atenção à Saúde.
Descrição da experiência
A oficina buscou alinhar conhecimentos e vivências dos membros dos NPV’s das Unidades Básicas de Saúde (UBS) da Supervisão Técnica de Saúde Butantã. Coletou-se informações dos serviços participantes por meio de um formulário eletrônico, obtendo assim dados importantes para o entendimento das particularidades de atuação. Discutiu-se sobre os tipos de violência, a abordagem à pessoa em situação de violência na Atenção Primária à Saúde e a necessidade de espaços para sensibilização da rede.
Resultados
Como atividade mediadora realizou-se o jogo "No Lugar Dela", prática educativa e reflexiva sobre as rotas críticas de mulheres expostas à violência doméstica de gênero. Profissionais de diversas categorias estiveram presentes e compartilharam dificuldades de cada unidade frente à insuficiência de reuniões de equipe e de formação continuada. Os conteúdos geraram discussões sobre os fluxos intra e intersetoriais e a importância do entendimento integral da articulação em rede, formal e/ou informal.
Aprendizado e análise crítica
A oficina foi avaliada como potente encontro formativo, marcado por organização e qualidade, sendo fortalecedor da articulação em rede. Durante a oficina foi pontuado que espaços relacionais dos NPV’s da região oeste do município de São Paulo não têm ocorrido, fragilizando a atuação de cada núcleo. Ademais, um desmonte das políticas públicas é explicitado enquanto desmobilizador de espaços de construção coletivos, expondo um contexto de precarização do trabalho em saúde.
Conclusões e/ou Recomendações
Em suma, a realização da oficina demarca a necessidade de fortalecer a articulação coletiva em rede. A violência enquanto problema de saúde pública mundial traz consequências não somente individuais, como também profundos impactos sociais. Assim, nota-se o interesse dos participantes desta oficina de que outros momentos formativos, em que a troca de experiências e a sensibilização são pilares, ocorram.
O NÚCLEO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E A METODOLOGIA DE CONFLITOS FAMILIARES DIFÍCEIS (CONFAD): UM ESPAÇO FORMATIVO E INTERPROFISSIONAL PARA ATUAÇÃO DAS RESIDÊNCIAS EM SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 FMUSP
Período de Realização
Relato referente ao primeiro ano da Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva, no ano de 2025.
Objeto da experiência
O Núcleo de Prevenção à Violência (NPV) e a metodologia de Conflitos Familiares Difíceis (CONFAD) enquanto eixo formativo de residências em saúde.
Objetivos
Descrever a experiência formativa das residentes em estágio no Núcleo de Prevenção à Violência, salientando a importância deste como espaço multiprofissional, a partir de uma prática colaborativa interprofissional, promovendo uma abordagem biopsicossocial da violência na Atenção Primária à Saúde.
Descrição da experiência
O NPV pertencente ao Centro de Saúde Escola Samuel Barnsley Pessoa (CSEB) possui uma metodologia denominada “CONFAD”, que promove o atendimento de pessoas em situação de violência, realizando matriciamento de casos e articulação em rede, além de valorizar a construção de um espaço de educação permanente e continuada. Recebe estudantes de graduação e pós-graduação, sendo importante eixo de atuação interprofissional da Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva e Atenção Primária.
Resultados
O estágio no NPV propicia a valorização e o entendimento da articulação em rede dos casos de violência, fortalecendo a abordagem interprofissional e intersetorial. A metodologia CONFAD viabiliza o olhar a partir da perspectiva de gênero e direitos humanos, promovendo o cuidado integral e não julgador, sendo essa experiência fundamental para profissionais de saúde, fomentando atendimentos mais acolhedores e efetivos que valorizam a escuta ativa, a validação do relato e a decisão compartilhada.
Aprendizado e análise crítica
A experiência destaca a importância da formação continuada e da sensibilização dos profissionais em formação para romper com a invisibilidade da violência nos serviços de saúde. Enquanto base da atuação no NPV, os princípios como privacidade, não vitimização e decisão compartilhada são fundamentais para o estabelecimento de vínculos com os usuários. Ademais, nota-se a necessidade do fortalecimento das redes de atenção à saúde e intersetoriais para sustentabilidade dessas ações.
Conclusões e/ou Recomendações
O NPV/CONFAD se configura como espaço indispensável para a formação de residentes, integrando princípios éticos e técnicos no cuidado à violência. Ressalta-se a importância da abordagem de gênero e dos marcadores sociais da diferença, com escuta qualificada e ações intersetoriais como ação transformadora, visando superar barreiras e consolidar práticas de acolhimento e enfrentamento à violência na Atenção Primária à Saúde.
PRÁTICAS EDUCATIVAS COM ADOLESCENTES PARA A PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA: ATUAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BRASIL, 2019 A 2023
Pôster Eletrônico
1 UnB
2 Ministério da Saúde
Apresentação/Introdução
A violência entre adolescentes representa um grave problema de saúde pública e reflete a ausência de estratégias efetivas de prevenção e promoção da cultura de paz. A atuação das equipes de Saúde da Família (eSF) pode contribuir significativamente nesse contexto, a partir da oferta de atividades coletivas territorializadas.
Objetivos
Descrever a realização de atividades coletivas de prevenção da violência e promoção da cultura de paz voltadas a adolescentes pelas eSF entre 2019 e 2023 no Brasil.
Metodologia
Estudo quantitativo e descritivo com uso de dados secundários obtidos no Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (Sisab). Foram analisados os registros de atividades coletivas voltadas ao público adolescente, promovidas pelas equipes de Saúde da Família no período de 2019 a 2023, direcionadas à prevenção da violência, segundo ano de realização e distribuição por grandes regiões brasileiras. As atividades compreendiam ações de educação em saúde, mobilização social, atendimento em grupo, diagnóstico territorial, reuniões intersetoriais e projetos terapêuticos singulares, todas monitoradas pela plataforma Sisab.
Resultados
Foram registradas 58.818 atividades coletivas voltadas à prevenção da violência e promoção da cultura da paz para adolescentes. O ano de 2023 apresentou maior volume de ações (33,6%), e a Região Nordeste liderou em número de registros (36,5%). Observou-se redução significativa em 2020, associada à pandemia de Covid-19, com retomada progressiva a partir de 2021. As atividades demonstraram diversidade metodológica e importante capilaridade territorial, indicando o protagonismo das equipes de Saúde da Família na atuação preventiva com adolescentes.
Conclusões/Considerações
A atuação das equipes de Saúde da Família demonstra efetividade na prevenção da violência entre adolescentes por meio de ações coletivas que promovem cultura de paz. O uso de ferramentas como o Sisab permite monitoramento contínuo e avaliação do impacto dessas ações. A intersetorialidade e o vínculo com o território são fundamentais para o enfrentamento da violência e fortalecimento de políticas públicas de juventude.
VIGILÂNCIA DAS VIOLÊNCIAS EM RONDÔNIA: AVANÇOS, DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DA CULTURA DE PAZ NO CONTEXTO DA SAÚDE PÚBLICA
Pôster Eletrônico
1 AGEVISA
Apresentação/Introdução
A violência é um grave problema de saúde pública e uma violação de direitos humanos. Em Rondônia, observa-se aumento nas notificações, reflexo de maior sensibilização e da ampliação das ações de vigilância. Contudo, ainda há desafios relacionados ao sub-registro, à qualificação dos dados e à resposta intersetorial.
Objetivos
Analisar a evolução das notificações de violências interpessoais e autoprovocadas no estado de Rondônia no período de 2015 e 2024, caracterizando os tipos mais frequentes, o perfil das vítimas e os avanços e desafios da vigilância em saúde.
Metodologia
Estudo descritivo, documental e retrospectivo, baseado em dados secundários dos sistemas oficiais de informação: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). Foram analisadas notificações de violência interpessoal e/ou autoprovocada de residentes em Rondônia no período de 2015 a 2024 e dados de óbitos por homicídios (2022–2024). A qualidade do preenchimento foi avaliada com base no PQAVS, com atenção às variáveis críticas. Os dados foram organizados por ano, região de saúde, perfil sociodemográfico das vítimas e locais de ocorrência, considerando os marcos normativos da Portaria GM/MS nº 104/2011 e recomendações da OMS.
Resultados
Em 2024, registraram-se 2.435 notificações, sendo 68,67% do sexo feminino, 71,68% negras e 38,03% com deficiência ou transtorno. O número de unidades notificadoras subiu de 152 (2023) para 160 (2024). O campo raça/cor superou a meta do PQAVS, com 98% de preenchimento. As violências autoprovocadas femininas corresponderam a 37,25%, com histórico de recorrência em 53,56% dos casos. Homicídios por arma de fogo (2022–2024) totalizaram 1.060 óbitos, afetando jovens negros (20 a 29 anos), com baixa escolaridade. Destacam-se avanços em capacitações, seminários e integração entre setores.
Conclusões/Considerações
A vigilância das violências em Rondônia apresenta avanços importantes, como o aumento das notificações e a qualificação dos dados. Ainda há desafios no sub-registro e na análise de motivações. O perfil das vítimas revela vulnerabilidades estruturais. Reforça-se a necessidade de políticas públicas integradas, ações intersetoriais e estratégias educativas para promoção da cultura de paz.
PARTO PRECÁRIO: A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA COMO EXPRESSÃO DA MARGINALIZAÇÃO DE MULHERES QUE FAZEM USO DE DROGAS
Pôster Eletrônico
1 Instituto Aggeu Magalhães/ Fiocruz PE
Apresentação/Introdução
A violência obstétrica é caracterizada por ações de profissionais da saúde, familiar ou acompanhante, no ciclo gravídico-puerperal, que causam danos físicos, psicológicos, sexuais à quem gesta, bem como ao bebê. É uma violação aos direitos humanos e direitos sexuais e reprodutivos, são mais evidentes àquelas que fazem uso de drogas, considerando o cruzamento entre gênero, estigma e a precariedade.
Objetivos
Buscamos, por meio desse trabalho, identificar as experiências de violência obstétrica das mulheres que fazem uso de drogas.
Metodologia
Esse estudo foi guiado pela abordagem qualitativa através de entrevistas semiestruturadas realizadas com mulheres que frequentaram um Centro de Convivência de Redução de Danos e em um Centro de Acolhimento Intensivo Mulher do Programa Atitude em uma das bases territoriais localizadas no Nordeste do Brasil entre setembro de 2024 e maio de 2025. Para análise dos dados, utilizamos a perspectiva hermenêutica como sugerida por Creswell (2010) obtenção dos dados brutos; Organização e preparação dos dados para análise; Leitura completa dos dados; Codificação dos dados; Construção de temas e descrição; Interrelacionamento dos temas/descrição; Interpretação dos significados.
Resultados
Foram analisadas seis entrevistas, sendo três do Centro de Convivência de Redução de Danos e três do Centro de Acolhimento Intensivo. A média de idade das interlocutoras foi de 38,6 anos, pardas, estudaram até o ensino fundamental, desempregadas e todas viveram em situação de rua. Das violências relatadas evidenciam-se a falta de analgesia, episiotomia, falta de informação sobre as maternidades, separação imediata mãe-bebê, atendimento desumanizador como exposto: “A médica com raiva, porque eu disse a ela que tava drogada, ela botou a mão dentro de mim três vezes assim no cru. Daí eu tive uma hemorragia. Minha hemorragia foi muito grande. [...] Só me acordei depois de cinco dias".
Conclusões/Considerações
A violência obstétrica em mulheres que usam drogas evidencia o estigma e negação de direitos no momento do parto, revelando um olhar marcado por preconceitos que agravam a precariedade dessas vidas e comprometem a dignidade no nascer. É urgente compreender as especificidades dessas vivências para que esse cenário seja modificado através da construção de uma rede interseccional, pautada na redução de danos como horizonte ético-político do cuidado.
PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL APLICADO À VIGILÂNCIA DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER POR PARCEIRO ÍNTIMO
Pôster Eletrônico
1 UERJ
2 UNESA
Apresentação/Introdução
A violência contra a mulher por parceiro íntimo (VPI) é um problema de saúde pública persistente e subnotificado. Avanços da digitalização na saúde e da Inteligência Artificial (IA), abrem possibilidades para fortalecer a vigilância e a resposta a esse agravo. O Processamento de Linguagem Natural (PLN), ramo da IA voltado à análise automática de linguagem humana, surge como ferramenta promissora.
Objetivos
Analisar, com base na literatura, os desafios da vigilância da VPI e discutir o potencial do uso do PLN como ferramenta complementar de detecção a partir de campos de texto livre de registros.
Metodologia
Trata-se de uma análise teórica baseada em revisão bibliográfica, priorizando documentos de organismos oficiais (MS, OMS, CDC), marcos legais e estudos publicados nos últimos 10 anos, com foco em violência contra a mulher, subnotificação, avanços dos registros clínicos e técnica de PLN aplicadas à saúde.
Resultados
Parte dos casos de violência não é formalmente notificada. Campos de texto livre dos prontuários eletrônicos, contêm narrativas que podem indicar situações de violência. Estudos recentes indicam que o uso do PLN pode ampliar significativamente a detecção desses casos. O uso de modelos de PLN baseados em regras apresentou eficiência > 89% na identificação de VPI em registros policiais e 99,5% de precisão na detecção de casos em narrativas clínicas. A análise semântica de dados clínicos de mulheres detectou situação de violência 90 dias antes da data da notificação. Esses achados reforçam a viabilidade do PLN como ferramenta estratégica para complementar a vigilância epidemiológica.
Conclusões/Considerações
O uso do PLN se apresenta como estratégia promissora para enfrentar as limitações da vigilância da violência contra a mulher por parceiro íntimo. A análise automatizada de registros clínicos pode contribuir para visibilizar situações ocultas, apoiar a tomada de decisão e fortalecer o cuidado. É fundamental avançar na incorporação ética e qualificada dessa prática na vigilância em saúde.
PRÉ-NATAL EM MENINAS ABAIXO DE 14 ANOS: ENTRE A NEGLIGÊNCIA CIENTÍFICA E A ESCASSEZ DE DIRETRIZES EM GESTAÇÕES RESULTANTES DE VIOLÊNCIA SEXUAL PRESUMIDA
Pôster Eletrônico
1 UFU
Apresentação/Introdução
Segundo dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, entre 2010 e 2019 mais de mil meninas entre 10 e 14 anos tiveram filhos nascidos vivos. Muitas dessas realizam o pré-natal, no entanto, a violência sexual sofrida, assim como outras especificidades, não é considerada durante o acompanhamento, fatores que merecem maior atenção da atenção primária em saúde e da produção científica.
Objetivos
O objetivo deste trabalho consiste na compreensão do funcionamento e alcance do pré-natal no Brasil em meninas menores de 14 anos, pautado em diretrizes e na produção científica atual sobre o assunto.
Metodologia
Revisão integrativa guiada pela questão: “Como as diretrizes e a literatura científica têm abordado o pré-natal em meninas menores de 14 anos no Brasil?”. Realizou-se busca ativa quanto às diretrizes legais e revisão de literatura com descritores no DeCS e MeSH, nos idiomas português, inglês e espanhol, a saber: “Cuidado Pré-Natal” e “Gravidez na Adolescência”. A busca dos artigos científicos foi realizada nas bases: Lilacs, PubMed e Scopus. Foram incluídos artigos completos publicados no período entre 2009 e 2024. Como critérios de exclusão: artigos duplicados e/ou indisponíveis ou não pertinentes à temática. A triagem e elegibilidade foram conduzidas no Rayyan QRCI.
Resultados
A Nota Técnica nº 2/2025 destaca-se quanto a orientações específicas para o pré-natal de menores de 14 anos, enfatizando busca ativa, acolhimento sem exigência de autorização, confidencialidade, contracepção acessível e atuação intersetorial. Dos 804 artigos encontrados, cinco foram incluídos, evidenciando escassez de estudos sobre o tema. A literatura mostra início tardio do pré-natal e menor número de consultas entre vítimas de estupro. Notam-se desigualdades regionais, raciais e socioeconômicas, sobretudo em jovens indígenas. Modelos grupais baseados na Estratégia de Maternidade e Maternagem de Promoção (EMMP), demonstram potencial para mitigar riscos obstétricos em meninas mães.
Conclusões/Considerações
Percebe-se carência de diretrizes e artigos que discutam o pré-natal específico para a faixa etária “menores de 14 anos”, prejudicando a análise do alcance do pré-natal nessa população. A sobreposição de desigualdades culmina no pré-natal tardio. A escassez de abordagens específicas no cuidado pré-natal voltado a essas meninas mães evidencia uma lacuna assistencial relevante, que desconsidera vulnerabilidades inerentes a essa faixa etária.
A IMPLEMENTAÇÃO DO EIXO DE PROMOÇÃO DA CULTURA DE PAZ, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO
Pôster Eletrônico
1 Instituto de Saúde - SES/SP
Apresentação/Introdução
A pesquisa analisa a implementação do eixo 4 do PSE em Francisco Morato (SP), focando na promoção da cultura de paz, cidadania e direitos humanos nas escolas. Questiona a redução dessa promoção à prevenção da violência, propondo um olhar ampliado e intersetorial entre saúde e educação para formar sujeitos autônomos e conscientes.
Objetivos
Analisar a implementação do eixo de Cultura de Paz, Direitos Humanos e Cidadania do PSE em Francisco Morato, por meio do discurso de atores da saúde, educação e estudantes, mapeando ações intersetoriais e métodos de avaliação
Metodologia
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório-descritivo, realizada em Francisco Morato (SP), em parceria com a Prefeitura e a Secretaria de Saúde. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com sete profissionais da saúde e educação, além de uma roda de conversa com 15 estudantes de escola estadual. A coleta de dados utilizou roteiros específicos e atividades participativas, explorando percepções, experiências e sugestões sobre o eixo 4 do PSE, gerando subsídios para compreender os sentidos atribuídos à cultura de paz.
Resultados
As análises revelaram fragilidade na definição conceitual do eixo 4 do PSE entre os profissionais, predominando compreensões reducionistas associadas à ausência de violência. Observou-se escassez de planejamento, registros e avaliações sistematizadas. As gestoras apontaram dificuldades como falta de capacitação, ausência de apoio intersetorial e baixa mobilização comunitária. Em contraste, os estudantes demonstraram grande potencial reflexivo, propondo ações efetivas para ambientes escolares mais justos. Houve também diferentes percepções sobre o papel da escola na promoção da paz, sendo a segurança física e o diálogo os temas mais recorrentes.
Conclusões/Considerações
A promoção da cultura de paz exige planejamento, definição conceitual, capacitação e maior articulação intersetorial. A escola é espaço estratégico para fomentar cidadania e justiça social. Investir em educação para os direitos humanos é essencial para fortalecer a saúde coletiva e prevenir desigualdades.
VIOLÊNCIA PSICO-MORAL NO TRABALHO E SUAS IMPLICAÇÕES NA SAÚDE MENTAL: ANÁLISE QUALITATIVA E EPIDEMIOLÓGICA NO ESTADO DE RONDÔNIA, BRASIL 2020–2024
Pôster Eletrônico
1 AGEVISA
Apresentação/Introdução
A violência psico-moral no trabalho é um grave problema de saúde pública, caracterizado por abusos repetidos que afetam a saúde mental e o ambiente laboral. Em Rondônia, aumentaram os casos notificados entre 2020 e 2024, destacando a necessidade de estratégias institucionais para enfrentamento e prevenção, fundamentadas em dados epidemiológicos e relatos qualitativos.
Objetivos
Analisar a ocorrência da violência psico-moral no trabalho em Rondônia, descrevendo o perfil das vítimas, fatores institucionais associados e propondo estratégias de prevenção baseadas em evidências qualitativas e dados oficiais
Metodologia
Estudo qualitativo, descritivo e exploratório, com análise epidemiológica dos dados secundários do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) no período de 2020 a 2024. Foi realizada revisão sistematizada da literatura sobre violência psico-moral e saúde mental ocupacional. Realizaram-se entrevistas semiestruturadas com gestores, profissionais de recursos humanos e servidores expostos à violência psico-moral. Os dados qualitativos foram analisados por Análise de Conteúdo temática, e os dados epidemiológicos categorizados para correlação dos achados.
Resultados
A violência psico-moral esteve associada a lideranças autoritárias, ausência de escuta, sobrecarga e desvalorização do servidor. Foram 52 notificações: 1 (1,9%) em 2020, 6 (11,5%) em 2021, 8 (15,4%) em 2022, 30 (57,7%) em 2023 e 7 (13,5%) em 2024. Mulheres representaram 82,7%, principalmente jovens de 20 a 39 anos com ensino médio. Os relatos indicaram medo, adoecimento mental e evasão funcional. Estratégias incluem formação ética, canais de denúncia protegidos, escuta ativa e ambientes acolhedores.
Conclusões/Considerações
Em suma, a violência psico-moral afeta a saúde mental e o clima organizacional. Urge implementar ações institucionais que priorizem gestão ética, proteção ao denunciante, vigilância das violências e promoção de ambientes laborais saudáveis. Escuta qualificada e valorização do trabalhador são essenciais para prevenir essa violência institucional.
“RIOS, PONTES E OVERDRIVES” COMO CENÁRIOS DE PRÁTICAS DE VIOLÊNCIAS À MULHER COM EXPERIÊNCIA DE CONSUMO DE DROGAS
Pôster Eletrônico
1 Instituto Aggeu Magalhães da Fundação Oswaldo Cruz (IAM-Fiocruz/PE)
2 Centro Acadêmico de Vitória, Universidade Federal de Pernambuco
Apresentação/Introdução
As práticas de violências contra mulheres são expressões das determinações sociais da saúde e das desigualdades de gênero. Seus corpos são territórios de disputas de poder que buscam subalternizar memórias, experiências e trajetórias singulares. Assim, as mulheres estão expostas a maiores graus de vulnerabilidades, especialmente quando se trata daquelas com experiência de consumo de drogas.
Objetivos
Identificar os tipos de violências contra mulher com experiência de consumo de drogas e os impactos associados a um evento corporificado.
Metodologia
Pesquisa qualitativa de base etnográfica realizada no primeiro semestre de 2025 no Centro de Acolhimento Intensivo localizado numa capital do Nordeste brasileiro. Foram utilizadas entrevistas semiestruturadas em profundidade e observação participante. As informações foram analisadas com base na perspectiva hermenêutica, a partir do roteiro sugerido por Creswell. Elegeu-se um recorte da trajetória de vida de uma das acolhidas, aqui denominada de Voar. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Aggeu Magalhães da Fundação Oswaldo Cruz (Parecer nº 7.006.395).
Resultados
Voar é uma mulher parda de 36 anos, em situação de rua desde a infância, com experiência de consumo de cola e crack. Possui 3 filhos, é beneficiária do Bolsa Família e já transitou por diversos equipamentos socioassistenciais. Dentre os relatos que revelam intensa vulnerabilização, destacam-se as violências sofridas por um ex-companheiro. A exigência era que Voar arrumasse dinheiro para sustentar o consumo de drogas dele e, quando não conseguia, era espancada. “E aí esses negócios [práticas de violência] é tudo embaixo de maré, tudo embaixo de ponte, pra ninguém ver nada”. As violências eram do tipo física, psicológica e sexual e, em um dos episódios, ela estava grávida e sofreu aborto.
Conclusões/Considerações
A utilização da cidade como cenário para reflexão convoca as denúncias sociais elaboradas por Chico Science ao conectar progresso e abandono. É simbólico o exemplo de corpos vulneráveis que são arrastados para o mangue para serem violentados e descartados. Logo, o uso da interseccionalidade deve ser adotado como ferramenta analítica para subsidiar, sob o enfoque da redução de danos, a produção de itinerários de cuidados intersetorialmente.
MAIS QUE NÚMEROS - VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19, NO DISTRITO FEDERAL.
Pôster Eletrônico
1 Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas de Saúde da Escola de Governo Fiocruz – Brasília
2 Programa de Evidências para Políticas e Tecnologias de Saúde (PEPTS), Fundação Oswaldo Cruz, Brasília
3 Núcleo de Epidemiologia e Vigilância em Saúde, Fundação Oswaldo Cruz, Brasília
Apresentação/Introdução
O Brasil declarou Emergência em Saúde por Covid-19 em 3 de fevereiro de 2020. O isolamento aumentou o risco de violência contra crianças, agravado pelo estresse e queda na proteção institucional. As notificações de violência apresentaram redução de 71% comparando abril de 2020 ao mesmo período de 2019. Assim, qual foi o cenário da violência contra crianças na pandemia no Distrito Federal (DF)?
Objetivos
Analisar o perfil da violência interpessoal contra a criança no período de fevereiro de 2020 a abril de 2022, no Distrito Federal.
Metodologia
Estudo descritivo de notificações de violência interpessoal extraída da base de dados Sinan Net/DATASUS/MS. Foram incluídas crianças de 0 a 9 anos, de ambos os sexos, residentes no Distrito Federal, entre fevereiro/2020 e abril/2022. A análise contemplou características da vítima como sexo, faixa etária, raça/cor; da ocorrência (local) e da violência (tipo e recorrência).
Resultados
Foram identificados 1.182 casos, sendo 799 (67,6%) contra o sexo feminino. Nas faixas etárias, foram 114 (9,6%) em < 1 ano, 459 (38,8%) de 1 a 4 anos, e 656 (55,49%) de 5 a 9 anos. Sobre raça/cor, 331 (28%) eram pardos, no entanto 233 (19,71%) foram marcados como ignorado/em branco. A residência foi o local de maior ocorrência com 942 (79,69%) casos, a violência sexual foi prevalente com 717 (60,65%) notificações e a recorrência ocorreu em 561 (47,46%) casos. Nos 27 meses analisados, o menor patamar foi em abril de 2020, com de 17 fichas (1,43%) e o maior em setembro do mesmo ano com 70 notificações (5,92%).
Conclusões/Considerações
As principais vítimas de violências foram as crianças do sexo feminino, de 5-9 anos de idade e pardas. Grifa-se a importância da qualificação dos dados, considerando o alto número de “ignorado/em branco” na variável raça/cor. O local de ocorrência como residência e a alta recorrência destacam a vulnerabilidade deste ciclo de vida e solicitam ações de saúde pública a fim de contribuir para quebra do ciclo da violência e garantia de direitos.
VIOLÊNCIA NO DISTRITO FEDERAL: ANÁLISE CRÍTICA DAS INCONSISTÊNCIAS NAS FICHAS DE NOTIFICAÇÃO DESTE AGRAVO E ORIENTAÇÕES DO PREENCHIMENTO CORRETO.
Pôster Eletrônico
1 UnB
2 SES
Período de Realização
02 de maio a 31 de maio de 2025.
Objeto da experiência
Análise de falhas em fichas de violência no DF e elaboração de orientações práticas para melhorar o preenchimento e a notificação.
Objetivos
Analisar os principais erros no preenchimento das fichas de notificação de violência interpessoal/autoprovocada. Logo, evidenciando orientações de preenchimento correto, visando melhorar a qualidade dos dados e apoiar ações de prevenção e proteção.
Descrição da experiência
As inconsistências foram observadas durante a rotina de qualificação das fichas de notificação pelo Núcleo de Estudos, Prevenção e Atenção às Violências, no contexto da residência em Vigilância em Saúde da Universidade de Brasília. Essa qualificação é uma prática contínua do núcleo, essencial para o envio dos dados ao Ministério da Saúde. Foram exportados os dados de 2024 sobre Violência Interpessoal/Autoprovocada do banco SINAN. Iniciando a análise pelo campo 14 (gestantes).
Resultados
Ao filtrar o campo 14 da ficha de notificação de violência, referente a gestantes, obteve-se um número de 528 incoerências de preenchimentos. O erro mais comum evidente é a confusão surgida quando a vítima não está grávida, sendo assim registrada com o item 6 - Não se aplica, quando o correto é preencher o espaço com o item 5 - Não. Não obstante, após habilitação do campo inicialmente focado, os demais da ficha foram explorados, sondando os principais erros.
Aprendizado e análise crítica
Diante do elevado número de inconsistências no campo 14, optou-se por ampliar a qualificação, estendendo a análise a outros campos da ficha epidemiológica. Com isso, identificaram-se diversos erros de preenchimento que comprometem a integridade dos dados do SINAN. Essa abordagem proporcionou uma visão mais ampla dos problemas no banco de dados, contribuindo para o desenvolvimento de estratégias mais eficazes de correção e aprimoramento da qualidade da informação.
Conclusões e/ou Recomendações
Evidenciar as inconsistências mais frequentes no preenchimento do agravo chama a atenção dos profissionais responsáveis pela notificação. Ao destacá-las, aumenta-se a chance de que sejam lembradas e evitadas futuramente. Assim, a qualificação das fichas trará retorno proveitoso, reduzindo a demanda por correções e tornando os dados mais fidedignos, o que contribui para decisões mais precisas.
ANÁLISE COMPARATIVA DA PRODUÇÃO DE SAÚDE DOS SERVIÇOS DOS (CEPAV) NAS REGIÕES DO DISTRITO FEDERAL (2021–2024).
Pôster Eletrônico
1 Universidade de Brasília - UNB
Apresentação/Introdução
A violência interpessoal é um grave problema de saúde pública. No DF, os CEPAV integram a Rede "Flores em Rede" e prestam atendimento especializado às vítimas. Apesar da alta demanda, faltam análises comparativas entre regiões. Este estudo busca evidenciar desigualdades e subsidiar políticas de cuidado.
Objetivos
Análise comparativa da produção dos CEPAV no DF (2021-2024), focando nos atendimentos, perfis de serviços e usuários, principais procedimentos, frequência e variações regionais, com base em dados dos sistemas de informação.
Metodologia
Estudo ecológico, com abordagem quantitativa, baseado em dados secundários do SUS (DATASUS, InfoSaúde/TABWIN). A análise será territorial, por regiões administrativas e de saúde do DF (2021–2024), avaliando atendimentos, tipos de violência, perfil dos usuários e indicadores de acesso aos CEPAV. Serão usadas estatísticas descritivas em Excel, com apresentação em gráficos e mapas. A pesquisa segue a Resolução nº 510/2016, sem uso de dados identificáveis. As limitações incluem qualidade e disponibilidade dos dados e o viés ecológico, que restringe inferências individuais a partir de dados agregados.
Resultados
De 2021 a 2024, os CEPAVs do DF realizaram 77.184 atendimentos, com crescimento até 2023 e leve redução em 2024. Predominaram atendimentos a crianças e adolescentes do sexo feminino. A violência sexual foi a mais notificada (51,9%), e a residência, foi o principal local de ocorrência (81,7%). Observou-se sazonalidade entre junho e outubro e concentração da produção no CEPAV Flores da Central (49,9% em 2024). Os achados evidenciam avanços na ampliação da rede, mas revelam desigualdades regionais e desafios para a equidade e integralidade do cuidado.
Conclusões/Considerações
A análise revelou avanços na consolidação dos CEPAV no DF, com ampliação da oferta e mais de 77 mil atendimentos. No entanto, persistem desigualdades no acesso ao serviço, concentração de procedimentos em uma única região e subnotificações. Os achados reforçam a urgência de qualificar a rede, ampliar o acesso e garantir cuidado integral e equitativo às vítimas.
ANÁLISE DAS NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL NOS MUNICÍPIOS ANANINDEUA, BELÉM E CASTANHAL, PARÁ.
Pôster Eletrônico
1 (UEPA)
2 (UEPA) (UFPA)
3 (UFRA)
Apresentação/Introdução
A violência interpessoal conceitua-se pela utilização de maneira intencional de força física ou poder, podendo dar-se por meio de ameaça ou de forma concreta, contra si ou contra um grupo ou comunidade, tendo alta possibilidade de resultar ou resultando em lesão, dano psicológico, morte, prejuízo no desenvolvimento ou privação.
Objetivos
Analisou-se a violência interpessoal em Ananindeua, Belém e Castanhal (PA), entre 2019 e 2023. Estudo descritivo e ecológico com dados do SINAN e IBGE, com uso de teste Qui-quadrado, georreferenciamento e análise espacial por mapas coropléticos
Metodologia
Para tal, foi realizado um estudo descritivo e ecológico. Foram incluídos casos notificados, analisando variáveis sociodemográficas como sexo, raça/cor, faixa etária e escolaridade. Os dados foram coletados no Sistema de Informações de Agravos de Notificação e no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Após depuração, retirada de inconsistências e duplicidades, os dados foram georreferenciados e indexados às bases cartográficas. Para medir a significância estatística, aplicou-se o teste Qui-quadrado de proporção. A análise espacial ocorreu por meio de mapas coropléticos e temáticos. As unidades de análise foram os municípios de Ananindeua, Belém e Castanhal, no estado do Pará
Resultados
Entre 2019 e 2023, registraram-se 23.736 notificações de violência interpessoal nos municípios de Belém, Ananindeua e Castanhal, no estado do Pará. A maioria das vítimas era do sexo feminino, representando 86,6% dos casos. Observou-se maior prevalência entre mulheres com idade entre 20 e 39 anos. Quanto à raça/cor, a maioria se declarou parda (72,7%), enquanto a escolaridade mais recorrente foi o ensino médio completo (22,6%). Belém liderou em número absoluto de registros, seguido por Ananindeua e Castanhal. Os dados demonstram a urgente necessidade de políticas públicas eficazes, intersetoriais e específicas para enfrentar a violência contra mulheres jovens, negras e com baixa escolaridade.
Conclusões/Considerações
A violência interpessoal em Belém, Ananindeua e Castanhal é persistente e afeta majoritariamente mulheres. Enfrentar esse cenário requer ações integradas, políticas públicas eficazes, combate à desigualdade de gênero, melhoria no acesso a serviços e enfrentamento da subnotificação. Fortalecer redes de apoio e garantir justiça e dignidade. É essencial para construir uma sociedade mais segura e igualitária
PRÁTICAS EXTENSIONISTAS: INTERVENÇÃO EM SAÚDE SOBRE OS TIPOS DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER EM UM COMUNIDADE RIBEIRINHA NA CAPITAL PARAENSE
Pôster Eletrônico
1 Estácio Ananindeua/PA
Período de Realização
A presente atividade foi realizada entre os dias 14 de abril a 27 de maio de 2025.
Objeto da experiência
Mulheres com idade igual ou superior a 18 anos, que estivessem devidamente cadastradas na Unidade Básica de Saúde de Cotijuba/PA.
Objetivos
Relatar a experiência de discentes de enfermagem em uma prática extensionista através de intervenções em saúde sobre os tipos de violência contra mulher em um contexto ribeirinho. Avaliação do nível de conhecimento destas mulheres, por meio da aplicação de um questionário semiestruturado.
Descrição da experiência
A primeira etapa da atividade se deu incialmente através de roda de conversa com coleta de dados sobre o tema, para levantar o conhecimento das participantes. Na segunda etapa, foi realizado uma palestra educativa apontando as tipologias de violência e o fluxo de acolhimento, todo este momento foi previamente organizado em parceria com os profissionais do local. Por último, foram elaborados panfletos e um banner que ficou na unidade como forma de garantir o acesso a informação para comunidade.
Resultados
A atividade contou com a participação de 40 mulheres, e no término foi proporcionado um espaço de diálogo e reflexão coletiva, no qual as participantes foram estimuladas a manifestar suas opiniões e percepções acerca da experiência vivenciada. Neste momento, também foi possível evidenciar fragilidades de acesso a informação, acolhimento no serviço deficitário e refletir em propostas diferenciadas para o fortalecimento desta temática, em áreas remotas e de difícil acesso aos serviços de saúde.
Aprendizado e análise crítica
A escolha deste perfil e desta comunidade se fundamenta em sua situação de vulnerabilidade socioeconômica presente nesta área insular, nas proximidades da capital paraense, bem como na necessidade de fortalecimento das ações de prevenção à violência de gênero nos serviços de saúde. A experiência permitiu compreender os dados explanados em sala de aula, e também na importância da interface do processo ensino, serviço e comunidade em gerar mudanças nos determinantes sociais em saúde.
Conclusões e/ou Recomendações
O projeto buscou não apenas abordar conhecimentos sobre a segurança individual destas mulheres, mas também contribuir para o fortalecimento da saúde coletiva a da participação social nestes espaços, com porpostas que visem a diminuição dos índices de violência nas comunidades ribeirinhas, em especial no contexto amazônico, que ainda mostram dados preocupantes que necessitam de ações diferenciadas através de uma ecologia de saberes para resolução.
A (IN)VISIBILIDADE DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E O PAPEL DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL FRENTE AO CUIDADO
Pôster Eletrônico
1 Ministério da Saúde
2 SMS-RIO
Apresentação/Introdução
A violência por parceiro íntimo (VPI) opera na invisibilidade: 91,5% dos profissionais da APS identificam sinais, mas apenas 55,6% notificam. Este estudo analisa as frestas da rede de atenção que perpetuam essa invisibilidade e o papel da equipe multiprofissional como dispositivo de reparação no SUS.
Objetivos
Mapear lacunas na rede de atenção que geram invisibilidade da VPI; Analisar o papel da equipe multiprofissional (enfermagem, psicologia, serviço social) no desvelamento da violência; Propor estratégias de matriciamento como tecnologia de cuidado.
Metodologia
Estudo de abordagem quantitativa, descritiva e exploratória, realizado com 189 profissionais de saúde (106 enfermeiros e 83 médicos) atuantes na Estratégia de Saúde da Família da AP 3.2, no Rio de Janeiro. Os dados foram coletados por meio de questionário semiestruturado online, aplicado via Google Forms, contendo perguntas fechadas em escala Likert e questões abertas. As respostas foram analisadas com medidas de tendência central e categorização temática. O estudo seguiu os princípios éticos da Resolução 466/12. Este recorte focou na relação entre o reconhecimento da violência, as barreiras estruturais enfrentadas e a atuação da equipe multi como ferramenta para superação dessas lacunas.
Resultados
A pesquisa revelou desconhecimento dos fluxos de notificação (51,9%) e ausência de treinamento institucional (69%). A subnotificação foi evidente: 63% relataram já ter atendido mulheres em situação de violência, mas 44,4% nunca notificaram casos. Profissionais apontaram a fragmentação da rede, ausência de apoio interdisciplinar e rotatividade como entraves. Por outro lado, experiências positivas emergiram em casos nos quais houve articulação com assistente social e psicólogo, reforçando o potencial da equipe multiprofissional na reconstrução do cuidado e no rompimento do ciclo de violência.
Conclusões/Considerações
O cuidado às mulheres em situação de violência requer não apenas protocolos e fluxos, mas uma rede que escute, acolha e garanta direitos. A equipe multiprofissional, quando articulada, rompe o silêncio institucional e amplia a potência do SUS como espaço democrático. Valorizar esse cuidado é compromisso com a equidade e com a reconstrução de vidas atravessadas pela violência.
VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES NO BRASIL: PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO, DETERMINANTES SOCIAIS E ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO CONTEMPORÂNEAS
Pôster Eletrônico
1 AGEVISA
Apresentação/Introdução
A violência contra as mulheres constitui grave violação dos direitos humanos e problema de saúde pública. No Brasil, essa violência apresenta alta incidência, associada a desigualdades sociais, culturais e econômicas. Estudar seus determinantes é fundamental para subsidiar políticas públicas eficazes
Objetivos
Descrever o panorama epidemiológico da violência contra mulheres no Brasil, identificar fatores sociais associados e analisar estratégias atuais de prevenção e enfrentamento.
Metodologia
Estudo epidemiológico descritivo baseado em dados secundários do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, período 2019-2024. Análise quantitativa das notificações de violência física, psicológica e sexual contra mulheres, estratificada por idade, raça, e região. Revisão de literatura para identificação de estratégias de enfrentamento.
Resultados
Observou-se aumento nas notificações de violência doméstica e sexual, especialmente entre mulheres negras e jovens. Regiões Norte e Nordeste apresentaram maior incidência proporcional. Fatores socioeconômicos, como baixa escolaridade e vulnerabilidade econômica, mostraram-se relacionados ao risco aumentado. Estratégias institucionais incluem ampliação da Rede de Atendimento às Mulheres, campanhas educativas e fortalecimento das delegacias especializadas
Conclusões/Considerações
A violência contra mulheres no Brasil permanece elevada, exigindo ações intersetoriais contínuas e focalizadas. Políticas públicas devem considerar desigualdades raciais e sociais para eficácia. A vigilância epidemiológica é essencial para monitorar tendências e orientar intervenções
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER SOB O OLHAR DOS ENFERMEIROS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Pôster Eletrônico
1 UFCG
Apresentação/Introdução
A violência doméstica é uma das inúmeras manifestações da violência de gênero que atingem mulheres cotidianamente em todo o mundo. Ela escancara a desigualdade de gênero que permeia o cotidiano social de relação de poder do homem sobre a mulher. A estratégia de saúde da família é o serviço de saúde mais próximo e que, por vezes, primeiro visualiza a situação de violência no território adscrito.
Objetivos
Objetivou-se neste estudo analisar as representações sociais de enfermeiros da estratégia de saúde da família acerca da violência doméstica contra a mulher.
Metodologia
Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo e exploratório, e foi realizado em Cuité, Paraíba. Os sujeitos são enfermeiros das unidades de saúde da família, sendo a amostra pretendida a população total de profissionais, mas com as recusas, participaram 07 profissionais. Os dados foram coletados no mês de março de 202. Após o consentimento foi realizada a entrevista por meio Google Meet. Na coleta de dados foi realizada a Técnica de Associação Livre de Palavras, na qual o participante verbalizou as cinco primeiras palavras frente ao termo indutor “violência doméstica contra a mulher’. A análise dessas evocações foi no software IRAMUTEQ, que identifica frequência e ordem das evocações.
Resultados
Os resultados demonstraram no núcleo central, percepções negativas dos profissionais sobre a violência doméstica contra a mulher, com sofrimento, desumanidade, medo e opressão. Além do machismo enraizado na sociedade como principal carreador da violência, um comportamento socialmente aceito de hierarquia de gênero. Nos núcleos periféricos, ficou evidenciado o machismo enraizado na sociedade como principal carreador da violência. Foi relatada a importância da orientação as mulheres, para restabelecimento da sua identidade e autoestima. Na zona de contraste foi vista a importância da denúncia e da rede de apoio como solução, mas que a insegurança mantém as vítimas e profissionais na inércia
Conclusões/Considerações
No cenário da pandemia da COVID-19 onde os casos de feminicídio aumentaram, é necessária maior atenção temática por profissionais da saúde. Os enfermeiro, como corresponsável pela saúde das mulheres vítimas de violência doméstica, capaz de prestar uma assistência acolhedora e completa. necessitam estar capacitados por meio da educação continuada, para que conheçam o protocolo de atendimento à essas vítimas e, assim, tenham mais segurança.
ATUAÇÃO DE UMA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA ARTICULAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À ADOLESCENTE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Pôster Eletrônico
1 UFRN e SMS Natal
2 SMS Natal
Período de Realização
A experiência foi vivenciada entre setembro e outubro de 2024, em município do Nordeste brasileiro.
Objeto da experiência
Atuação de uma equipe de Saúde da Família (eSF) no acompanhamento de um caso de violência sexual na adolescência, com foco no cuidado integral.
Objetivos
Descrever a experiência de uma eSF no acompanhamento de uma adolescente grávida vítima de violência sexual, destacando a escuta qualificada, o acolhimento humanizado e a articulação com a rede intersetorial na garantia da proteção, cuidado contínuo e respeito à autonomia.
Metodologia
A eSF identificou o caso através da visita domiciliar de rotina do agente comunitário de saúde no território. Após atendimento e escuta qualificada, confirmou-se gravidez decorrente de violência sexual, iniciando-se o acompanhamento clínico e psicossocial da adolescente e de sua família. A equipe mobilizou diferentes atores da rede de atenção à saúde e de proteção social, como CREAS, Conselho Tutelar, Ministério Público e maternidade, priorizando um cuidado integral.
Resultados
A eSF acompanhou a usuária e sua família de forma contínua, desde a escuta inicial, identificação da violência, notificação e condução do caso. Foram feitas visitas domiciliares, atendimentos clínico e psicológico e acolhimento multiprofissional, respeitando a autonomia e os direitos da adolescente. A atuação articulada da equipe multidisciplinar viabilizou a garantia do direito legal a interrupção da gravidez e, sobretudo, de um cuidado integral, centrado nas necessidades da usuária.
Análise Crítica
A experiência mostrou a potência da eSF ao coordenar a rede, articulando fluxos entre saúde, assistência e justiça. A presença contínua da equipe no território facilitou respostas rápidas, criação de vínculos e centralidade nas necessidades da usuária. No campo da Saúde Coletiva, reafirma-se o papel da atenção primária à saúde como a base do sistema público que garante direitos, promove a equidade e atua de forma crítica frente às violências estruturais que atravessam adolescentes e famílias.
Conclusões e/ou Recomendações
A atuação da eSF foi determinante para garantir o cuidado humanizado, proteção social e acesso a direitos, evidenciando que a atuação multiprofissional e a articulação de uma rede resolutiva são determinantes no enfrentamento de cenários de vulnerabilidade social. Este caso exigiu sensibilidade, escuta e compromisso ético. Recomenda-se o fortalecimento das redes intersetoriais, com capacitação contínua e definição de fluxos de atendimento.
VIOLÊNCIA LABORAL E ESTRESSE OCUPACIONAL EM MULHERES QUE ATUAM NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE: UM ESTUDO TRANSVERSAL
Pôster Eletrônico
1 UFBA
2 UNEB
Apresentação/Introdução
A violência no ambiente de trabalho constitui um problema de saúde pública. No contexto da Atenção Básica, trabalhadoras da Estratégia Saúde da Família estão expostas a múltiplas formas de violência. Esses episódios podem desencadear sofrimento psíquico e aumentar a vulnerabilidade ao estresse ocupacional, comprometendo o bem-estar, o desempenho profissional e a qualidade do cuidado prestado.
Objetivos
Analisar a associação entre a vivência de violência no ambiente de trabalho e a presença de estresse ocupacional em mulheres profissionais da Estratégia Saúde da Família de um município baiano.
Metodologia
Estudo transversal, realizado em 2022, com trabalhadoras da Atenção Básica de um município do estado da Bahia. A coleta de dados foi conduzida por meio de um questionário estruturado, contendo informações sociodemográficas, ocupacionais, de saúde mental e exposição à violência laboral. O estresse ocupacional foi avaliado com base na Escala de Estresse no Trabalho (EET), sendo o desfecho dicotomizado (presente/ausente) a partir da média dos escores. A variável independente principal foi a autodeclaração de exposição à violência no trabalho (sim/não). Utilizou-se regressão de Poisson com variância robusta para estimar razões de prevalência e intervalos de confiança de 95%.
Resultados
A população foi composta por 132 mulheres. A prevalência de estresse ocupacional foi significativamente maior entre aquelas que relataram exposição à violência no ambiente de trabalho. Os resultados da regressão indicaram que mulheres expostas à violência apresentaram 3,92 vezes mais prevalência de estresse ocupacional (RP=3,92; IC95%: 1,67–9,18), em comparação àquelas não expostas. Os episódios de violência relatados incluíram agressões verbais, assédio moral, manifestações de racismo, roubo de pertences e ameaças no exercício profissional.
Conclusões/Considerações
A exposição à violência no ambiente de trabalho está fortemente associada à presença de estresse ocupacional entre mulheres da Estratégia Saúde da Família, revelando um cenário de vulnerabilidade e sofrimento. Garantir espaços laborais mais justos, protetivos e acolhedores é fundamental para a valorização e permanência das mulheres no campo da Atenção Básica.
IMPLANTAÇÃO E APLICABILIDADE DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ESTADUAL NA ROTINA DE VIGILÂNCIA DE VIOLÊNCIA DO ESPÍRITO SANTO, 2020-2025
Pôster Eletrônico
1 SESA/FIOCRUZ
Período de Realização
o período deste estudo iniciou em 01.01.2020 até atualmente
Objeto da experiência
Sistema próprio de notificação de doenças e agravos na notificação da violência interpessoal/autoprovocada no estado do Espírito Santo: e-SUS VS
Objetivos
Apresentar o processo de migração de sistema de armazenamento das notificações e demonstrar a aplicabilidade do e-SUS VS para a gestão dos dados da violência ocorridos de 2020 até os dias atuais.
Descrição da experiência
Estudo descritivo do processo de transição do SINAN para o e-SUS VS para coleta de notificações e da prática de utilização do sistema e-SUS VS em processos de trabalho de notificação, gestão e monitoramento dos casos de violência notificados no Espírito Santo no período de 2020 a junho/2025. O e-SUS VS é on line para acesso em qualquer equipamento ligado a WWW. Pela Lei estadual 11.147/20 a notificação de violência se tornou compulsória para educação, assistência social e conselho tutelar
Resultados
As notificações chegam à vigilância em tempo real, permitindo um monitoramento e orientação à equipe durante o atendimento. ampliação de 7.370 (2020) para 21.609 (2024). Poucos capacitados aumentaram as inconsistências dos dados, feito automatização do preenchimento de algumas variáveis e ampliou a qualificação do banco. O e-SUS VS permitiu acessar parceiros externos, sem sobrecarregar a vigilância com o número de fichas para digitar, embora no início foi difícil conseguir qualidade na informação.
Aprendizado e análise crítica
sendo um sistema próprio, podemos experienciar novas possibilidades na gestão do agravo. Se a redução das variáveis pela automação ampliou a adesão dos notificadores, não garante o aprendizado pelo notificador. Assim, a necessidade de capacitação é ainda maior, usando a ficha, para garantir a adesão ao instrutivo e NOTIVIVA. Apenas 3 ou 4 profissionais de cada escola/CREAS/conselho recebem acesso, porém, todos os profissionais precisam ser capacitados a cuidar da pessoa em situação de violência
Conclusões e/ou Recomendações
O próprio e-SUS VS disponibiliza dados em gráficos e planilhas facilitando a gestão, produção de boletins epidemiológicos e a leitura do gestor municipal. Ainda temos dificuldades pois algumas variáveis receberam nomes diferentes do SINAN e na hora de alimentar o MSaude isso é problema já em fase de correção. Aumentaram as variáveis ignoradas ou vazias, posto que os notificadores identificando as obrigatórias só se esforçam por essas.
CORRELAÇÃO ENTRE VIOLÊNCIA AUTOPROVOCADA, COBERTURA DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E NÚMERO DE DISPOSITIVOS DE SAÚDE MENTAL NO BRASIL E REGIÕES ENTRE 2018-2023
Pôster Eletrônico
1 UFMG
Apresentação/Introdução
A violência autoprovocada tem ganhado contornos dramáticos nos últimos anos, com índices crescentes no Brasil e no mundo. No Brasil, a atenção primária em saúde (APS) e os serviços da rede assistencial têm papel fundamental devido à sua localização no território e a possibilidade de atuar na prevenção das tentativas de suicídio e do evento fatal.
Objetivos
Identificar a correlação entre o número de equipes do Programa de Saúde da Família (PSF), número de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e cobertura de APS com as tentativas de suicídio e a taxa de mortalidade por suicídio no Brasil e Regiões.
Metodologia
Trata-se de estudo ecológico utilizando dados secundários de 2018 a 2023 para o geral da população e por sexo. Foram coletadas informações sobre tentativas de violência autoprovocada (SINAN); óbitos por violência autoprovocada (SIM); número de equipes de PSF cadastradas, número de CAPS e taxa de cobertura da APS (Sistema Eletrônico do SUS Gestor - ESUS); população do Brasil e Regiões (estimativas da população residente - DATASUS). Análises de correlação de Pearson foram realizadas entre o número de PSF, número de CAPS e taxa de cobertura da APS e os dois desfechos investigados: número de tentativas de suicídio e taxa de mortalidade por violência autoprovocada.
Resultados
Observou-se correlações positivas mais fortes (> 0,70) entre lesões autoprovocadas e número de CAPS e equipes ESF, para todos os anos, ambos os sexos e todas as Regiões, com destaque para a Região Sudeste (> 0,95). As associações negativas mais fortes se deram entre lesões autoprovocadas e cobertura APS, com maior destaque para a Região Sul. Para os óbitos, associações positivas mais fortes para homens e mulheres foram encontradas na Região Sul, em todos os anos do estudo, para número de CAPS e APS. Na Região Norte houve associações negativas mais fortes em todos os anos para os casos de óbito. Quando se relacionam óbitos com as equipes ESF, a maioria das correlações não foi significativa.
Conclusões/Considerações
Observou-se que em Regiões com maior número de dispositivos de saúde mental e maior cobertura de APS há um menor número de tentativas (Região Sul). No entanto, foram observadas correlações positivas entre cobertura de APS e maior número de tentativas, muito possivelmente devido à uma maior notificação dos casos (Região Sudeste). Regiões com menor número de ESF e CAPS, mostraram maiores taxas de correlação entre os desfechos analisados.
DESIGUALDADE SOCIAL E MORTALIDADE PREMATURA POR CAUSAS EXTERNAS NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP (2015-2019).
Pôster Eletrônico
1 Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas - Unicamp
Apresentação/Introdução
As causas externas são responsáveis por parcela significativa da mortalidade prematura e, em grande parte, evitáveis. A vulnerabilidade social do local de residência, que engloba desigualdades em renda, moradia e acesso a serviços, potencializa o risco de óbitos por essas causas.
Objetivos
Analisar a magnitude da desigualdade socioespacial na mortalidade prematura no período de 2015 a 2019 no município de Campinas-SP.
Metodologia
Estudo ecológico realizado com dados secundários obtidos pelo SIM/Datasus para analisar as mortes prematuras (20 a 64 anos), utilizando o IPVS para classificação dos três estratos de vulnerabilidade social (VS). Calculou-se as taxas de mortalidade padronizada por idade, segundo sexo e estratos, e as desigualdades na mortalidade foram mensuradas pelas Razões entre Taxas (RT).
Resultados
Os resultados revelaram um claro gradiente de mortalidade prematura por causas externas segundo os níveis de VS: no sexo masculino, a taxa padronizada subiu de 53,3/100 000 no estrato de menor vulnerabilidade para 88,9/100 000 (RT=1,67; IC95% 1,44–1,93) no estrato intermediário e atingiu 130,7/100 000 (RT=2,45; IC95% 2,14–2,82) no estrato mais vulnerável. Em mulheres, apenas o estrato de maior vulnerabilidade apresentou elevação significativa, com taxa de 19,1/100 000 (RT=1,57; IC95% 1,16–2,14).
Conclusões/Considerações
A mortalidade prematura por causas externas revela-se mais elevada nas áreas de maior vulnerabilidade social, com homens expostos a riscos até 145% superiores e mulheres a 57% maiores. Esses achados sugerem que estratégias de prevenção devem priorizar os territórios mais fragilizados, integrando ações de redução de riscos ambientais, fortalecimento de redes de apoio e melhoria das condições socioeconômicas locais.
COMITE DE PROMOÇÃO DA VIDA E PREVENÇÃO DO SUICÍDIO DO RIO GRANDE DO SUL
Pôster Eletrônico
1 SES/RS
Período de Realização
2016 ATÉ O PRESENTE MOMENTO
Objeto da produção
COMITE DE PROMOÇÃO DA VIDA E PREVENÇÃO DO SUICIDIO DO RS, COORDENADo PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO.
Objetivos
Promover a vida e prevenir o comportamento suicida no estado;Qualificar a gestão e o cuidado;Fomentar discussões e diminuir o estigma intrínseco;Reduzir os efeitos secundários gerais relacionados aos comportamentos suicidas;Diminuir o impacto traumático nos sobreviventes, enlutados e na comunidade em geral.
Descrição da produção
ATUA POR MEIO DE GRUPOS DE TRABALHO, DEFINIDOS POR TEMÁTICAS E POPULAÇÃO ESPECÍFICA, CONFORME ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA, CRIANDO ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO DA VIDA AO PÚBLICO ALVO. APOIA OS MUNICÍPIOS IN LOCO QUANDO ACIONADO.REALIZA SEMINÁRIOS E FORMAÇÕES, PARA RAPS E REDE INTERSETORIAL. APOIA MUNICÍPIOS NA CONSTRUÇÃO DE COMITES MUNICIPAIS DE PREVENÇÃO DOS SUICIDIOS E IN LOCO, QUANDO ACIONADO. ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS, CARTILHAS, CURSOS E CAPACITAÇÕES ONLINE
Resultados
A queda do estigma relacionado ao suicídio e a ampliação das discussões sobre o cuidado às pessoas em risco pelas redes de saúde e intersetorial.A instalação de 8 comitês municipais de promoção da vida e prevenção do suicídio no RS.Trabalhadores da saúde e rede intersetorial mais fortalecidos no cuidado às pessoas em risco, identificando sinais e sintomas de forma precoce e intervindo em tempo hábil.As ações de posvenção também são destaque.
Análise crítica e impactos da produção
Percebemos que a implicação da sociedade civil e demais secretarias, para além da saúde, é fundamental na identificação de pessoas em sofrimento e atuação precoce, com estratégias de acolhimento e de suporte frente às carências de acesso aos direitos fundamentais básicos que comumente são diversas.Necessidade de fortalecimento dos cuidados às pessoas enlutadas por suicídio, por meio de grupos e espaços passíveis de expressão e elaboração dos afetos suscitados pela perda.
Considerações finais
O Comitê foi a tecnologia em saúde encontrada pelo RS enquanto resposta às taxas de suicídio do estado, criando e garantindo a execução da Política Estadual de Promoção da Vida e Prevenção dos Suicídios.Entendemos que o Comitê é uma estratégia válida frente à necessidade de resposta a esse fenômeno e que sua divulgação pode apoiar outros estados na construção de alternativas que façam sentido na resposta da singularidade de suas demandas.
FLUXO DE MONITORAMENTO DE CASOS DE VIOLÊNCIA: UMA INTERVENÇÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 ICEPi
Período de Realização
O fluxo foi construído durante o período de abril a dezembro de 2024.
Objeto da produção
Fluxo de monitoramento de casos de violência na Atenção Primária em Saúde (APS)
Objetivos
A construção do fluxo teve como objetivo a reorganização do processo de trabalho na APS voltado para o cuidado às pessoas que sofreram alguma situação de violência e que tiveram essa violência notificada pela rede intersetorial, buscando uma continuidade do cuidado após a realização da notificação.
Descrição da produção
O fluxo define que a partir da chegada de uma notificação, deve ser alimentada uma planilha com os principais dados desta, sendo definida uma Referência Técnica (RT) em Violência no serviço para esta função. Tal planilha é dividida por equipes de Saúde da Família, e os casos devem ser discutidos em ponto de pauta fixo na reunião de equipe, realizando alimentação do documento com as propostas de cuidado e seus respectivos responsáveis. Após, a RT deverá monitorar se os cuidados foram disparados.
Resultados
O fluxo possibilitou o maior corresponsabilidade do cuidado e capacitação das equipes, implicando diferentes categorias profissionais na questão da violência, algo comumente associado às categorias de assistência social e psicologia. Também promoveu a continuidade do cuidado às pessoas que tiveram alguma situação de violência notificada, a partir de diferentes ofertas de ações, promovendo vinculação entre usuário e serviço.
Análise crítica e impactos da produção
O fluxo evidenciou a importância da qualificação da vigilância em saúde e estruturação do monitoramento para a promoção da assistência e cuidado integral nos casos de violência. Alguns entraves observados na sua implementação foram referentes a dificuldades logísticas de acesso à planilha de monitoramento e relacionadas à mudanças de práticas institucionalizadas. O fluxo foi apresentado à equipe técnica do Núcleo de Prevenção à Violências do município e será implementado em outros serviços.
Considerações finais
O fluxo de monitoramento demonstra ser uma estratégia importante para qualificar o cuidado aos casos de violência no território, fortalecendo a articulação entre profissionais e promovendo o cuidado integral dos sujeitos. O fluxo é uma ferramenta potente que pode ser utilizada em diferentes territórios, sendo adaptada para cada realidade, destacando o papel central da APS na identificação e acompanhamento de situações de violência.
PERFIL DOS CASOS DE VIOLÊNCIA NO DISTRITO FEDERAL, 2021 A 2024.
Pôster Eletrônico
1 Universidade de Brasília
2 Fundação Oswaldo Cruz
Período de Realização
O período de realização compreendeu o ano de 2025.
Objeto da produção
A violência é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como um grave problema de saúde pública, gerando custos psicossociais e econômicos elevados.
Objetivos
Descrever o perfil e a distribuição dos casos de violência registrados no Distrito Federal entre 2021 e 2024, segundo características sociodemográficas das vítimas e local de ocorrência.
Descrição da produção
A pesquisa possui abordagem quantitativa do tipo ecológico descritivo. Serão utilizados dados secundários extraídos de sistemas oficiais de informação do Sistema Único de Saúde. Os dados foram organizados e tabulados em planilhas e analisados por meio de estatística descritiva.
Resultados
Houve aumento nos registros de violência no DF, de 7.155 (2021) para 11.236 (2023), com leve queda em 2024 (9.945). No total, foram 38.190 ocorrências no período. As mulheres representaram cerca de 74% das vítimas. Adultos de 20 a 49 anos concentraram até 64,1% dos casos, seguidos por adolescentes (10 a 19 anos), com até 26,9%. Houve crescimento de 103% entre idosos com 80 anos ou mais, indicando maior vulnerabilidade.
Análise crítica e impactos da produção
Entre 2021 e 2024, houve aumento expressivo de vítimas pardas (+134,7%), pretas (+60,2%) e brancas (+61,4%). Pessoas com deficiência representaram 54,5% das vítimas em 2024. A residência foi o principal local das ocorrências (70,5%), mas casos em via pública e outros locais cresceram 103,3%, indicando diversificação dos contextos de risco e reforçando a necessidade de ações multissetoriais.
Considerações finais
Conclui-se que a violência no Distrito Federal configura-se como um fenômeno complexo, é fundamental fortalecer a vigilância em saúde e implementar políticas intersetoriais, por se tratar de um esforço multifacetado que deve incluir a melhoria das condições de vida, com uma abordagem holística e orientada à equidade.
A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL E O ENFRENTAMENTO DAS VIOLÊNCIAS
Pôster Eletrônico
1 Unicamp
2 UESPI
Período de Realização
A publicação foi elaborada e lançada em 2024
Objeto da produção
O objeto da produção é a atuação das equipes de saúde bucal frente aos múltiplos tipos de violência.
Objetivos
Apoiar a inclusão do tema das violências no cotidiano dos serviços de saúde bucal do SUS, promovendo uma abordagem integral, humanizada, territorializada e interseccional, além da orientação sobre os processos de notificação obrigatória nos sistemas oficiais, como o Sinan.
Descrição da produção
A metodologia de produção do material consistiu na elaboração textual colaborativa com base em evidências científicas, legislações nacionais e diretrizes do SUS, somada à revisão técnica por especialistas das áreas de saúde bucal, saúde pública e direitos humanos. O processo envolveu uma equipe multidisciplinar de redatores, revisores e coordenadores vinculados ao Ministério da Saúde, e a produção editorial ficou a cargo de uma assessoria especializada.
Resultados
Como resultado, a cartilha apresenta um conteúdo estruturado em capítulos temáticos que abordam os tipos de violência (física, sexual, psicológica, patrimonial e moral), os impactos dessas violências na saúde, com ênfase nas repercussões orofaciais, e o papel da Equipe de Saúde Bucal na identificação e enfrentamento desses agravos. Também são destacados os marcos legais que garantem os direitos das vítimas e o fluxo adequado de notificação e encaminhamento nos serviços de saúde.
Análise crítica e impactos da produção
A produção representa um avanço crítico na política pública de saúde, ao reconhecer que a formação dos profissionais da saúde bucal ainda é incipiente quanto ao manejo das violências e a abordagem dos determinantes sociais. A cartilha busca preencher essas lacunas por meio da educação permanente e da construção de práticas mais inclusivas, ampliando a capacidade de resposta da Atenção Primária à Saúde diante das violências cotidianas.
Considerações finais
Nas considerações finais, o documento reafirma que o enfrentamento das violências exige o compromisso ético e técnico das equipes de saúde bucal, que devem estar preparadas para acolher as vítimas de forma empática e humanizada. Além disso, ressalta-se a importância de se reconhecer os marcadores sociais como determinantes na exposição à violência, destacando a necessidade de articulação com políticas intersetoriais e o reforço da integralidade no cuidado.
QUALIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIAS INTERPESSOAIS E AUTOPROVOCADAS EM CUIABÁ, 2024
Pôster Eletrônico
1 Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Saúde Coletiva
2 Coordenadoria Técnica de Vigilância Epidemiológica do Município de Cuiabá - MT
Período de Realização
Fevereiro a maio de 2025
Objeto da produção
Nota técnica analisando a qualidade das fichas de notificação de violências do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) de Cuiabá, 2024.
Objetivos
Apresentar a análise da qualidade dos dados das fichas de notificação de violências interpessoal e autoprovocada visando a qualificação da informação com o porpósito de subsidiar as ações de vigilância e monitoramento desses agravos e apoiar estratégias de enfrentamento e prevenção mais efetivas.
Descrição da produção
Foram extraídos e organizados os dados das fichas de notificação de violência interpessoal e autoprovocada do SINAN. A duplicidade (aceitável, quando <5%) foi verificada via relatório do SINAN-Net e apuração de cada caso manualmente. A completitude (grau excelente, quando ≥ 95%) de 24 variáveis foi verificada considerando campo não preenchido (em branco) ou preenchido como "ignorado". A consistência (excelente, quando ≥ 90,0%) foi analisada pela coerência entre dados de diferentes variáveis.
Resultados
Um total de 1.208 fichas foram analisadas. O relatório do SINAN listou 83 ocorrências de duplicidade que, após análise, mantiveram-se 22 (6,4%). Entre as 24 variáveis analisadas quanto à completitude, a maioria (10) apresentou grau de completitude regular (70-90%) e 34,8% foram classificadas com boa completitude (90-95%). A análise da consistência indicou que 62,5% dos 16 quesitos analisados foram classificados como excelente (≥90%) ao confrontar as variáveis estabelecidas para verificação.
Análise crítica e impactos da produção
Dados precisos são cruciais para orientar ações de prevenção e enfrenteamento das violências interpessoais e autoprovocadas. A analise revelou fragilidades nos três componentes que avaliam a qualidade do SINAN, contudo reforça o potencial desse sistema como ferramenta de vigilância. Espera-se contribuir para a sensibilização de todos atores envolvidos no processso de produção da informação sobre violência contra crianças e adolescentes evidenciando a importância da adequada notificação.
Considerações finais
As implicações desse trabalho para a vigilância de violências são significativas na medida que dá visibilidade para a qualidade do dado sobre esses agravos indicando necessidade de seu aprimoramento, tendo em vista que as informações geradas são a base para formulação de políticas públicas. Recomenda-se o monitoramento sistemático da qualidade dos dados inseridos no sistema e implementação de estratégias de educação permanente.
NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL E AUTOPROVOCADA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM CUIABÁ, MATO GROSSO NO ANO DE 2024.
Pôster Eletrônico
1 Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Saúde Coletiva
2 Coordenadoria Técnica de Vigilância Epidemiológica do Município de Cuiabá - MT
Período de Realização
Fevereiro a maio de 2025
Objeto da produção
Relatório técnico referente as notificações de violência interpessoal e autoprovocada em crianças e adolescentes em Cuiabá, Mato Grosso em 2024.
Objetivos
Apresentar a análise dos casos notificados de violência contra crianças e adolescentes, a fim de sensibilizar profissionais e gestores subsidiando ações intersetoriais de enfrentamento e prevenção às violências, fortalecendo a atuação da rede de proteção e promovendo a integralidade do cuidado.
Descrição da produção
Trata-se de uma análise descritiva com base nos dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN-NET). Foram extraídos e organizados os dados sobre as notificações de violência interpessoal e autoprovocada contra pessoas de 0 a 19 anos no município de Cuiabá, no ano de 2024. A análise considerou as variáveis tipo de violência, faixa etária, sexo, raça/cor, escolaridade, vínculo com o agressor, local de ocorrência e encaminhamentos realizados.
Resultados
Das 1.208 notificações de violências, 344 (28,5%) eram crianças e adolescentes, sendo 43,3% de violência sexual, 19,4% física, 15,5% autoprovocada e 14,1% psicológica. A maioria das vítimas era do sexo feminino (principalmente adolescentes de 10 a 14 anos), de raça parda e estudantes do ensino fundamental. Cerca de 73,7% das violências sexuais ocorreram em residência e, em 46% dos casos, o agressor era conhecido da vítima.
Análise crítica e impactos da produção
A alta prevalência da violência sexual entre meninas adolescentes evidencia vulnerabilidades específicas de gênero e faixa etária. A residência como principal local da ocorrência e a frequência de vínculos familiares ou próximos com o agressor reforçam a necessidade de ações mais incisivas da rede de proteção. O estudo dá visibilidade ao problema expondo informações relevantes para gestores, profissionais de saúde e outros, contribuindo para a formulação de políticas públicas mais efetivas.
Considerações finais
O estudo revela a urgência de fortalecer as estratégias de prevenção e proteção à infância e adolescência, considerando à importância da notificação como ferramenta de vigilância e intervenção. Os achados reforçam o papel do SUS na proteção de populações vulneráveis e no combate à violência.
MORTALIDADE POR HOMICÍDIO ENTRE MULHERES E MENINAS INDÍGENAS (MMI) NO BRASIL (2003–2022)
Pôster Eletrônico
1 UFPR
Período de Realização
Período dos dados: 2003 a 2022; pesquisa concluída em dezembro de 2024.
Objeto da produção
Investigar homicídios de mulheres e meninas indígenas no Brasil (2003–2022), sob aspectos sociais e geográficos.
Objetivos
Analisar a evolução dos homicídios contra Mulheres e Meninas Indígenas (2003–2022) com base em dados do IBGE e do SIM/MS, considerando perfil socioeconômico das vítimas, meios de agressão e distribuição territorial.
Descrição da produção
Estudo ecológico retrospectivo dos homicídios contra mulheres indígenas (≥10 anos) entre 2003 e 2022 nos municípios brasileiros, com dados do SIM/MS e do IBGE (2022). Analisaram-se características socioeconômicas, métodos de agressão, local dos homicídios e taxas com média anual baseada na população de 2022. Utilizou-se Excel (2021) para tabulação, QGIS (3.34.3) para análise espacial e dados secundários de bancos públicos, dispensando submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa.
Resultados
Houve aumento de 500% nos homicídios de mulheres e meninas indígenas (MMI) entre 2003 e 2022. As vítimas foram predominantemente jovens, solteiras e com baixa escolaridade. A maioria dos homicídios ocorreu por objetos cortantes/perfurantes e em ambiente doméstico. A região Centro-Oeste apresentou maior número de homicídios (157) e taxa (9,7/100 mil MMI). O estado do Mato Grosso do Sul lidera em número absoluto (149) e taxa (15,7/100 mil MMI).
Análise crítica e impactos da produção
Os dados revelam um profundo contexto de vulnerabilidades que levam mulheres e meninas indígenas à violência letal, evidenciando desigualdades estruturais e lacunas na proteção social e jurídica. O aumento expressivo dos homicídios, especialmente domésticos, ressalta a urgência de políticas públicas específicas e ações intersetoriais que promovam segurança, direitos humanos e enfrentamento do racismo estrutural, refletido na invisibilidade dessa pauta na sociedade de modo geral.
Considerações finais
O homicídio de mulheres e meninas indígenas revela uma interseccionalidade de opressões étnico-raciais, de gênero e socioeconômicas que acentuam vulnerabilidades e precisam ser reconhecidas pelas políticas públicas. Estes crimes ocorrem em contextos de violência estrutural, negligência estatal e impunidade, exigindo ações firmes para defesa dos direitos humanos, justiça social e fortalecimento das comunidades indígenas.
SUICÍDIOS E PANDEMIA COVID-19: NÚMEROS, ATOS E VOZES
Pôster Eletrônico
1 FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA USP
2 NEPO- UNICAMP
3 UNIFESP
4 PMD
5 SECRETARIA DE SAÚDE DE DIADEMA
6 UNIVERSIDADE SANTA MARCELINA
7 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
8 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Apresentação/Introdução
As mortes por suicídio em todo o mundo têm demandado atenção. Diante da epidemia da COVID-19 e do aumento dos casos de violência autoprovocada considerou-se oportuno desenvolver uma pesquisa qualitativa buscando compreender os impactos da pandemia do COVID-19-19 sobre os casos de suicídio ocorridos em um município do Estado de São Paulo.
Objetivos
Compreender o impacto da pandemia nos casos de suicídio de residentes em Diadema ocorridos em 2020. Buscou-se possíveis interrelações entre os suicídios e os efeitos da pandemia.
Metodologia
Investigação qualitativa de 29 (todas) as mortes por suicídio ocorridas no município de Diadema em 2020. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas, por meio da metodologia da autópsia psicossocial, verificando-se associações diretas ou indiretas com o fenômeno da COVID-19, tendo como ferramenta o Programa de Análise de Pesquisa Sofware MAxQDA.2022.5. O contato com os informantes contou com o apoio das gerentes das unidades básicas de saúde e agentes comunitárias de saúde dos territórios. A equipe de entrevistadoras preparou-se por meio de reuniões semanais. O texto foi preparado através das sub-codificações e analisado através da frequência de cada categoria definidas para análise.
Resultados
25 casos foram homens e 4 mulheres, sendo 11 com idades entre 20 a 39, 13 entre 40 a 59 (equivalem a 83%), destes 20 ocorreram por lesão autoprovocada intencionalmente por enforcamento, estrangulamento e sufocação. Nas entrevistas é possível identificar que as mortes em geral não são atos decorrentes de situações impulsivas ou injustificadas, mas momento último decorrente de itinerários de situações de vida que o contexto de suas histórias lhes ofertou. Os sujeitos do óbito aparecem submersos em desamparo e limitado grau de pertencimento a um grupo, família, de colegas da escola, do trabalho, da igreja. O trabalho e o desemprego compõem elementos que geravam instabilidades e sofrimentos.
Conclusões/Considerações
A inter-relação entre a ocorrência dos suicídios e a pandemia do COVID-19 foi parcial. Apenas em três deles foi possível identificar relação direta. Nos demais a pandemia parece ter acelerado a concretização do suicídio. Aspectos que evidenciaram associação com as questões do suicídio: sofrimento mental e o uso de álcool e outras drogas; desemprego, questões financeiras e depressão; experiências migratórias, e vinculação a religiões.
FORTALECENDO A RESPOSTA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHERES: ESTUDO QUASI-EXPERIMENTAL COM ANÁLISE DE DIFERENÇAS-EM-DIFERENÇAS
Pôster Eletrônico
1 Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
Apresentação/Introdução
A violência doméstica tem grande impacto na saúde das mulheres, colocando os serviços de saúde em uma posição privilegiada no enfrentamento do problema - em especial a Atenção Primária à Saúde (APS) por características próprias destes serviços. O estudo HERA (Healthcare Responding to Violence and Abuse) desenvolveu e implementou estratégias para fortalecer o cuidado dos casos de violência na APS.
Objetivos
Avaliar o impacto do conjunto de estratégias implementadas (intervenção) na identificação e encaminhamento de casos de violência doméstica contra as mulheres (VDCM) em Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município de São Paulo.
Metodologia
Estudo quase-experimental. A intervenção consistiu no estabelecimento de fluxos de encaminhamento, sessões de treinamento, materiais de apoio e supervisão mensal. A intervenção foi implementada em 8 UBS e outras 33 serviram como controle. Os dados sobre identificação e encaminhamento de casos 12 meses antes e após a implementação foram obtidos no Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica. O impacto foi avaliado por meio da análise de diferenças-em-diferenças, utilizando regressão binomial negativa, com ajustes para fluxo de pacientes, supervisão, período da pandemia de COVID-19, região e UBS. Os resultados são apresentados como efeitos marginais com intervalos de confiança (IC) de 95%.
Resultados
Foram treinados 567 profissionais de saúde nas 8 UBS que implementaram a intervenção, representando de 68% a 73% do total de profissionais. A análise de diferença em diferenças demonstrou um aumento na probabilidade de identificação de casos de violência doméstica de 0,47 p.p. (IC 0,18–0,77) e no encaminhamento a serviços de apoio de 0,38p.p. (IC 0,03–0,73). Quando ajustado por variáveis adicionais, o impacto da intervenção foi ainda maior: 0,82 p.p. (IC 0,44–1,21) para identificação e 0,87 p.p. (IC 0,47–1,29) para encaminhamento.
Conclusões/Considerações
As estratégias implementadas aumentaram a identificação e o encaminhamento de casos de VDCM na APS. Unidades que implementaram o HERA já apresentavam maior predisposição prévia para lidar com esses casos, sugerindo que a intervenção pode ser mais efetiva em serviços com maior aceitação às ações contra a VDCM, pelo menos no contexto brasileiro.
MULHERES, DESLOCAMENTOS CLIMÁTICOS E VIOLÊNCIAS: PERSPECTIVAS PARA O CUIDADO EM SAÚDE
Pôster Eletrônico
1 CLAVES/ENSP/FIOCRUZ e PUC-Rio
2 CLAVES/ENSP/FIOCRUZ
Apresentação/Introdução
O seguinte relato tem como tema os deslocamentos forçados de mulheres em função de desastres climático-ambientais em seus territórios de origem, tendo como ponto de partida o caso do Rio Grande do Sul/Brasil em abril de 2024, para discutir os deslocamentos forçados pela destruição dos locais de moradia e iminente risco à vida, tomando criticamente a categoria desastres naturais.
Objetivos
Discutir o fenômeno dos deslocamentos forçados de mulheres no Brasil em função dos desastres/crimes climáticos, identificando vulnerabilidades a partir do aporte interseccional.
Metodologia
Estudo teórico a partir do acúmulo de pesquisas naa áreas de violência, Gênero e Migração das autoras, levantamento de documentos e reportagens sobre o desastre ambiental na cidade de Porto Alegre/RS e as perspectivas teóricas dos estudos interseccionais, a fim de identificar, ainda que brevemente, opressões e violências sofridas pelas mulheres em seus deslocamentos
Resultados
Impactos dos deslocamentos forçados sobre a vida e saúde de mulheres e suas famílias incluem a exposição a violências, fazendo refletir sobre as políticas de cuidado às mulheres em deslocamentos climáticos. São as periféricas e negras as mais atingidas por perda de moradia e redes de apoio, falta de alimentos e água potável, violações de direitos humanos à vida, habitação e educação, assim como a incidência de violência psicológica, física e sexual, interseccionadas ao sexismo, racismo e xenofobia, além de roubos, furtos e saques em lojas e residências. Nos desastres ambientais, há a intensificação do trabalho de cuidado, trazendo implicações para a saúde física e mental das mulheres.
Conclusões/Considerações
Gênero, raça/cor de pele e nacionalidade, entre outros marcadores sociais relevantes, adicionam vulnerabilidades às vivências das mulheres em trânsito em decorrência dos desastres climáticos. A análise pela perspectiva interseccional visando subsidiar a reflexão sobre as vulnerabilidades e opressões vividas por mulheres e a necessidade de produção de políticas de saúde para um cuidado sensível e culturalmente localizado.
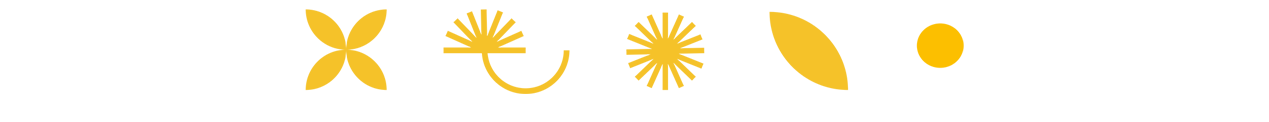
Realização:


Patrocínio:




Apoio:






